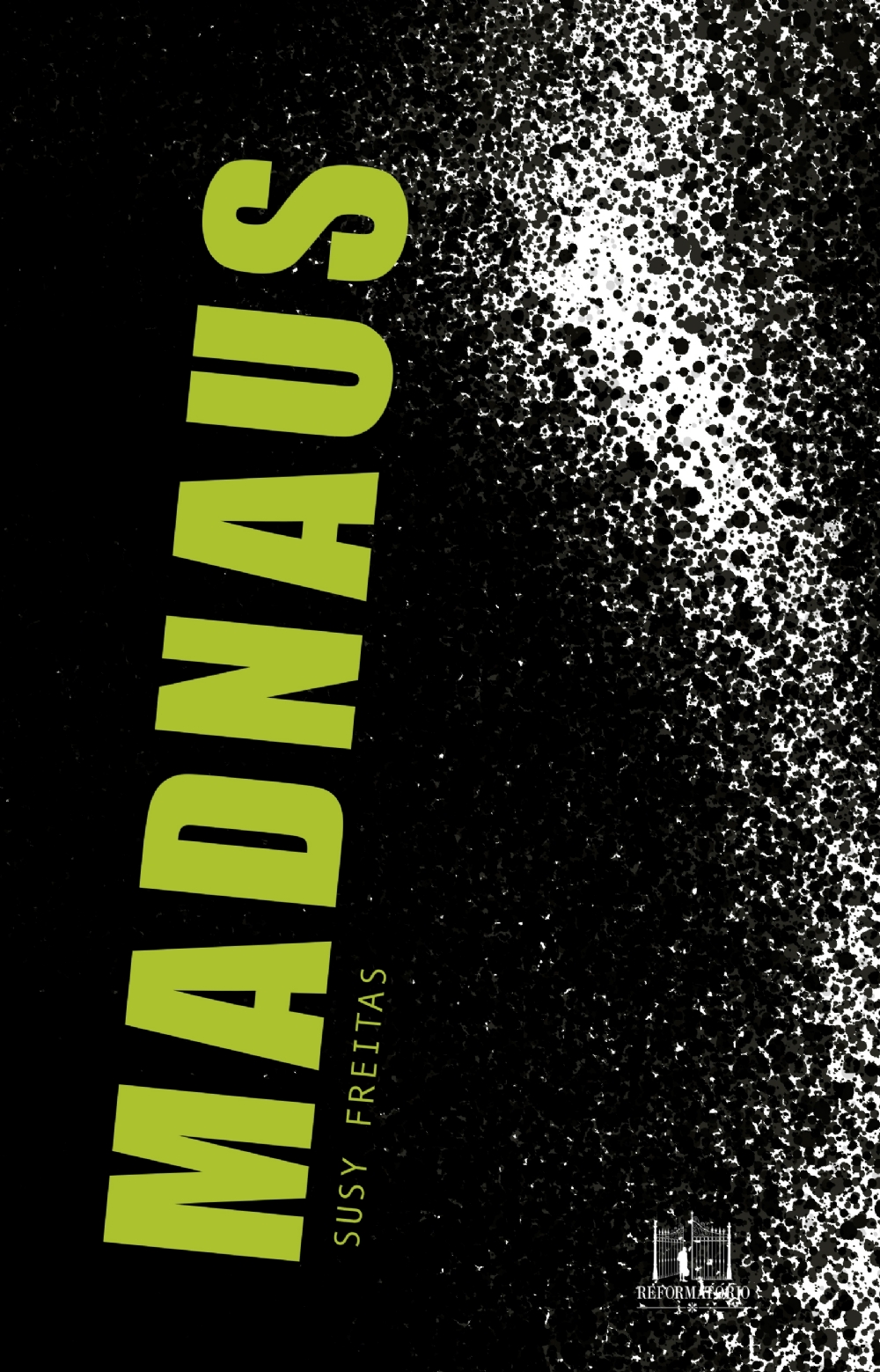ENTREVISTA | Susy Freitas 27/03/2024 - 13:24
It's a mad, mad, mad (naus) word
Estreando na prosa curta com Madnaus, a manauara Susy Freitas é aversa a textos puramente panfletários e adverte: “Não subestime escritores amazônidas”
Luiz Felipe Cunha
A Manaus proposta por Susy Freitas, em seu recente Madnaus, lançado em março pela editora Reformatório, foge dos estereótipos (rios, florestas, pobreza) e apresenta uma cidade caótica, pulsante e, por vezes, psicodélica. Em “White tears”, por exemplo, publicado primeiramente na edição 143 do Cândido e que abre o livro, temos uma dupla composta por uma mulher e um homem indígena que estão empenhados, como verdadeiros artistas, na produção de um lisérgico potente — e único — a mando do excêntrico Senhor K. Já no conto que dá nome à obra, duas senhoras sobrevivem em um cenário pós-apocalíptico, ao melhor estilo Mad Max, tentando manter viva uma pequena planta chamada Vó.
São narrativas alucinantes, com referências musicais e cinematográficas, costuradas com uma escrita envolvente ou, como diz Fausto Fawcett na orelha do livro: “uma escrita-grimório que lida com encantamentos e desencantamentos, sortilégios e feitiços de fetiches, mas não de uma forma caricatural, como anda em voga, explorando um xamanismo ancestral cheio de fundamentalismo identitário. Nada disso.”
Madnaus também marca a estreia de Susy na prosa. Antes disso, publicou os livros de poemas Véu Sem Voz (Bartlebee), Carrego Meus Furos Comigo (Urutau) e Alerta, Selvagem (Patuá), que venceu o Prêmio Literário Cidade de Manaus. Essa produção atesta a sua relação promíscua com a literatura, já que transita por gêneros como a poesia e a crítica de cinema, como disse na entrevista.
Como nasceu o livro Madnaus?
Desde 2017, eu vinha rascunhando, sem muito compromisso, alguns contos. O Daniel Amorim, um contista manauara muito bom, fazia leituras críticas deles e me incentivou a continuar. Posteriormente, na pandemia, essa produção se tornou regular devido a participação no laboratório de escrita do Ronaldo Bressane, que passou a ser online. Com o tempo fui identificando temas e padrões surgindo nessa escrita, de forma a apontar para a possibilidade do livro, que nasceu de fato durante esse processo de organização de originais. No geral, foi um livro muito menos planejado e muito mais instintivo do que parece.
O Amazonas, assim como outros estados do Brasil que fogem do eixo Rio-São Paulo, sofre com uma série de estereótipos: floresta, rios, chuva, indígenas, pobreza, etc. Alguns desses elementos estão presentes em seu livro, mas com novas camadas e outras propostas. O que pensa sobre isso?
É uma visão bem empobrecida e limitada essa que o mercado literário nos impôs por muito tempo, e que, ironicamente, reproduz uma lógica midiática também empobrecida e limitada, a partir da qual, basicamente, a pluralidade da Amazônia e das nossas vivências é negada, pois sim, somos floresta, rios e indígenas, mas estes elementos são muito mais ricos do que se supõe, e se mesclam com muitos outros, o que é bem explícito em um espaço de Amazônia urbana, como o que foco em Madnaus. Hoje, me pego refletindo bastante sobre quais Amazônias cabem nessa lógica de mercado (literário ou não), como esses preconceitos se remodelam, e qual o papel da literatura nisso. Até agora, tenho duas certezas: a primeira é que só publicar nortistas não é o suficiente; precisamos de revisores, editores, tradutores, críticos, pessoas dentro dessa cadeia nos mais diversos setores, do marketing ao gráfico, para talvez encontrar vias de mudança. A segunda certeza é: não subestime escritores amazônidas, porque tem bastante coisa boa sendo produzida por essas bandas.
No livro você agradece outro escritor, o Daniel Amorim, por te apresentar e, de certa forma, incentivar na escrita dos contos. Como isso aconteceu? O que pensava do gênero e o que te fez seguir por esse caminho?
Daniel é um leitor voraz de latino-americanos e um fantástico escritor de contos (que, como vários escritores fantásticos, tem uma resistência a se autopromover — outro ingrato ofício que precisamos adicionar ao “currículo” para angariar leitores). A aproximação com ele começou com os bate-papos sobre livros, que deslocaram minha atenção aos poucos dos romances e do cinema (que eu consumia até mais que a poesia) para o conto. Daí para a vontade de escrever contos foi um pulo, posto que eu já teria um professor e leitor beta implacável. A coisa avançou um pouco também como brincadeira, uma vontade de ver ele “quebrar a cara”, sem ter problemas a apontar num texto meu, até eu perceber que a prosa me dava algo que a poesia parecia não conseguir mais abarcar. Talvez uma dureza específica, que encontrou encaixe com o que vem sendo viver no Brasil desde 2016.
Fale sobre a participação do Ronaldo Bressane no livro. Qual a importância das oficinas e do olhar dele para os seus contos?
Se Madnaus fosse uma criança, Ronaldo seria o padrinho que banca a festa de 15 anos. Ele incentivou, orientou e praticamente me obrigou a enviar os contos para a seleção da editora, enviava mensagens para eu cuidar dos detalhes da capa, surgiu do nada me falando que Fausto Fawcett havia feito a linda orelha do livro… Até hoje fico chocada com sua generosidade para com o livro, mas principalmente pela postura aliada que ele teve com a minha escrita e com os temas e vivências próprios daqui “de cima”, quando poderia facilmente moldar essa escrita para se adaptar ao que os “daí de baixo” consideram ideal. Ele e os colegas de oficina foram tanto adoráveis quanto brutais nas leituras da maioria dos contos deste livro, amplificando o que o Daniel fazia anos antes, e que hoje vejo como essencial para o desenvolvimento da minha escrita. Neste sentido, quem tem a sorte de ter seus textos lidos, comentados, elogiados ou trucidados por leitores tão bons, não tem o que reclamar de oficina literária. E quem está atrás de elogios vazios para textos rasos, bem, dizem que também há oficinas para isso, só não a do Bressane.
Pode citar algum tipo de atividade proposta durante a oficina e que conto essa atividade gerou?
O conto “Bacchanalia”, por exemplo, foi escrito a partir da leitura e debate do “O homem-mulher”, de Sérgio Sant'Anna, e a atividade proposta era escrever tendo o carnaval como elemento central. Por vezes, o tema de um conto-base gerava a atividade, e outras vezes seria a estrutura desse conto, a quantidade de cenas ou a predominância do diálogo, por exemplo. As propostas são bem variadas.
Uma coisa que me intriga é como um autor(a) chega ao título de um livro. O que o conto “Madnaus” carrega de tão significativo para você nomear toda a obra?
O conto “Madnaus” originalmente chamava “A cidade de Hellnaus”, o que lembrou a Bellhell de Edyr Augusto, embora não tenha sido proposital. Por conta disso, Bressane sugeriu mudar, o que me levou a cunhar esse “Madnaus” como uma corruptela de Madchester, termo usado para descrever a cena de rock alternativo de Manchester na virada dos anos 1980 e 1990. Sua atmosfera caótica, inspirada pela psicodelia, e o fato de Manchester ter, dentro desse contexto, uma imagem de cidade mais underground, me deu a impressão de curioso encaixe com a forma como eu vinha retratando Manaus nos contos que escrevia. Foi aí que percebi que poderia ter um livro com uma espinha dorsal clara, e que ele seria uma declaração de amor e ódio à cidade onde nasci, onde vivo. De onde mal posso esperar para escapar e, quando escapo, mal posso esperar para voltar.
Uma das características dos seus contos é o uso de trechos de músicas, como nos contos “White tears”, “Nick, a stripper”, “Os homens já não te protegem mais”, “Dead city”, entre outros. O que acha dessa intersecção da música e literatura? O que esse recurso tem a oferecer na narrativa?
A música para mim é um dispositivo de transe, mas também de colagem e remixagem, muito central para minha prosa. Estou sempre me controlando para não ser central demais, de tão presente. É comum eu ouvir uma música repetidas vezes, do momento em que sento para escrever até o momento em que a primeira versão do conto é concluída. Foi o que aconteceu na escrita de “White tears”, por exemplo, em que ouvi bastante Corinne Marchand. Com “Dead city”, foi o contrário: comecei a escrever me baseando num poema que fiz anos antes, cujos versos também são rabiscados pela personagem. Depois parei e procurei uma música de Patti Smith que me colocasse naquela viagem de ônibus de fato. Já “Nick, a stripper” é basicamente um conto escrito em cima do roteiro do videoclipe da canção de mesmo nome, do Nick Cave & the Bad Seeds. E no caso de “Os homens já não te protegem mais”, a canção da Divine foi minha liga temática para unir o grunge e o queer.
Você escreve ouvindo música? Acha que elas, de certa forma, ditam o ritmo dos contos?
Não tanto o ritmo, mas a atmosfera. Não por acaso cultivei uma playlist do Madnaus no Spotify por um bom tempo, com as músicas que fizeram parte do processo e algumas mencionadas no livro. Se cito o rio, por exemplo, é impossível para mim não associar a alguma canção de tecnobrega ou guitarrada, que foi a trilha sonora dos passeios de barco nos anos 1990. Já em contos que citam violência, ouvia bastante Lydia Lunch — cuja escrita também me inspira bastante. Enfim, a playlist ficou um pouco esquizofrênica.
Antes desse livro de contos, eu a conhecia pelos livros de poesia. Hoje você se considera poeta ou contista? O que te atrai mais em um do que no outro? Fale um pouco como você enxerga esses dois formatos.
Escrever me supre de todas as formas: paga minhas contas num trabalho que nada tem a ver com literatura; e me diverte e ocupa nesse grande terceiro turno não remunerado que é a literatura. Fora dela, ainda passei anos escrevendo como crítica de cinema (inclusive, já participei de uma edição do Cândido como crítica, falando sobre Kubrick). Por isso me sinto confortável em dizer: sou escritora, e uma muito promíscua, que apenas desloca o interesse momentaneamente de um formato para o outro. Eles têm sido para mim um espaço de trânsito, uma estruturação que busco compreender para melhor expressar algo dentro das suas possibilidades, não um fim em si mesmo. Posto isso, é óbvio que o deslocamento da poesia para a prosa, ainda que para o desprezado conto, é visto como a “evolução” de um escritor — uma visão bem besta, mas enfim.
Alguns contos como o já citado “Nick, a stripper” e “Feita mulher” falam sobre a violência contra a mulher, mas de um jeito que a história é mais interessante do que o tema em si. Você me parece ser uma escritora que se preocupa com isso: sobre a narrativa ser mais instigante do que a denúncia. O que pensa sobre essas questões?
Acredito que contar bem uma história pode sim ser uma ferramenta de denúncia. Afinal, gerar impacto com a abordagem do tema, trazer verossimilhança ou imergir o leitor no universo retratado apelam diretamente ao emocional, esse terreno fértil de construção moral e ideológica do indivíduo. Vide aí uma poesia como a de uma Eileen Mylesnou ou uma Adelaide Ivánova, claramente panfletárias e extremamente ricas, para provar que se pode ter o melhor dos dois mundos. O que me entedia são os textos puramente panfletários que se travestem de literatura, pois a má qualidade literária acaba esvaziando as pautas que tratam. A mim interessa escrever uma boa história, e eventualmente isso quer dizer denunciar situações sociais absurdas.
E como é o seu processo de escrita?
Muito se fala sobre a escrita como técnica e prática. Embora eu tenha conhecimento e apreço a essa perspectiva, para mim ela tem, também, um viés mágico: muitos contos do livro foram escritos em sonho e depois transpostos e retrabalhados ao acordar; em aulas do laboratório de escrita, enredos surgiam em questão de segundos após apresentada a proposta de produção textual. Gosto de escrever tudo “dentro da cabeça” antes de escrever no papel, com todos os detalhes, viradas e atmosfera bem definidas quando o texto chega no papel. Também adoro escrever sob pressão, com prazos curtos. A máxima popularizada por David Lynch, segundo a qual as ideias estão apenas vagando no ar, esperando serem fisgadas, é real para mim, pois muitos contos eu não tenho a mínima ideia de onde vieram, apenas apareceram e eu precisei escrevê-los.
Qual foi o conto mais difícil de ter escrito, aquele em que você mais bateu cabeça para finalizar, e qual o motivo da dificuldade?
Nenhum foi difícil de ser escrito, mas o conto-título foi difícil de ser lido em voz alta a primeira vez. Não consegui finalizar essa leitura. Ele foi produzido para o laboratório de escrita pouco tempo depois da segunda onda da Covid-19, quando ocorreu a crise de oxigênio em Manaus e quando perdi minha avó para a doença de maneira brutal, e eu definitivamente não tinha processado o que vi nos hospitais, nos corres de oxigênio madrugada adentro e em casa. Talvez por isso esse conto tenha pinceladas distópicas e sci-fi; elas pareciam ter mais sentido que a realidade.
Fale um pouco mais sobre o conto “Madnaus” — ele me lembra aqueles filmes pós-apocalípticos, como Mad Max e Eu Sou a Lenda. Qual a inspiração do conto? O que pretendia fazer?
Acredito que ele veio de um lugar de muita raiva em mim, haja vista o luto e meu estado físico e mental debilitado na época, pós-segunda onda da Covid em Manaus. Naquela época, você sentia o cheiro da morte quando andava pela madrugada atrás de remédios ou oxigênio. Era muito palpável. Nos hospitais, pior ainda. Passei meses tendo pesadelos com eles. Era uma precariedade absoluta. Ao mesmo tempo, quando a coisa arrefeceu um pouco, era preciso colocar todo o trauma de lado, senão seria impossível fazer qualquer outra coisa além de revivê-lo, já que parecia impossível processá-lo. O conto nasceu aí, dessa impossibilidade, misturando elementos absurdos do que eu testemunhava e vivia: as lembranças do cuidado das mulheres durante a pandemia, o negacionismo encabeçado pelos homens (apaixonados que são pela misoginia da extrema-direita que comandava o país e que até hoje inspira a política em Manaus), o desejo de vingança pelos que se foram, lembranças desconexas de programas de tevê dos anos 1990 como Xena, a Princesa Guerreira ou o sangue fake dos Contos da Cripta, as flores do jardim da minha avó… não foi algo que eu planejei escrever, foi como deu pra fazer. E também não foi nada terapêutico.