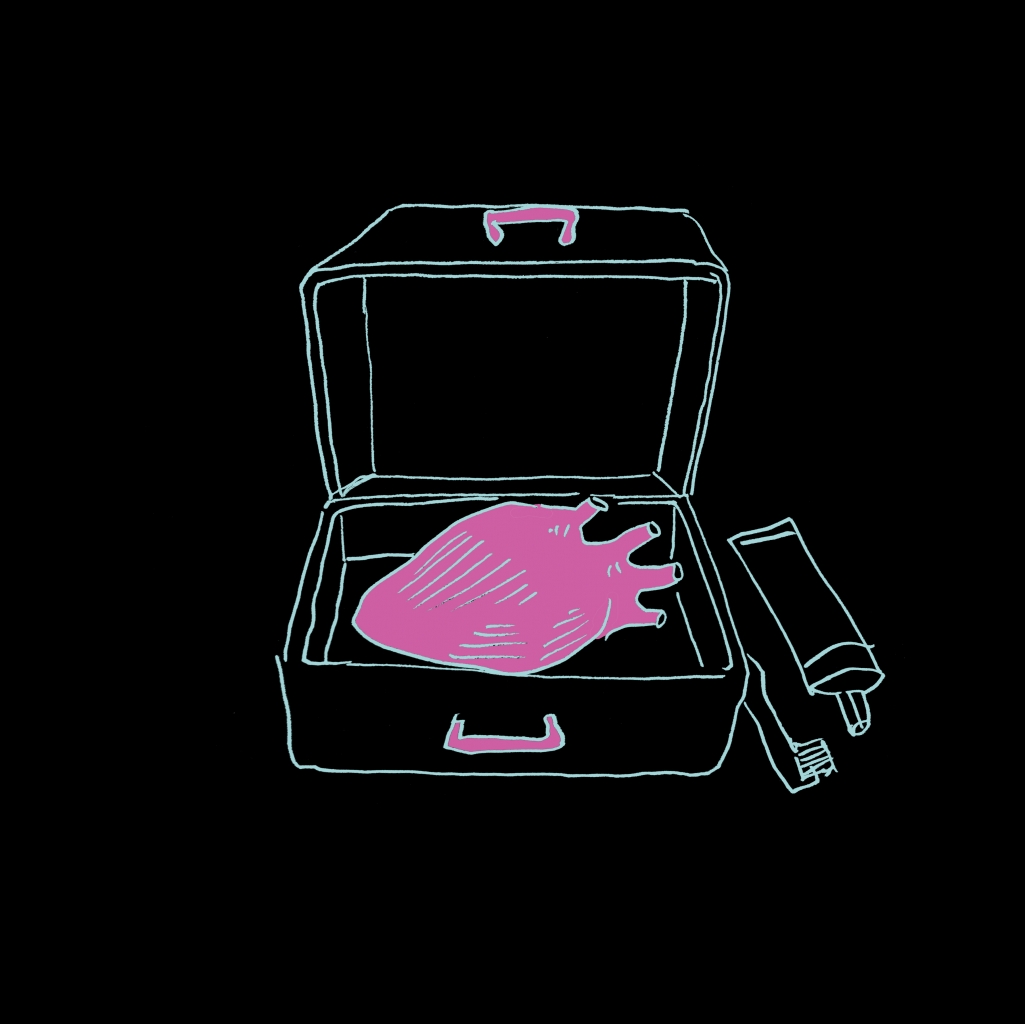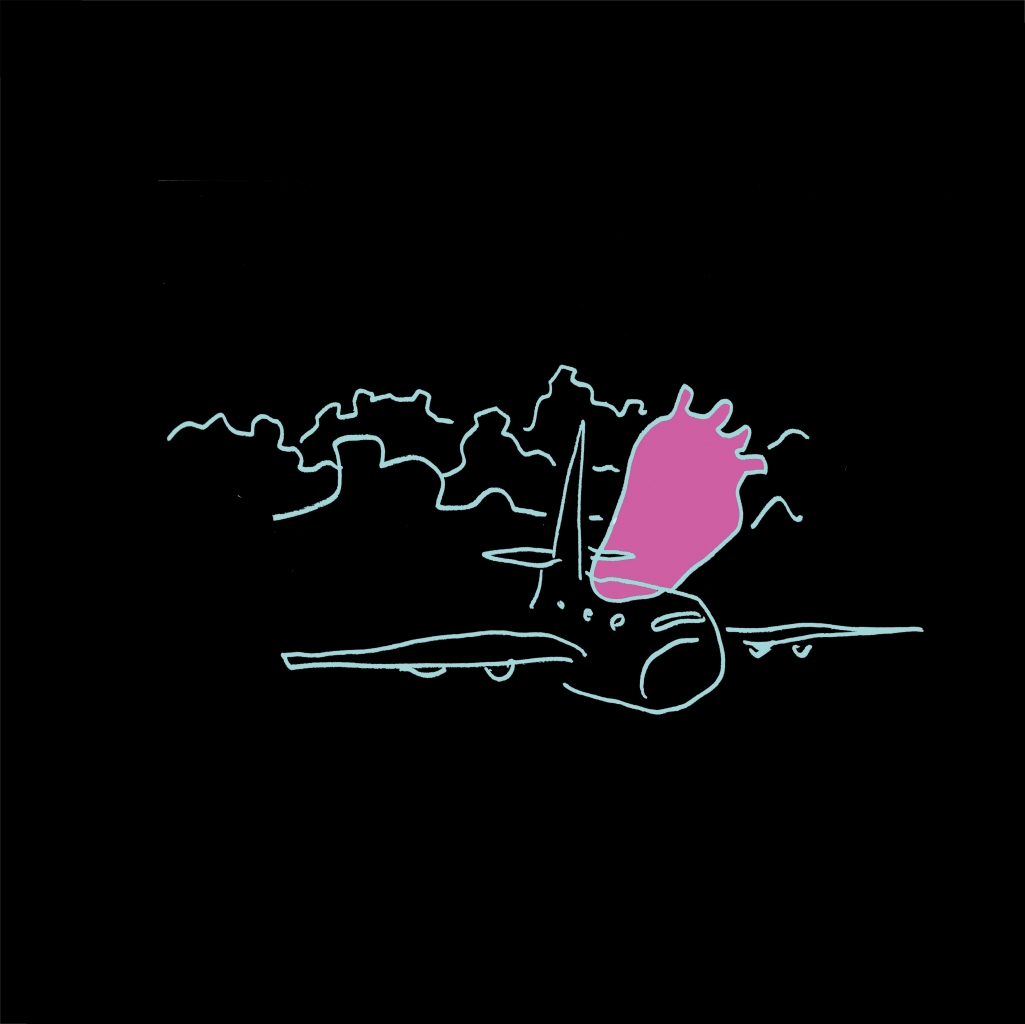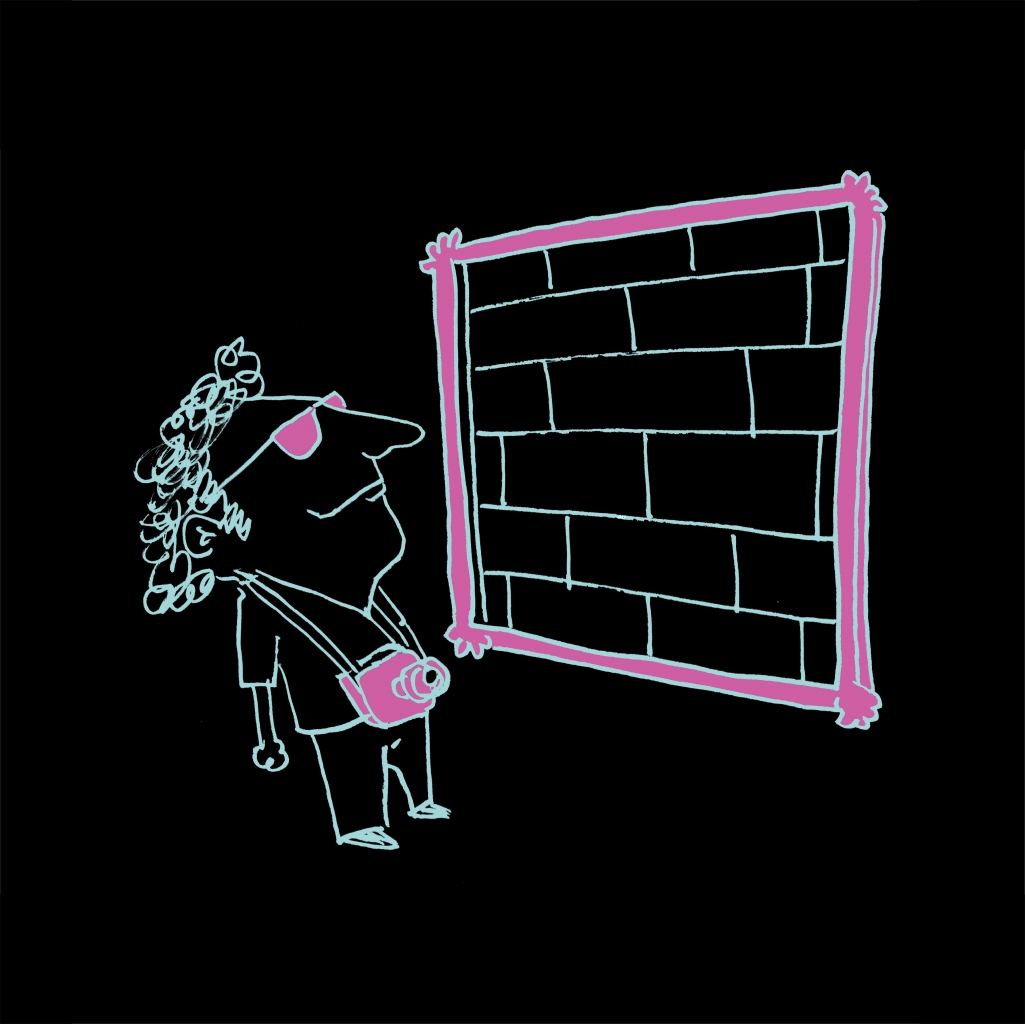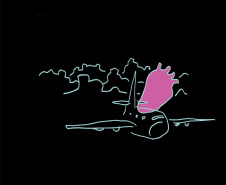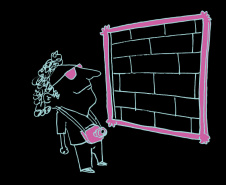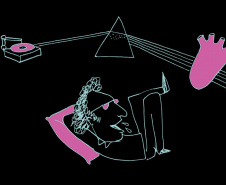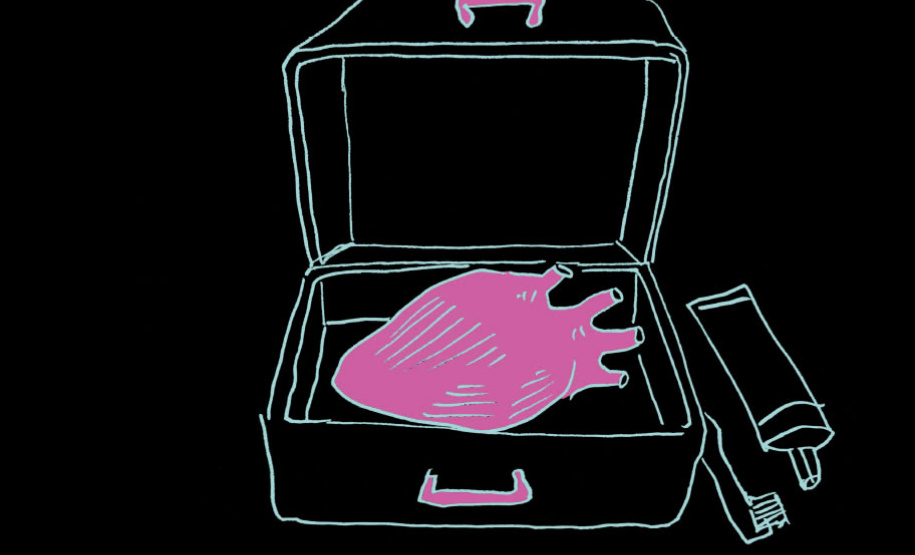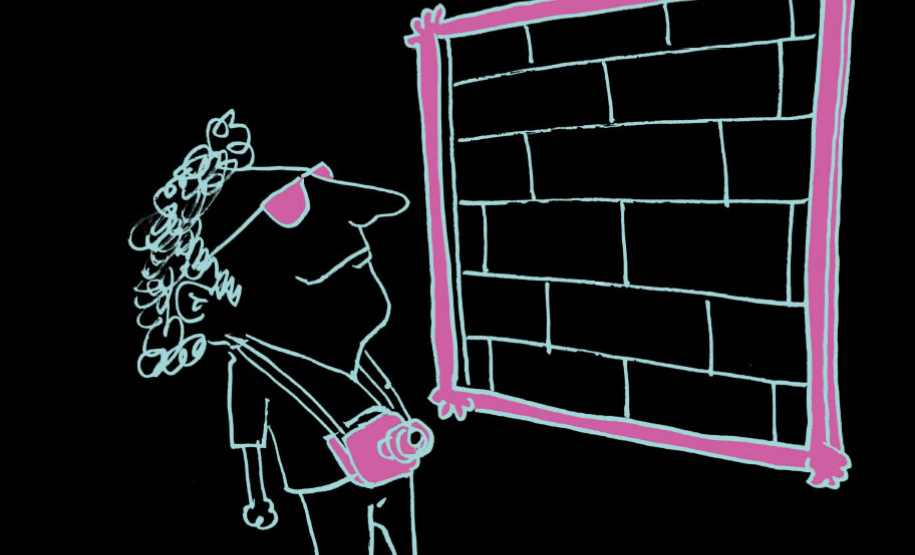Ser pop ou ser clássico 18/09/2017 - 09:00
O relato de uma viagem musical pela Inglaterra — com direito a um tour pela cidade dos Beatles, show de John Cale, exposição dos 50 anos do Pink Floyd e reflexões sobre o estado da cultura neste início de século
Alexandre Matias
A primeira sensação de que a viagem havia começado ocorreu já no avião. Cinto afivelado, mas poltrona reclinada, à espera do aviso final para dar início ao voo. Durante todo o dia, determinei meu foco ao doloroso ritual de fechar as malas, checar os documentos, encarar o trânsito, para só aí começar o ritual burocrático de um voo internacional. Desliguei-me completamente do mundo exterior para focar em uma viagem que tinha um quê de expurgo pessoal e autoconhecimento, uma trip solitária rumo a ícones que definiram meus parâmetros culturais e comportamentais e a cidades onde não conhecia ninguém. E com a incumbência deste texto — sobre como a cultura pop tornou-se clássica (ou, ainda, sobre a nostalgia e como ela alimenta a própria noção de cultura que conhecemos) — na cabeça. No meu horizonte, Beatles, Pink Floyd e Velvet Underground desciam do Olimpo pop da minha adolescência para se materializar pessoalmente nas paradas dessa jornada.
A ida para Liverpool não foi planejada — um ímpeto tão súbito quanto o anúncio do show de John Cale na cidade dos Beatles. Quando percebi, havia feito a compra de um par de ingressos sem nem saber se iria sozinho ou com mais alguém. A conjunção de um show de John Cale revisitando um dos registros mais clássicos de sua discografia na cidade que fez John, Paul, George e Ringo saírem correndo dali para ganhar o mundo reunia duas lembranças da adolescência que ajudaram a moldar minha noção de mim.
Os Beatles apareceram nos lugares mais improváveis: em uma revista da editora Três comprada em uma banca de jornal em Cuiabá, durante uma viagem que fazia com a banda marcial em que tocava na escola; o Sgt. Pepper’s descoberto na vitrine de uma loja de discos em um shopping de Goiânia; o Let it be comprado em uma loja de discos minúscula em Fortaleza; a vizinha da minha tia que tinha todos os filmes em laserdisc e os copiou para mim em VHS; o relançamento de toda a discografia em CD; uma série de revistas-pôster sobre o grupo que visitava diferentes fases da banda; o primeiro CD duplo que vi na vida (do Álbum branco); o primeiro livro que li em inglês, The love you make, do Peter Brown, que John Lennon citava nominalmente em sua “The ballad of John & Yoko”. E qual a surpresa ao descobrir que cada verso, cada frase melódica, cada arranjo revolucionário já havia ecoado no meu inconsciente em inúmeras versões mequetrefes feitas por artistas brasileiros: “Get back” era “De leve”, de Gil e Lulu, “Seguindo no Trem Azul”, do Roupa Nova, citava “Strawberry fields forever”; “Demais”, da Verônica Sabino, era uma versão horrorosa para “Yes it is”.
Mas os Beatles eram gregários, populares, música para as massas, todos gostavam, até das músicas mais difíceis. Já o Velvet Underground era outra questão, assunto para se tratar por baixo dos panos, principalmente naqueles tempos em que a censura ainda pairava sobre nós. Músicas sobre surubas de marinheiros com travestis, sadomasoquismo, heroína e anfetamina, que nada tinham de pop — ao menos não no sentido Beatles de pop, de multidão. Meus primeiros contatos com o Velvet foram sempre à boca pequena: o pai de um amigo que tinha a coletânea póstuma V.U. largada entre discos de blues elétricos e rock progressivo, um professor de história dono do terceiro disco e do Loaded em fita cassete, a irmã de um amigo meu que gravou o primeiro álbum em uma fita junto com o show que Lou Reed, Cale e Nico fizeram no Bataclan parisiense em 1972; o relançamento da discografia em CDs e os lançamentos de New York e Songs for Drella, o primeiro só de Lou Reed e o outro de Reed e Cale, que traziam a banda (ligeiramente) à tona, até a volta da banda em si, com sua formação original, já nos anos 90.
O tempo me mostrou que vivi o exato momento em que isso tudo se tornou clássico, nos anos 80. A redescoberta e consagração dos Beatles, do Velvet Underground e de tantos outros ícones da década de 60 foram facilitadas pela substituição do LP pelo CD. Um golpe e tanto que a indústria fonográfica deu em seus ouvintes, obrigando todos a voltar a comprar discos que já tinham por um preço mais caro porque, teoricamente, “soava melhor que o vinil”. Golpe porque justificava o aumento do preço por uma subjetiva melhoria técnica, mas não anunciava que os custos (de armazenamento e transporte, por exemplo) diminuíam consideravelmente. Uma artimanha em que todos caíram porque tínhamos pressa do futuro e nosso conceito Jetsons ainda vigente naquele período fazia um facho de raio laser substituir uma agulha quase medieval com a sutileza de uma vinheta do Hans Donner. Mas foi graças a esse truque que a geração dos anos 60 foi vítima de um revival que alimentamos até hoje, meio século depois.
A colisão de um show de John Cale com a cidade dos Beatles atiçou meu consumismo impulsivo num momento de guarda emocional baixa. Comprei os ingressos sem saber nem como iria. Blefei. O show que Cale fez em Paris em 2016, também convidando artistas novos para reinterpretar o disco clássico, não me fez mexer um músculo para a compra — e eu amo Paris. Fosse em Londres e Nova York, talvez não tivesse me entusiasmado da mesma forma. Mas a possibilidade de usar um show sobre o Velvet Underground para visitar a cidade dos Beatles foi determinante.
Como foi determinante esticar a visita depois que eu descobri que cinco dias após o show de John Cale começariam as comemorações do cinquentenário do disco Sgt. Pepper’s lonely hearts club band na cidade. Mesmo que os Beatles não morassem mais em Liverpool quando compuseram o clássico álbum, lançado no mesmo ano que o primeiro do Velvet, a sensação de estar na cidade em que a banda nasceu na semana em que o disco foi ouvido pela primeira vez me dava uma desculpa para esticar mais tempo no lugar e conhecê-lo sem correr.
E já que eu iria para o norte da Inglaterra, o que mais poderia fazer? Cogitei Manchester — a Manchester símbolo do capitalismo industrial, que inspirou Marx e Engels a escrever O manifesto comunista; a Manchester que viu os Sex Pistols tocarem para alguns gatos pingados que anos depois mudariam a cara da música inglesa (e do mundo), fundando o Joy Division, o Fall e os Smiths; a Manchester em que o New Order formatou a música eletrônica para as pistas de dança da Europa; a Manchester que havia sido recém-vítima de um atentado no meio de um show de música pop. A menos de 100 quilômetros de Liverpool, era um destino possível.
E já que passava por Londres, resolvi ver como estava a fila da exposição que o museu Victoria and Albert havia projetado para comemorar os 50 anos do Pink Floyd. O mesmo museu havia celebrado David Bowie anos antes e havia afiado sua expertise pop para receber toda a pompa do cinquentenário de outro grupo dos anos 60 tornado clássico 20 anos depois. Havia uma vaga no início do domingo que eu havia programado para partir de Londres, então assim encerrara meu planejamento de viagem.
Refazia esse programa mental diversas vezes pelo percurso, sempre desviando minha própria atenção para refazer outro percurso — o das carreiras das pessoas que moldaram o caminho da minha viagem. Desconhecidos que saíram de suas pequenas cidades britânicas para conquistar o mundo em escala industrial e percorrer diferentes caminhos após o sucesso. Em comum, tirando os mortos, todos continuavam trabalhando sem parar. Será que era isso que tornava o pop clássico? A constância na publicação de suas próprias obras, a negação em se aposentar, a forma como transformaram seus gostos pessoais em fontes de renda. De todos os envolvidos, poucos haviam morrido (dois Pink Floyd e dois Beatles), e não há dúvida de que, não fosse a morte, continuariam produzindo, gravando e publicando — com maior ou menor frequência, mas constante. Até Syd Barrett, trágico Ícaro psicodélico que sacrificou a sanidade mental para eternizar o grupo que havia criado (o Pink Floyd), seguiu pintando seus quadros em casa, mesmo décadas após abandonar os holofotes que o haviam engolido no final dos anos 60.
Uma cidade idosa
Chego a uma Inglaterra com bandeiras a meio pau pelo gigantesco Heathrow, desloco-me rumo à estação Euston, encontro o hotel do lado da estação ferroviária londrino e, na manhã seguinte, emendo o trem em direção ao norte. Chego em Liverpool na estação Lime cuja rua que a batiza fora imortalizada na última canção do último disco dos Beatles — “Maggie Mae”, que encerra o lado B do póstumo Let it be.
Liverpool é uma cidade idosa, mas não velha. Fundada no século XVI, é uma jovem se comparada à Londres contemporânea do Império Romano. Mas o lugar que ainda é sede de um dos principais portos do mundo e foi responsável pela movimentação de 40% das cargas que circulavam pelo planeta no auge do Império Britânico tem uma população anciã. Sim, há jovens e crianças, mas eles são esparsos frente à multidão de adultos e idosos que se espalham pelas ruas fechadas para o trânsito de carros do centro comercial da cidade.
Não é muito diferente do show do John Cale. Única atração da sexta-feira do festival Sound City, que nos dias seguintes traria nomes mais modernos — os grupos Metronomy, Kooks, !!!, White Lies e Kills, além de artistas minúsculos e semidesconhecidos com Aristophanes, Psyence, Oya Paya, Yota, Deja Vega, Empathy Test, Bang Bang Rome —, o fundador do Velvet Underground inevitavelmente atraía pessoas que flutuavam ao redor de sua faixa etária. Principalmente um público entre 40 e 60 anos (meu grupo etário, diga-se de passagem). Poucas pessoas com cara 30 anos, pouquíssimas com cara de 20 e as que tinham cara de adolescente estavam acompanhadas dos pais. Todos (inclusive eu) trajavam camisetas de banda, calçavam tênis, usavam óculos escuros e calças jeans. Muitos com barba, muitos com cabelos brancos. Poucas saias e vestidos entre as mulheres. Uma constatação estranha ao perceber que o antes ubíquo ritual de ver bandas ao vivo estava aos poucos se desintegrando, ao mesmo tempo em que mais de uma geração chegava a sua terceira ou quarta década consecutiva de shows de rock assistidos.
Ao centro de tudo, John Cale, o homem que nunca olhou para trás, regendo um disco de 50 anos ao lado de pessoas que nem eram nascidas quando ele já estava envolvido com a primeira e a segunda geração de artistas que inspirou. Dividindo o palco com Cale estavam nomes que nasceram entre os anos 70 e 80 (Kills, Clinic, Wild Beasts, Nadine Shah, Fat White Family e Gruff Rhys, dos Super Furry Animals), época em que ele já havia inclusive ultrapassado a fase de negação do disco de 1967 a ponto de, pouco a pouco, reatar laços com Lou Reed, o outro fundador do Velvet Underground, com quem rompeu no ano seguinte após a estreia fonográfica do grupo. Cale e Reed se reaproximariam definitivamente após a morte do padrinho Andy Warhol (compondo e excursionando com o mítico álbum Songs for Drella) e finalmente ressuscitando o Velvet com a formação original para excursionar ao vivo durante os anos 90, a antítese do que os dois fundadores haviam cogitado ao criar o grupo.
Mas o show de reverência ao clássico disco da banana não era um parque de diversões para a meia-idade, trazendo ipsis litteris o disco abordado, como é o padrão dos shows tributo a discos desta década (outro filho bastardo desta ascensão do pop ao clássico). Não seguiu a ordem apresentada originalmente, teve três músicas do disco seguinte do Velvet (White light/white heat, em que a presença de Cale é bem mais dominante) e não optou por versões próximas das originais, recriando cada uma delas ao gosto do artista convidado. Vestido num terno dividido em duas metades horizontais — um lado preto e outro todo listrado —, Cale dividia-se também entre teclados e a célebre viola e quase não interagia com os outros músicos, solene em direção ao instrumento que manuseava. O público reagia apaixonado — tinha consciência de que estava diante de um deus do rock, e saber que ele estava disposto a revisitar uma obra tão importante já dava a sensação de jogo ganho. O atordoante final do bis, em que todos os convidados subiram no palco para uma versão de quase meia hora de “Sister Ray”, uma música sobre uma orgia entre travestis e marinheiros, venceu alguns pelo cansaço (são apenas dois acordes repetidos sobre um texto arbitrariamente repetitivo), mas a imensa maioria não arredou o pé até as luzes se acenderem sobre o público. Sorridente, mesmo com o ar de cansaço que a idade entregava, a audiência deixou uma das antigas docas Clarence, ao lado do Rio Mersey, feliz por ter se reencontrado com um dos pais do mundo em que vivemos hoje.
Esse tipo de espetáculo com lendas vivas de outras épocas transcende o motivo original do show de rock. Estes, anteriormente, eram convites ao inesperado: a gritaria da beatlemania, a animosidade de Bob Dylan, o teatro total dos Doors, as performances do Velvet Underground, a destruição do Who, a violência dos Stooges, o improviso intenso de Jimi Hendrix, o espetáculo-total do Pink Floyd, a grandiloquência do Genesis, o caos das aparições dos Sex Pistols, os inusitados shows dos Talking Heads, a agressividade dos Ramones, a teatralidade do Iron Maiden, a surra dos primeiros anos do Metallica, a catarse promovida por Bruce Springsteen, a babaquice confessa dos Guns N' Roses, o incômodo do Nirvana. Cada artista, não importava o tamanho, confrontava seu público com shows que fugiam de uma cartilha pré-estabelecida. Shows não eram discos — eram momentos em que o disco ganhava vida, três (ou quatro) dimensões, emoções, carne e osso. As músicas não eram tocadas exatamente como no estúdio e tinham espaço para o improviso, para sorte e o azar, para o improvável, para a desordem. Mas à medida em que o pop foi se estabelecendo como clássico, isso foi mudando.
Principalmente a partir dos anos 90, quando todas as bandas que haviam acabado na história da música pop voltaram à atividade para faturar um trocado e melhorar sua aposentadoria. Dos Beatles aos Sex Pistols, do Velvet Underground aos Stooges, dos Pixies aos Doors — quase todo grupo que encerrou suas atividades antes de 1990 voltou a existir a partir deste ano. As únicas exceções que sobreviveram à onda de ressurreições foram o Clash (cuja volta tornou-se impossível após a morte de Joe Strummer), os Smiths e o Hüsker Dü (que volta e meia protagonizam boatos).
Este novo movimento — que depois aprimorou-se com os shows em homenagem a discos, em que os grupos tocam seus clássicos na íntegra exatamente como soavam no estúdio —, imortalizou a geração que existiu entre 1956 e 1991 como clássica, fechando um ciclo que começava com Elvis Presley e terminava no Nirvana. Trinta e cinco anos da história do rock que, a partir da última década do século passado, começaria a se dividir em milhares de subcaminhos que ainda se misturavam com os filhotes da disco music (todo o hip hop e todas as divisões da música eletrônica), a ascensão do mercado independente mundial (surgido, principalmente, a partir da consolidação das chamadas grandes gravadoras — quando os selos de discos começaram a comprar uns aos outros e dominar o mercado a partir de seis corporações fonográficas) e outras experimentações sonoras que ainda desafiam denominações ou gêneros.
John Cale em seu show caminha exatamente neste limite — entre o imprevisível e o estudado, entre o inusitado e o esperado — e seu terno bipolar parece sinalizar essa dicotomia. Ele, um artista de vanguarda clássico, está recriando um trabalho de vanguarda dentro de um contexto pop — meio século depois. É clara a consciência da contradição — mas a contradição também faz parte disso. Se seu público original era adulto e estranhava tudo o que ele fazia no meio dos anos 60, o atual é ainda mais velho e aplaude qualquer pigarro. Isso não o impede de reinventar seus próprios clássicos, especialmente nas versões ao lado da banda de rock eletrônico Clinic (“European son” e “Run run run”), do conterrâneo galês Gruff Rhys (“Black angel’s death song” e “Lady Godiva’s operation”) e dos reverentes Kills (“I’m waiting for the man” e “White light white heat”). Os Wild Beasts (que tocaram “I’ll be your mirror” e “All tomorrow’s parties”) fizeram apenas o trivial enquanto o vocalista do Fat White Family botou quase tudo a perder em “All tomorrow’s parties” e “Heroin”, como, num rumo oposto, também fez a insossa Nadine Shah, em “Femme fatale”. Cale, impassível, deixava rolar — mesmo se estivesse bom ou ruim.
Cale era o oposto de Liverpool, que pouco a pouco está se tornando um monumento aos Beatles. O culto à beatlemania na cidade, no entanto, é recente. Vistos originalmente apenas como uns garotos locais que foram longe demais, os Beatles começaram a ser reconhecidos como patrimônio cultural do lugar a partir dos anos 80 (no período que coincide com o relançamento da discografia do grupo em CD, quando eles oficializam que sua obra deve ser vista a partir dos lançamentos britânicos, pouco antes dos três remanescentes se reunirem no projeto Anthology, na década seguinte). Tanto é que o Cavern Club, berço do grupo ao vivo na cidade, foi demolido sem nenhuma parcimônia apenas para ser reconstruído novamente no mesmo lugar (e com os tijolos que sobraram da demolição inicial), depois que a cidade percebeu a cagada que havia feito.
A importância dos Beatles para o pop é talvez a principal força que o transformou em clássico. E, ano a ano, a lenda da banda que saiu do fim de mundo da Inglaterra para conquistar o planeta ganha ares de mito — uma carreira tão perfeita que não apenas inaugurou parte do universo em que habitamos (shows em estádios, estúdio como instrumento musical, fenômeno cultural global, o conceito perene de rock, a ideia de amadurecimento em público, o flerte com o erudito — o pop moderno foi esculpido pelos quatro) como criou marcos geográficos no decorrer desta viagem. Da zona do meretrício em Hamburgo, na Alemanha, à faixa de pedestres em frente ao estúdio em que gravavam, passando por palcos célebres em todo o mundo (Royal Albert Hall, Madison Square Garden, Hollywood Bowl, Budokan) e pelas ruas da moda e os bairros do subúrbio da capital britânica. Mas em nenhum lugar esta presença é tão marcante, claro, como em Liverpool.
Contudo, parece pairar uma aura cética em relação aos próprios filhos da cidade, que já era uma das mais conhecidas do mundo muito antes de os Beatles nascerem. As atrações voltadas para os fãs-turistas são completamente sem graça — mas a situação já foi pior (vide a demolição do Cavern). O museu à margem do Rio Mersey retém raridades originais da época em que o grupo era apenas os Quarrymen de John Lennon e Paul McCartney, ou os Silver Beatles com a entrada de George Harrison. Entre instrumentos musicais, utensílios domésticos, fotos e gravações da época, o Beatles Story peca no momento em que a banda sai da cidade para conquistar o mundo. Se antes haviam itens que claramente indicavam a importância da banda e sua relação com a cidade, depois que o grupo sai de Liverpool estes são substituídos por réplicas (umas interessantes, outras toscas) que transformam a segunda metade do museu em um parque de diversões fuleiro. Você fica ao lado da capa do Sgt. Pepper’s, visita o Submarino Amarelo por dentro, entra numa reprodução do teto em que fizeram seu último show. Mas é tudo meio sem graça e completamente artificial. O fato da exposição terminar com a reprodução da sala da casa de John Lennon, onde ele gravou o clipe de “Imagine” — toda branca, com seu piano de cauda branco —, sob a legenda com a poética irônica típica de Yoko Ono de que “Isso não é aqui” (“This is not here”), causava um ar de estranheza que não era esperado de uma exposição sobre o grupo.
E isso antes de entrar na loja de souvenirs do museu, que você espera ser um templo de consumo sobre os quatro e resume-se a uma loja de souvenirs tradicional, com camisetas, canecas, capachos, ímãs de geladeira e bottons, bonecos, cadernos. Tudo trivial. A mesma sensação se repetiria em tantas outras lojinhas sobre o grupo espalhadas pela cidade. Tudo básico, sem imaginação. Poderia ser uma loja sobre os Beatles em Londres, em Nova York ou em São Paulo que teríamos os mesmos itens. O pop clássico torna-se facilmente obsoleto.
Se Liverpool tem um inevitável débito histórico com os Beatles, a cidade só surge em parcos momentos da discografia do grupo, em alguns deles anônima, sem a menor referência local, como na primeira frase de “Yellow submarine” ou em toda “In my life”. No entanto, os únicos lugares mencionados pelos Beatles em suas canções (além da já citada rua Lime, que batiza a estação de trem) não têm o menor apelo turístico, e se transformaram em pontos de visita pela simples menção nas letras. E não são quaisquer letras. O compacto que trazia as faixas “Strawberry fields forever” e “Penny Lane” era o início da viagem à infância que John Lennon e Paul McCartney se dispuseram a fazer para começar a gravar seu primeiro disco que não precisaria ser tocado ao vivo, pois o grupo havia largado os palcos. Ao começar a rascunhar Sgt. Pepper’s lonely hearts club band, a principal dupla de compositores do século passado voltou às raízes para descrever, em pequenas sinfonias de bolso, locais que ajudaram a moldar suas próprias personalidades. Lennon escreveu sobre o abrigo para órfãos do exército da salvação da cidade, Strawberry Field (sem o s), e McCartney cantou sobre a rotina da cidade ao redor de um terminal de ônibus na alameda Penny.
Fisicamente, são dois lugares completamente sem graça, mas que ganham força pela história que criaram. Lennon e McCartney apresentam ao mundo dois lugares que tinham importância pessoal: Lennon saía da escola mais cedo para brincar com outras crianças no orfanato, e McCartney sempre trocava de ônibus naquele terminal ao ir para a escola, observando o funcionamento da cidade. As duas canções também resumiriam o apelo de cada um dos compositores — John, emotivo e dramático, convidava para descer rumo aos campos de morango onde “nada é real”; McCartney, pragmático e corriqueiro, falava de personagens do cotidiano, como o barbeiro que tem fotos de todas as cabeças que conheceu e o banqueiro que nunca usa capa na chuva.
A visita às casas onde cada um dos Beatles passou sua infância também é outro passeio revelador. Paul McCartney, que posa de aristocrata, vindo de uma família liberal, nasceu em uma casinha geminada pequena, embora tivesse um pequeno gramado à frente. John Lennon, criado por sua tia Mimi, cultivava a fama de bad boy, mas era o beatle que melhor morava, em uma pequena mansão de dois andares com quintal, jardim de entrada e até nome, Mendips. George Harrison morava em uma minúscula casa de vila de operários, cujo banheiro ficava no quintal, imóvel semelhante ao que Ringo Starr cresceu. O complexo de casas onde Ringo vivia ainda tem o agravante de estar à iminência da demolição, para a construção de condomínios e shopping centers. Como acontece em todo o mundo.
O lugar de maior impacto, no entanto, era o mais solene. Não apenas por ser uma igreja que tinha o seu próprio cemitério (em que uma de suas lápides prestava homenagem a uma certa Eleanor Rigby), mas porque em algum lugar de seu quintal, no dia 6 de julho de 1957, Paul McCartney avistou uma banda de skiffle tocando num pequeno palco no meio de uma quermesse e foi se apresentar a quem ele achou que fosse o líder da banda, John Lennon, pedindo para mostrar que sabia tocar “Twenty flight rock”. Este ficou impressionado, principalmente levando em conta que era uma época em que as músicas só podiam ser ouvidas no rádio (e aquele tipo específico de música só se ouvia em uma emissora, a Rádio Luxemburgo), não havia como gravá-las (as fitas cassete só foram criadas décadas depois) e, como os dois moravam no subúrbio de Woolton, um dos mais proletários de Liverpool até então, possivelmente não tinham toca-discos em casa.
Em algum lugar daquele verde quintal, Paul McCartney impressionou John Lennon a ponto de se convidar para entrar na banda — e conseguir. A partir dali, a carreira dos Beatles começaria numa obsessão por farra e música que culminaria com o auge da banda nos palcos, ainda em Liverpool, depois de passar temporadas inteiras em Hamburgo tocando oito horas consecutivas durante dias a fio. Eram músicas de menos de dois minutos de duração, e eles experimentavam misturar tudo — soul, country, surf, música latina, twist, rockabilly, rhythm’n’blues, gospel. Foi naquele quintal que uma jornada pessoal começou a se transformar em um movimento cultural de novos contornos. Não era mais um grupo de artistas isolados, nem uma cena de autores reunida, mas um grupo de músicos que compunham, cantavam e tocavam tudo juntos. Um movimento cultural que transformou a história da cultura recente, estabelecendo medidas que até hoje são usadas como parâmetros para os novos tempos. O silêncio literalmente sepulcral do lugar ajudava a dar importância àquele ponto específico da cidade. Ali os Beatles haviam começado. Sem dúvida, o momento mais importante da viagem — sem souvenirs, sem glamour, sem réplicas.
Sem afeto com o passado
Nunca havia cogitado a possibilidade de assistir ao The Fall ao vivo, mas não por falta de vontade. A banda hoje é só uma desculpa para Mark E. Smith continuar fazendo a única coisa que sabe fazer — cantar em shows de rock — e não existe mais como entidade coletiva. É o grupo que estiver ao lado de Mark, disposto a tocar rock primitivo para ele balbuciar suas reclamações sobre tudo. Uma banda cuja importância histórica ajuda a cimentar a autoestima britânica após o punk rock e que tem um leque de hits considerável para um artista sem pretensões de gigantismo. Peixe pequeno até em sua fase áurea, o Fall nunca viria para o Brasil — também e nunca vi o nome do grupo nos festivais por onde eventualmente perambulei. A quantidade de discos deles que tenho em casa (para lá de uma dezena) entrega que não sou um ouvinte casual do Fall, mas devido às idiossincrasias típicas de seu vocalista, nunca imaginei vê-los ao vivo.
E em menos de 24 horas depois de saber que haveria um show do Fall há menos de 100 quilômetros de distância de onde estava, lá estava eu de frente para Mark, hoje quase uma caricatura do personagem que era nos anos 80 (e, basicamente, por conta da idade). Além da cara de elfo e postura de hooligan, ele ainda exibia dois calombos enormes no rosto e uma raiva no olhar que não parecia se dissolver nunca. Era o mesmo Mark E. Smith que estava no primeiro show dos Sex Pistols em Manchester (aquele que deu início à história da cena local dos Smiths, Joy Division, New Order, etc.) e havia gravado hinos pessoais da minha adolescência como “Mr. pharmacist”, “Rollin’ Danny”, “Hey! Luciani” e “Jerusalem”. Lá estava ele brigando com os músicos, usando dois microfones ao mesmo tempo, cortando as músicas no meio, aumentando os volumes dos amplificadores em pleno palco, tocando bateria com um microfone, jogando o outro no meio da plateia, saindo do palco duas vezes sem avisar. Não tocou nenhuma música que eu conhecesse (embora a letra de “Wrong place right time” — “I used to think I could do what I wanted to / Right time for me alone / Walk the streets of complete full homes” — piscasse como um neon na minha cabeça), mas foi outro grande momento da viagem. E me trouxe uma sensação bem mais próxima em termos de cidade do que senti em Liverpool.
Manchester é uma cidade viva. Há gente na rua de todas as idades, os bares estão cheios, as pessoas não parecem que saíram de casa apenas para ir ao trabalho ou fazer compras ou turismo, como em Liverpool. É um lugar sem o menor afeto com o próprio passado, embora as cicatrizes pudessem estar expostas. A casa de shows onde Dylan foi chamado de “Judas” ao começar a tocar com instrumentos elétricos hoje é um hotel de luxo. O Hacienda, clube fundado pelo New Order e que deu origem à cena eletrônica que culminou no segundo verão do amor, no final dos anos 80, agora é um estacionamento. A Factory, clássica gravadora da maioria dos artistas locais, é um prédio de escritórios. As fachadas ainda mantêm resquícios daquela outra época, mas a impressão é de uma cidade que caminha para a frente, sem olhar para trás — e era isso que a tornava viva. A cidade-símbolo da era de ouro do capitalismo industrial (cuja decadência trabalhista inspirou Marx e Engels a escrever O manifesto comunista ali mesmo) parecia bem mais jovem que Liverpool. E, mesmo tendo sido vítima de um atentado terrorista há poucos dias, parecia bem menos de luto que a cidade dos Beatles.
Uma rede social entregou minha localização e uma desconhecida leitora do meu site, o Trabalho Sujo, me questionou sobre o fato de eu não ir ao show do Aphex Twin em Londres. O senhor Richard D. James é um dos artistas mais sérios e ousados da virada do século. Usando uma série de pseudônimos — o mais conhecido deles sendo justamente Aphex Twin —, ele vem explorando horizontes sônicos a partir da música eletrônica, mas trabalhando entre o ambient e o noise, o sussurro e o ruído, sempre do ponto de vista dos sons sintéticos produzidos por máquinas. Um expressionista em áudio, James era um dos únicos artistas que havia lamentado perder ao não desviar a viagem para o festival catalão Primavera, que acontecia naquele mesmo fim de semana.
Nem me preocupei em saber em que outros lugares o produtor se apresentaria, mas ele estava de volta às apresentações ao vivo, que havia deixado de fazer há alguns anos. Se tivesse me preocupado, talvez conseguisse me programar para deixar Northampton mais cedo ainda. Teria descansado e encarado toda a programação do Field Day, o festival em que ele era a principal atração. Ao saber de chofre, fui quase na hora de sua apresentação. Estava com meu palato musical intacto, pronto para receber sua descarga de energia em forma de áudio. Ele se apresentaria na maior tenda daquele enorme evento de música eletrônica, que levava o nome de The Barn (“O Celeiro”) — e efetivamente estávamos em um celeiro. Um lugar enorme, com capacidade para 4, talvez 5 mil pessoas. E foi só ele começar sua apresentação, que durou exatamente duas horas, para aquelas milhares de cabeças serem abduzidas por um vórtex de energia que flertava com diferentes sotaques e sabores musicais (ragga, drum’n’bass, dubstep, techno, house, glitch) e muitas batidas por minuto. Era o antipop fugindo da possibilidade de ser clássico — tudo era muito rápido, fugaz e sorrateiro para ser lembrado. E o impacto visual de lasers e telões que distorciam os rostos do público filmado na hora, aliada ao bombardeio musical, causava uma sensação de choque e atordoo que dificilmente será superada neste ano.
Sensação amplificada pelo implacável. Foi sacar o celular do bolso depois de duas horas fritas para me deparar com parentes, amigos e conhecidos perguntando onde eu estava, se estava tudo bem comigo e se tinha visto o que estava acontecendo.
Não, eu não fazia a menor ideia de que uma van havia atropelado pessoas de propósito na Torre de Londres e que outas haviam sido esfaqueadas no mercado central ali perto. Nem eu e nem ninguém que estava na apresentação do Aphex Twin, transfixados pelo ruído sincopado. Todos sacando o celular e se inteirando das notícias, ao mesmo tempo em que lembravam estar em um festival de música — e que um evento desta natureza havia sido alvo de um ataque deste tipo semanas antes em Manchester. Fora a sensação nauseante de que talvez algo ainda esteja em curso, que não foram só aqueles dois incidentes. A atmosfera de terror foi ampliada quando a multidão que saía do festival descobriu que as principais linhas do metrô londrino haviam sido fechadas. Consulto o celular mais uma vez, depois de explicar para todos que perguntaram que eu estava bem (além de ter me marcado como “seguro” dentro da ferramenta de controle social chamada Facebook) e abro o mapa para saber quanto tempo levaria para voltar a pé para a região em que estou: três horas. Felizmente, a leitora que me alertou do show também me salvou do perrengue, ao indicar um ônibus que me deixaria em uma estação do metrô mais próxima do bairro em que estava.
Depois de voltar no segundo andar do ônibus vermelho, entreolhando pessoas que estavam claramente tensas, desci no metrô, andei tantas estações, desembarquei perto do hotel, avisei aos mais próximos que estava já no meu quarto e comecei a arrumar as malas. Era o último dia da viagem chegando.
No manhã seguinte, caminhando rumo ao Victoria and Albert Museum, um flashback repentino daqueles últimos nove dias reuniam informações que consolidavam uma constatação: a de que estamos saindo de uma era de certezas e entrando num caminho completamente novo, sem volta. Mas não era a falta de certeza a principal característica desta nova era — e sim a falta de referências, de contexto, de escopo. O escritor Alan Moore, que eu entrevistaria dias mais tarde, para outro trabalho, me disse que o momento em que vivemos é como o ponto de ebulição da água. Antes da água ferver, sabemos o que é a água: líquida, transparente, fluida, adaptável a qualquer recipiente. Depois do fervimento, também sabemos que o vapor é gasoso, flutua, serve para fazer outras coisas voarem, é quente. Mas entre a água e o vapor, quando as bolhas movem-se sem parar, que substância é essa? O que é água e o que é vapor? Há um meio termo? Não há: estamos em plena fervura, sem saber o que é água e o que é vapor.
Estamos indo rumo a um mundo em que não há distinção entre pop e clássico. Se levou meio século para que o modernismo chegasse às massas e outros cinquenta anos para que esse mesmo modernismo fosse obliterado pelo pós-modernismo, estamos às vésperas de viver em um mundo sem farol, uma vida sem horizontes, sem líderes ou nêmesis. Estamos aos poucos ignorando a repetição e a onipresença, fugindo para nichos em que não vão nos encontrar, seja na internet ou fora dela. A vontade de aceitação e de pertencimento a um grupo seguirão, mas elas se manifestarão de outras formas, não a partir da mera repetição ou assimilação de símbolos (em sua maioria visuais).
Foi com esta cabeça que entrei em Their mortal remains, a impressionante saga dos 50 anos de existência do Pink Floyd, organizada em um museu centenário que abrigava obras de milhares de anos de idade. Se comparado ao resto do acervo do museu, a trajetória da banda é tão relevante quanto a “Paradinha” da Anitta, mas ei-la exposta com toda a pompa de um acontecimento histórico.
E era. Cada um dos milhares de visitantes que ainda passam e passarão pela mostra (que inevitavelmente fará uma turnê pelo mundo) criou relações distintas com a história da banda, conhecendo-a em diferentes fases e encaixando suas várias etapas na própria biografia. O primeiro álbum do Pink Floyd eu escutei quando descobria disco a disco a obra dos Beatles, mas já havia assistido anos antes, aterrorizado e fascinado, ao filme The wall de Alan Parker, inspirado no disco duplo que a banda lançou no fim dos anos 70. Conheci The dark side of the moon em CD na casa de um tio (como o Atom heart mother), o Wish you were here me foi gravado em fita por um amigo, Meddle e Ummagumma eu descobri sozinho, o ao vivo em Pompeia consegui piratear na mítica Eko Vídeo, uma das primeiras videolocadoras de Brasília. Escrevi sobre a conexão do Dark side... com O mágico de Oz em um dos primeiros frilas que fiz para o Estadão, recebi o disco ao vivo Pulse antes de ele ser lançado para o grande público, assisti ao Roger Waters tocando o The wall ao vivo no Morumbi ao lado do meu irmão caçula.
E de repente estava tudo lá: o rascunho da capa do Dark side..., a bicicleta que Syd Barrett tinha aos 9 anos, os instrumentos de todas as fases, os infláveis do final dos anos 70, pôsteres, peças de roupa e até a bengala que os professores de Syd Barrett e Roger Waters usavam para punir fisicamente alunos desobedientes. Todos os visitantes olhando cada um daqueles objetos e trazendo-os para sua própria existência: os músicos pirando nos equipamentos, os fãs nos itens pessoais, gente de design admirando fotos e artes. Todos contextualizando a biografia de uma banda que havia encerrado a carreira oficialmente há pouco mais de um ano e trazendo aquelas referências para sua própria vivência.
Lembrei de um trecho que traduzi de um livro que o professor de arte inglês Rod Judkins escreveu para ser aplicado no dia a dia de empresas: “Você pode não perceber, mas tem uma história interessante para contar. Todos nós temos. Uma luta contra uma doença, tempos difíceis na família, pobreza ou um momento de revelação súbita. Se percebemos isso ou não, nossa vida é o nosso tema, e soltar nossas lembranças nos permite que nos surpreendamos e aprendamos mais sobre nossas personalidades e o que nos torna tão únicos. Tudo é autoexpressão: nós criamos nossas biografias em tudo que fazemos”.
Essa é a aceitação do século XXI. Ser pop ou ser clássico é um conceito de pertencimento coletivo que parte de uma motivação individual. Esse é o desafio que temos à frente.
Alexandre Matias é jornalista e criador do site Trabalho Sujo. Foi diretor da revista Galileu e editor do caderno Link (O Estado de S. Paulo), do site Trama Virtual e da Conrad Editora. Mantém um blog no portal UOL.