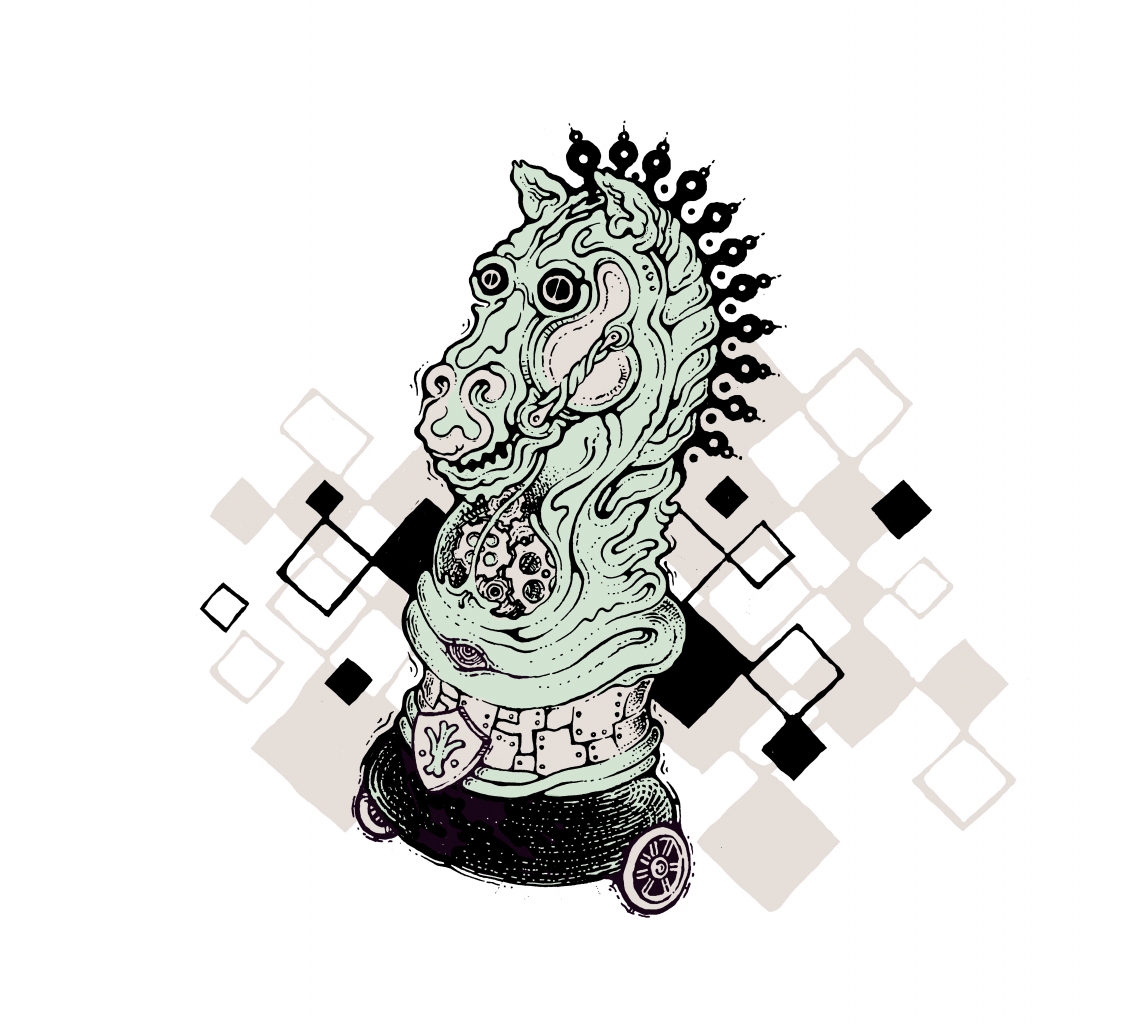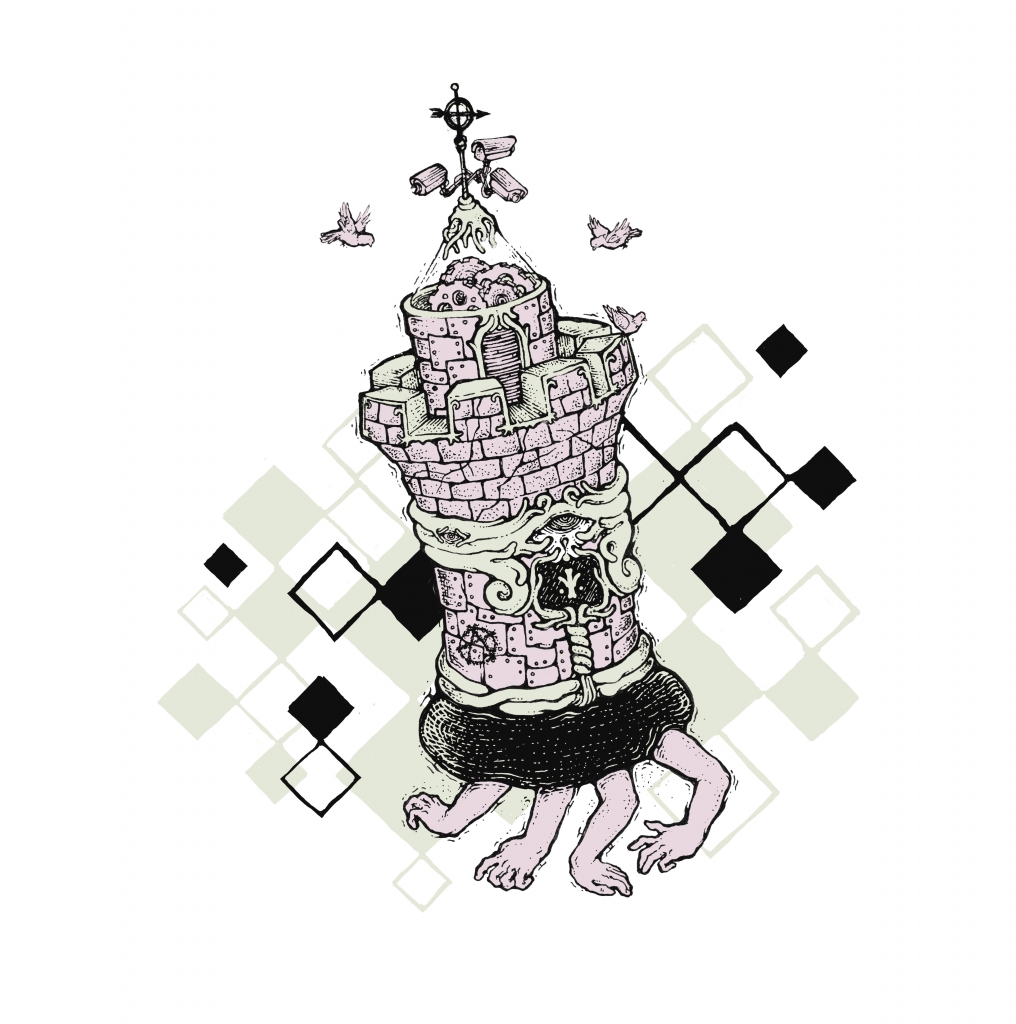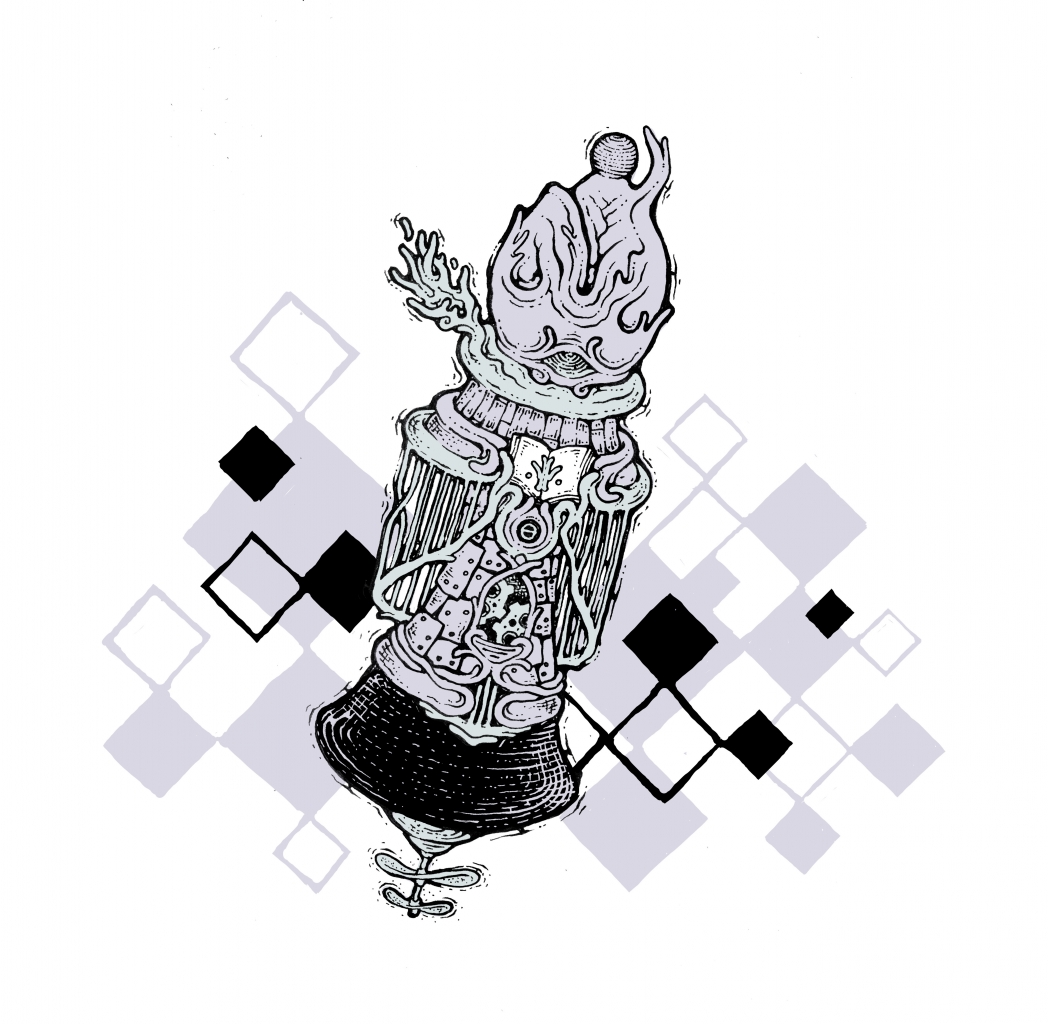São só algoritmos, certo? 06/07/2018 - 14:10
Inteligências artificiais já criam músicas, pinturas, filmes e textos. Mas essa produção pode ser chamada de arte?
Carlos Orsi
Em seu conto “Moxon’s Master”, de 1894, Ambrose Bierce descreve um autômato — um robô ou androide, no vocabulário atual — que, frustrado por perder uma partida de xadrez, mata seu criador. O narrador da história descreve o acesso de fúria do monstro mecânico com as seguintes palavras: “Uma convulsão leve, mas contínua, parecia apossar-se da coisa. O corpo e a cabeça tremiam como os de um homem com paralisia ou calafrios de febre, e o movimento aumentava a cada momento, até que toda a figura foi tomada por violenta agitação”.
Bierce, cujo desaparecimento, em dezembro de 1913, aos 71 anos de idade, ainda é um dos grandes mistérios da história literária dos Estados Unidos, criou seu pesadelo metálico partindo de uma premissa plausível em seu tempo: o de que o jogo de xadrez seria uma atividade intelectual tão sofisticada que uma máquina capaz de jogá-lo bem teria de possuir, por necessidade, todos os demais atributos da mente e da consciência humana — incluindo detalhes incômodos como a capacidade de enfurecer-se, e de matar.
O conto todo pode ser lido como uma parábola sobre a “excepcionalidade humana”, a premissa de que o que separa o ser humano dos demais seres — naturais ou artificiais — não é apenas uma questão de grau (somos mais inteligentes, mais hábeis, mais perceptivos), mas de essência: haveria algo especial em nós, um sopro divino ou um salto evolutivo, que nenhum outro ente material possui. Moxon, criador e vítima do autômato temperamental, tentava negar essa doutrina, e pagou por isso com a vida.
Mais de cem anos após a publicação original do conto, em 1997, a vitória do computador Deep Blue da IBM sobre o campeão mundial de xadrez Garry Kasparov fez soar um toque de alerta sobre as muralhas da excepcionalidade humana. Mas as tropas logo relaxaram, após receberam garantias de que a “inteligência artificial” de Deep Blue era apenas uma calculadora sofisticada — e de que, contra Bierce, não há nada de essencialmente humano no jogo de xadrez.
Esta, no entanto, é uma conclusão que poucas pessoas estarão dispostas a generalizar para outro campo em que as máquinas de inteligência artificial, algumas até mais sofisticadas do que o velho Deep Blue, vêm se imiscuindo já há décadas, mas com especial ênfase nos últimos anos: a criação de obras literárias, cinematográficas, pinturas e música. As artes.
Você não precisa ter um coração pulsando e sangue nas veias para bater o campeão mundial de xadrez, certo? Mas e para compor uma sonata, escrever um poema, pintar um quadro, criar um filme? Bem, já há máquinas fazendo tudo isso. Pode-se dizer que a maioria dessas produções não é muito boa, mas o mesmo também se aplica às criações humanas, afinal.
E o fato é que os computadores aprendem rápido. A Universidade Rutgers, nos Estados Unidos, mantém um Laboratório de Arte e Inteligência Artificial que escreveu um algoritmo, chamado AICAN, capaz de produzir telas originais de diversos estilos, e até de inventar estilos novos: o sistema inclui um sinal de “ambiguidade estilística” que, ativado, leva o algoritmo a “ousar”, violando deliberadamente as convenções implantadas em sua memória.
Quando, num teste, pediu-se a membros do público que adivinhassem se uma pintura de AICAN havia sido feita por um artista humano ou gerada por computador, a resposta foi “artista humano” 75% das vezes (em comparação, no mesmo teste, apenas 48% das obras expostas na feira de arte moderna internacional Art Basel de 2016 foram consideradas produto de mãos humanas).
Outro algoritmo, “Emily Howell”, há cerca de uma década vem criando música de câmara para piano e orquestra — e há quem se encante com suas composições. Há pouco tempo, em 2016, um roteiro de curta-metragem gerado por computador deu origem a um filme de ficção científica breve e simpático, ainda que um tanto quanto surrealista, Sunspring.
A questão real não é se inteligências artificiais são capazes de juntar sons, imagens, cores ou palavras de modo a encantar, surpreender, divertir ou emocionar seres humanos. Elas já fazem isso (ainda não muito bem, mas vêm melhorando a cada dia). A questão é se essas sequências de cores, palavras, etc., deveriam contar como obras de arte.
Trata-se de uma pergunta mais complexa do que parece: por exemplo, por que uma pilha de tijolos no meio do museu é “arte” — isto é, se foi um artista, e não um pedreiro, quem os deixou lá — e uma flor, pintada numa tela por um elefante tailandês, não?
A versão curta da resposta se resume a duas palavras: intenção e criatividade. O artista pretende criar a obra, deseja manifestar algo por meio dela, usa a imaginação para concebê-la. O elefante está apenas segurando o pincel com a tromba e executando alguns movimentos para os quais foi treinado: um biólogo britânico, após visitar os santuários na Tailândia onde essas obras são produzidas, afirmou que cada animal reproduz sempre exatamente a mesma figura, dia após dia: o caso é de memorização mecânica e condicionamento, sem espontaneidade.
Aí, então, está toda a diferença, e diante dela parece evidente que a “arte” produzida por inteligências artificiais não deve contar como arte. Afinal, são só algoritmos — certo?
Mais uma vez, as respostas podem não ser assim tão simples. A palavra “algoritmo” ganhou um tom sinistro em tempos recentes, depois que todos descobrimos que o malévolo “algoritmo do Facebook” é o culpado por chamar insistentemente nossa atenção para cada peça de fake news compartilhada por ex-colegas de escola que preferiríamos nunca ter reencontrado.
Mas algoritmos são, no fim, apenas cadeias lógicas de causa e consequência, “se isso, então aquilo”. As regras de somar, subtrair, multiplicar e dividir que aprendemos na escola são algoritmos: conte até aqui, se der mais que dez vai um, para dividir um número pequeno por um grande ponha um zero aqui e uma vírgula ali, etc. Parece difícil associar algo tão mecânico e comezinho — algo que até um elefante talvez possa ser treinado para fazer — a uma palavra tão nobre quanto “inteligência”, artificial ou não. E, por falar nisso, o que é “inteligência artificial”?
Estudiosos dividem as inteligências artificiais em dois grupos, “fraca” e “forte”. A “fraca” é aquela limitada a executar determinadas tarefas específicas, como conduzir um automóvel, jogar xadrez, escrever música ou pintar quadros. A “forte” seria capaz de fazer tudo isso de modo integrado, além de discutir filosofia e fritar ovos — seria uma recriação artificial da mente humana (ou a criação de uma mente alienígena). A inteligência artificial “forte” ainda não existe, talvez nem possa existir, mas é aquela que, segundo a ficção científica, um dia tentará escravizar-nos a todos.
O grande avanço da inteligência artificial “fraca” veio de um par de revelações. Primeiro, a de que não é preciso que um algoritmo sempre especifique, nos mais mínimos detalhes, todos os passos necessários para a realização de uma tarefa. Se você quer que um robô saia da sala sem esbarrar em nada, não é preciso dizer “avance 30 centímetros, vire à direita, avance mais 15, vire à esquerda...” e assim por diante. Basta equipá-lo com um radar e dizer, “reduza ao máximo sua distância em relação à porta; se, no caminho, você chegar a menos de um centímetro de algum objeto, desvie”.
Segundo, a de que o processo de aprendizado por tentativa e erro é, ele próprio, um algoritmo. Dado um critério qualquer de sucesso e uma lista de ações possíveis, pode-se dizer: “Tente A. O critério foi cumprido? Se sim, tudo bem. Se não, tente B, e lembre-se de não usar mais A pelas próximas ‘n’ rodadas”.
A própria evolução da vida por seleção natural pode ser descrita por um algoritmo desse tipo, com a diferença de que, em vez de haver uma lista de ações predeterminadas, é a opção original “A” que se transforma, sofrendo alterações aleatórias — mutações — antes do novo confronto com o critério de sucesso. Algoritmos evolutivos, que funcionam segundo esse princípio, já encontram ampla aplicação, por exemplo, na indústria do design.
Lições aprendidas
Dada a alta velocidade de processamento dos computadores modernos, imensas cadeias de tentativa-e-erro podem ser percorridas em segundos ou frações de segundo, gerando “lições aprendidas” capazes de surpreender até mesmo os seres humanos mais bem preparados.
Em 2016, um desses algoritmos programados para aprender com os próprios erros, treinado pelo Google e chamado de AlphaGo, derrotou um dos melhores jogadores de Go — um jogo de tabuleiro popular na Ásia, ainda mais complexo do que o xadrez — depois de realizar um movimento inusitado. O jornal The Washington Post descreveu assim a situação:
“O jogo havia começado há cerca de uma hora, e AlphaGo pôs uma de suas peças num ponto incomum do tabuleiro, o que surpreendeu o público (…) ficou claro que o movimento de AlphaGo não tinha sido um erro. Pode ter sido esquisito, mas foi também brilhante (...) o movimento abriu o debate sobre se as máquinas, cada vez mais poderosas, já conquistaram a criatividade”.
É um debate que acaba tocando a própria definição de criatividade, nosso segundo critério para definir a arte de verdade. O pintor virtual de Rutgers, AICAN, opera com dois “seletores” que se encontram em conflito constante: um, o de “arte ou não-arte”, compara a imagem gerada a um banco de pinturas separadas em diversos estilos (clássico, impressionista, etc). Se a imagem for parecida o suficiente com o que se encontra nessa memória, é “arte”, e este seletor a aprova. O segundo, já mencionado, é o de “ambiguidade estilística”, que mede a dificuldade que o sistema anterior teve em encaixar a obra em algum dos estilos pré-programados.
O quadro ideal, então, é “arte” pela opinião da parte conservadora do sistema, mas o segundo seletor garante que essa opinião seja a mais duvidosa possível, que venha apenas por um fio.
Assim, como um pintor humano, portanto, AICAN tem um repertório de referências, que informa sua produção, mas ao mesmo tempo tem o instinto — a necessidade, colocada ali pelos programadores — de mostrar-se original. E não seria o próprio conflito entre os dois seletores antagônicos um modelo matemático rudimentar das angústias que, supõe-se, tomam conta de todo artista humano? Por sua vez, a jogada brilhante de AlphaGo mostra que o aprendizado de máquina, mesmo que esteja alicerçado em algoritmos, é capaz de gerar soluções novas, surpreendentes.
Alguém poderia levantar aqui a objeção de que esses algoritmos não são realmente criativos, mas apenas simulam criatividade. Esta é uma questão que foi tratada, em outro contexto, pelo pai do pensamento moderno sobre computação, o matemático britânico Alan Turing. Ao propor seu famoso “Teste de Turing” para inteligências artificiais, o cientista argumentou que, se é impossível distinguir o produto de uma simulação do produto do processo real, a própria distinção entre simulado e real perde a razão de ser. Santo Tomás de Aquino já havia chegado a conclusão semelhante, ao discorrer sobre a licitude de um alquimista vir a vender o ouro que, eventualmente, viesse a produzir com sua pedra filosofal.
Se a inteligência artificial é capaz de ser criativa, no sentido de produzir algo como a “jogada brilhante” do AlphaGo, ou a “ambiguidade estilística” de AICAN, a limitação muitas vezes atribuída às obras criadas por algoritmos — de que estariam condenadas à repetição de fórmulas simples e previsíveis — perde seu caráter de interdição absoluta.
Mas essas coisas são arte? Uma vez eliminado o obstáculo da criatividade, resta o da intenção. Máquinas e algoritmos, é claro, não têm desejos ou anseios para além dos que lhes impomos. Um computador executa um algoritmo como um rio percorre seu leito: de modo automático e inconsciente. Sob esse aspecto, portanto, a arte produzida por algoritmos não é arte — ou, no máximo, é obra do programador (que, de algum modo, expressa-se por meio do algoritmo que cria), jamais da máquina.
Mas isso deixa a resposta à questão da excepcionalidade humana, levantada em “Moxon’s Master”, em terreno instável. Sim, arte, diferentemente do xadrez, requer coração e nervos, mas apenas porque nós definimos arte como algo que pressupõe intenções e (pelo menos até agora) só seres dotados de coração e nervos têm intenções. Esse resgate da singularidade humana, no entanto, vem ao preço de uma embaraçosa circularidade lógica.
O terreno torna-se mais movediço, ainda, se nos dermos ao trabalho de indagar sobre a consistência real de nossas intenções: no século XVIII, David Hume já chamava atenção para o fato de que é muito difícil, se não impossível, quando paramos para explorar nossas mentes e investigar nossos pensamentos e sensações, encontrar algo além de um fluxo contínuo de pensamentos e sensações — encontrar, enfim, “alguém”, um eixo imóvel, dentro de nossas cabeças, em torno do qual tudo mais revolve.
Some-se a isso a constatação de que a seleção natural, que nos produziu, é só mais um algoritmo; some-se ainda a surpreendente criatividade dos algoritmos, rudimentares, que construímos, e o enorme potencial que algoritmos mais sofisticados, e que cadeias e sistemas de algoritmos, ainda inimaginados, podem vir a ter, e uma certa possibilidade se apresenta.
E se, num paralelo muito real com o velho paradoxo da Terra plana apoiada sobre uma coluna infinita de tartarugas, dentro de nossas cabeças só houver algoritmos — “all the way down”?
Carlos Orsi é jornalista de ciência e escritor, autor das obras de divulgação científica Livro dos milagres, Pura picaretagem e Livro da astrologia, além de diversos trabalhos de ficção científica, terror e mistério. Também já assinou artigos sobre ciência e sociedade para os jornais Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, Zero Hora e Gazeta do Povo. Atualmente é coordenador de divulgação científica dos Planetários de São Paulo.