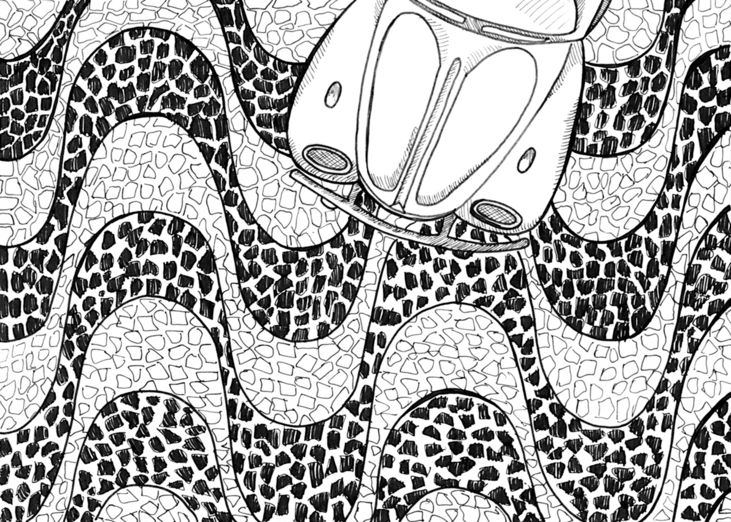Romance | Leandro Sarmatz
Vozes antigas
Não sabemos nada. É sempre tarde demais para entender alguma coisa, qualquer coisa. Pavimentamos com nossa ignorância a longa estrada entre nascimento e morte. Então um belo dia acordamos e temos a impressão de que nossa audição está mais apurada. Passamos a escutar vozes. Vozes que antes nos tinham sido vedadas. Ou quem sabe talvez porque jamais estivemos atentos à sua baixa frequência. Agora estão constantes. Não nos abandonam mais. Ocupam nossas cabeças com seu barulho intermitente. Desconhecem limites, vão conquistando novas posições a cada momento do dia, levam a cabo o nosso massacre do alvorecer ao crepúsculo. Aturdidos e nauseados, expostos sem dó à catástrofe, descobrimos então que há uma voz secreta debaixo de cada fala, e essa voz — que não chega a ser elíptica porque ela permanece quase sempre tão embaçada por uma série de lugares-comuns e ditos como “a vida é breve”, “vamos vencer essa”, “temos que viver o melhor de cada momento” —, então essa voz chamada secreta é na verdade uma força subterrânea que muitas vezes nos permanece inacessível até a nossa própria morte, porque aí já não importa muito mais a originalidade (não se tem notícia de que o silêncio de alguém seja melhor, ou mais bem desarticulado, que o de outrem), nem a chamada posição no mundo e outros penduricalhos morais que criamos para nós mesmos, essa armadilha nada sutil e bem pouco inteligente que perpetuamos em nossas vidas, quase sempre à falta de um sentido que julgamos maior, mais abrangente ou mais nobre. Um dia tudo isso vai espernear dentro da gente. A coisa toda não deve levar mais do que alguns poucos segundos. E aí nos é concedido voltar ao silêncio original.
Meu pai foi diagnosticado com câncer. Meu casamento, a minha assim chamada vida sentimental, está prestes a entrar em colapso. Acabei de completar 40 anos: tenho psoríase, aquilo que deve ser uma forma branda de Tourette e um filho de pouco mais de um ano, um menininho adorável e sapeca. Em breve será possível deslindar os laços entre esses acontecimentos. Quanto ao meu pai, a doença começou no esôfago, e dali se alastrou para outras porções de seu corpo octogenário. Está magro, a pele amarelada e com queimaduras da quimioterapia, sofre dores constantes mas de algum modo a doença liberou forças inauditas dentro dele. Há uma gota vivificante em cada palavra que meu pai emite. Ele tenta aguentar como pode. Ele é velha guarda. Estilo antigo. Nasceu em 1929, de pais recém-chegados de algum gueto do leste europeu, e só viria a casar no início de 1970, o que faz de mim (nascido na metade daquela década) um rebento meio esquizofrênico do século XX.
Convencionalmente eu deveria ter nascido umas duas décadas antes, de modo que não parece haver discussão de que meu ethos — aquilo que pode ser definido como minha visão de mundo, meus gostos pessoais e mesmo algo da minha prosódia — esteja bastante influenciado por essas vozes antigas. Amigos da mesma geração que a minha costumam ser diferentes. São filhos legítimos dos anos 1960, com pais que passaram pela contracultura ou que são residualmente hippies. Pais que, na versão convencional, escutam as harmonias dos Beatles ou, se um pouco mais arrojados, chegam até Led Zeppelin, o ganido estridente. Nunca pude dizer o mesmo. Minha canção de ninar não era “She loves you”, mas “O ébrio”, de Vicente Celestino, com seus “rrr” e “lll” à antiga. Quando falo, soo igualzinho a um discurso de Getúlio Vargas. Por isso é sempre uma operação estranha tentar ser filho do meu tempo. Sinto-me vazio, ou até um tipo de impostor, o sujeito mais velho que tenta ser aceito pela turma mais jovem.
Pertencer (ainda que “eticamente”) a uma ou duas gerações anteriores tem lá suas vantagens e desvantagens. Consigo enumerar meia-dúzia de cada lado. Na escola chamavam-me de O velho, no tempo de faculdade eu era O Tio. Agora aos 40, quando deveria haver algum tipo de sincronia entre meu estado mental — mnemônico, cultural — e a idade que alcancei... Bem, a primeira metade do século XX está longe demais no tempo e no espaço para que eu consiga me afastar deles. Sou um souvenir falsificado daquele período histórico.
Não estou seguro de que devo me perder em digressões ou, pior ainda, em autoexames potencialmente dolorosos. O certo é que os últimos acontecimentos deixam-me inclinado a tal comportamento. A paternidade é um deles. A doença do meu pai, outro. A vida é composta quase que inteiramente de algumas metáforas, umas vazias e outras poderosas. Ainda quero avaliar o quanto há de uma ou de outra quando tento compreender os dois fatos primordiais que têm absorvido meu tempo e minhas preocupações: o nascimento e a morte.
Ivan Ilitch gritou durante três dias seguidos. Meu pai esperneia esporadicamente, apenas interrompendo sua tenebrosa ária quando uma boa alma hospitalar lhe aplica morfina. Então é o bebê de volta ao regaço: tudo é paz. O médico disse que possivelmente há metástases no fígado e nos ossos da bacia. Nas últimas semanas o velho entrou e saiu do hospital uma meia-dúzia de vezes. Passo as tardes e um período da noite ao lado dele, puxando conversa e tentando revolver (na medida do tolerável) algo do passado. Quando a gente cresce e finalmente sai de casa percebe o quão pouco sabe daqueles que nos trouxeram a este mundo; quase nada, na verdade, umas bagatelas aqui e ali. Com frequência é o menos importante. Gostam de fumar, de assistir a programas escabrosos na TV, brigam durante os finais de semana, borram-se de medo de fazer exames de rotina. Nada muito além disso. Parecem naturalmente desprovidos de vida interior. Então vamos morar em outro bairro, em outra cidade, temos nossos casos amorosos, e tudo começa a se adensar: é o magma da vida em violenta convulsão. Quer dizer que eles viviam no mesmo tumulto em que me encontro? Desejos, frustrações, apaziguamentos, a fuga constante da morte por meio de muletas (químicas, emocionais, sexuais), tudo isso também os ocupou durante boa parte de suas vidas?
Meu pai foi diagnosticado com câncer. Meu casamento, a minha assim chamada vida sentimental, está prestes a entrar em colapso. Acabei de completar 40 anos: tenho psoríase, aquilo que deve ser uma forma branda de Tourette e um filho de pouco mais de um ano, um menininho adorável e sapeca. Em breve será possível deslindar os laços entre esses acontecimentos. Quanto ao meu pai, a doença começou no esôfago, e dali se alastrou para outras porções de seu corpo octogenário. Está magro, a pele amarelada e com queimaduras da quimioterapia, sofre dores constantes mas de algum modo a doença liberou forças inauditas dentro dele. Há uma gota vivificante em cada palavra que meu pai emite. Ele tenta aguentar como pode. Ele é velha guarda. Estilo antigo. Nasceu em 1929, de pais recém-chegados de algum gueto do leste europeu, e só viria a casar no início de 1970, o que faz de mim (nascido na metade daquela década) um rebento meio esquizofrênico do século XX.
Convencionalmente eu deveria ter nascido umas duas décadas antes, de modo que não parece haver discussão de que meu ethos — aquilo que pode ser definido como minha visão de mundo, meus gostos pessoais e mesmo algo da minha prosódia — esteja bastante influenciado por essas vozes antigas. Amigos da mesma geração que a minha costumam ser diferentes. São filhos legítimos dos anos 1960, com pais que passaram pela contracultura ou que são residualmente hippies. Pais que, na versão convencional, escutam as harmonias dos Beatles ou, se um pouco mais arrojados, chegam até Led Zeppelin, o ganido estridente. Nunca pude dizer o mesmo. Minha canção de ninar não era “She loves you”, mas “O ébrio”, de Vicente Celestino, com seus “rrr” e “lll” à antiga. Quando falo, soo igualzinho a um discurso de Getúlio Vargas. Por isso é sempre uma operação estranha tentar ser filho do meu tempo. Sinto-me vazio, ou até um tipo de impostor, o sujeito mais velho que tenta ser aceito pela turma mais jovem.
Não estou seguro de que devo me perder em digressões ou, pior ainda, em autoexames potencialmente dolorosos. O certo é que os últimos acontecimentos deixam-me inclinado a tal comportamento. A paternidade é um deles. A doença do meu pai, outro. A vida é composta quase que inteiramente de algumas metáforas, umas vazias e outras poderosas. Ainda quero avaliar o quanto há de uma ou de outra quando tento compreender os dois fatos primordiais que têm absorvido meu tempo e minhas preocupações: o nascimento e a morte.
Ilustração Bianca Franco
Ivan Ilitch gritou durante três dias seguidos. Meu pai esperneia esporadicamente, apenas interrompendo sua tenebrosa ária quando uma boa alma hospitalar lhe aplica morfina. Então é o bebê de volta ao regaço: tudo é paz. O médico disse que possivelmente há metástases no fígado e nos ossos da bacia. Nas últimas semanas o velho entrou e saiu do hospital uma meia-dúzia de vezes. Passo as tardes e um período da noite ao lado dele, puxando conversa e tentando revolver (na medida do tolerável) algo do passado. Quando a gente cresce e finalmente sai de casa percebe o quão pouco sabe daqueles que nos trouxeram a este mundo; quase nada, na verdade, umas bagatelas aqui e ali. Com frequência é o menos importante. Gostam de fumar, de assistir a programas escabrosos na TV, brigam durante os finais de semana, borram-se de medo de fazer exames de rotina. Nada muito além disso. Parecem naturalmente desprovidos de vida interior. Então vamos morar em outro bairro, em outra cidade, temos nossos casos amorosos, e tudo começa a se adensar: é o magma da vida em violenta convulsão. Quer dizer que eles viviam no mesmo tumulto em que me encontro? Desejos, frustrações, apaziguamentos, a fuga constante da morte por meio de muletas (químicas, emocionais, sexuais), tudo isso também os ocupou durante boa parte de suas vidas?
Quanto ao meu pai, o ideal era apenas ficar em casa, esperando que a morte tenha alguma delicadeza quando se aproximar dele, mas isso definitivamente não parece ser uma opção: minha mãe não permite que ele abandone o tratamento — que de resto é paliativo a essa altura da doença — e o condena ao hospital, primeira e última estação de quase todos nós, sejamos tolstonianos ou não.
Pode-se dizer que ele aproveitou a vida. Pelo menos entre a solteirice e o matrimônio convencional, de classe-média, há um ponto luminoso, prismático, feito de bebedeiras, carteado, festas e alguma putaria. Casou-se com minha mãe somente aos 40 anos, o que, pelo meus cálculos, e levando-se em conta que ele ingressou na vida adulta pouco depois dos 12 anos (me contou a aventura: ele é do tempo das polacas), o coroa se regalou durante quase três décadas. Não fora um jovem e um adulto dispensável. Magro, comprido, tudo nele era conspícuo: vastos cabelos ondulados, que logo ficariam grisalhos, o perfil aquilino — que poderia ilustrar um velho catálogo do Reich com a anatomia facial da chamada raça inferior —, a conversa fácil, toda construída em velho português da malandragem e um bocadinho de iídiche (que servia para evocar a infância), o gosto por carros assim que começou a fazer algum dinheiro no ramo de joias.
Divertia-se à beça naquele Brasil entre os anos 1950 e 1960. Ele e outro amigo pegavam o carro e iam quase que sem parar até o Rio de Janeiro. Tomavam umas bolinhas no caminho e assim reforçavam quimicamente a atenção para serpentear sem grandes incidentes até o destino. Se o Rio foi sua Jerusalém particular, o casamento representou a sua diáspora. Um exílio para todos aqueles seus desejos flutuantes de homme à femmes à moda antiga. Não pisou no balneário desde que saiu da sinagoga de braços dados com minha mãe. Ficaria quarenta anos sem passar pela orla de Copacabana, aquele cheiro tormentoso e promíscuo de água salgada, fumaça preta e suor.
Tinha um tio muito bem estabelecido na cidade, um velho que fez dinheiro de verdade no ramo de joias finas. As vitrines repletas de diamantes, safiras, esmeraldas e relógios suíços ainda podem ser vistas no Centro, em Copacabana e em Ipanema — assim como em endereços chiques de Nova York, Paris, Tel Aviv... Uma dinheirama sem tamanho, em parte construída na raça e também (é o que dizem; não boto a mão no fogo) com bolos grossos de marcos alemães apropriados de patrícios ainda na grande fuga da Europa. O pretexto era distribuir recursos para aqueles menos favorecidos. Bem, este é pelo menos o folclore. Meu pai, ao contrário do que se poderia esperar, nunca se aproximou muito do tio. Era orgulhoso e também na verdade mantinha algumas reservas em relação ao modo de vida do parente mais velho. Não admitia o racismo quase que institucionalizado na firma. Só muito recentemente, nas mãos de herdeiros mais arejados, as lojas passaram a contratar funcionários negros. Ao menos no Brasil mestiço isso nunca havia se tornado uma questão, uma dessas ironias um tanto macabras das quais continuamos pródigos em oferecer à audiência universal. Não foi assim em outros lugares, em que representantes locais da grife estiveram às voltas com sindicatos, forças políticas graúdas e a maior de todas as pressões: muitos consumidores abonados da marca começaram a se afastar, uma demonstração tácita contra esta forma de apartheid.
Meu velho, contudo, se “aproveitava” de algo da fortuna do tio: saía com suas balconistas, caixas e secretárias — tanto fizesse se solteiras ou comprometidas —, graças à lábia e à notoriedade como garanhão. Uma coisa puxava a outra. Não subestimemos o poder que isso devia ter naquele universo pré- -revolução sexual. Uma mocinha, ainda plena de contentamento, comentava com outra, que ficava inclinada a conhecer o sobrinho bon vivant do patrão, e assim toda uma cadeia de desejos era estabelecida na base de passeios de carro e intercursos sexuais em praias então distantes de Copacabana, que na época vinha a ser o centro de operações sentimentais do meu pai.
“Então você aprontava muito antes de casar com a minha mãe. Isso eu sei. Mas e depois: houve outras mulheres ao longo do percurso?”
“Em parte. Pelo menos no começo, quando eu ainda estava impregnado de solteirice, me encontrei com uma ou duas conhecidas. Minha vida pregressa. Eu tinha essa energia. Mas depois que você nasceu eu fui cansando do jogo — porque é um jogo —, comecei a ficar com medo de não conseguir encostar a cabeça no travesseiro à noite. Parei com tudo”
Pois bem.
Leandro Sarmatz nasceu em Porto Alegre e vive desde 2001 em São Paulo. Jornalista e mestre em Letras, é autor, entre outros, do livro de poemas Logocausto (2009) e da coletânea de contos Uma fome (2010). “Vozes antigas”, que o Cândido publica com exclusividade nesta edição, é o fragmento de um romance inédito do autor, atualmente, editor na Companhia das Letras.