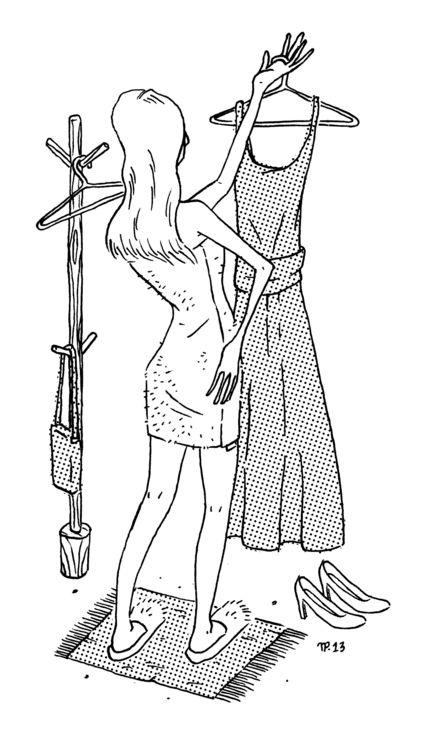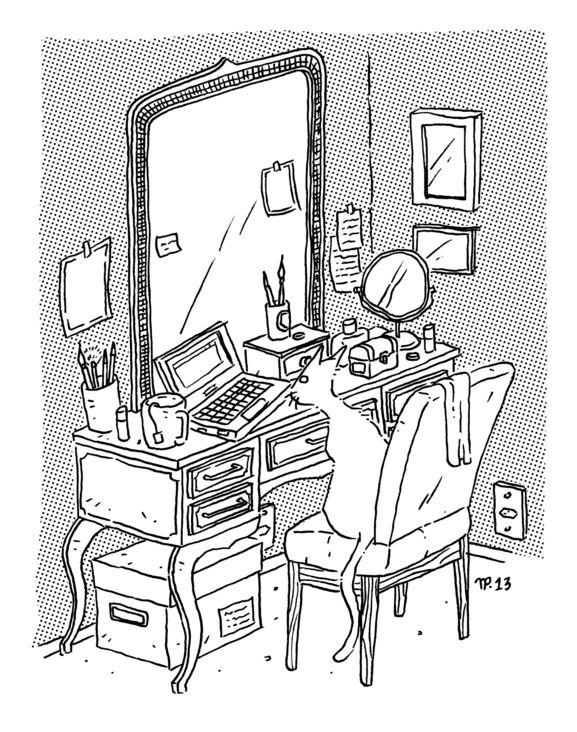Romance | Carlos Eduardo de Magalhães
Trova
1. todos
Ligeira é a brisa por entre as dobras da cidade que se espraia, um horizonte irregular de construções sob uma manta cinza escura que descolore e arde a parte baixa do céu e tinge de fuligem tudo aquilo que toca. Envelhecimento precoce de paredes, muros, peles, roupas, outdoors, grafites, venezianas, portas, telhas de barro que cobrem as casas que se espremem na metrópole. Brisa que varre a sujeira das ruas sem limpá-las, que derruba as folhas das árvores, uma a uma, até que restem apenas os desenhos dos galhos que parecem se contorcer. Garra invisível de ar que apanha e movimenta, motor externo de deslocamento de corpos inanimados, seres que não são. Contudo são fantasmas, histórias, o imaginário que se materializa no medo, de onde nasce a fé e a coragem. Brisa que não verga a velha palmeira, o prédio, o homem. Que vem de lugar algum e para lá retorna, sopro de um pulmão fraco do mundo. Brisa que permeia as vidas, de passagem e de modo definitivo, um cafuné, um arrepio, um alívio depois de horas de sol e ginástica. Que conduz o avião de papel feito de página arrancada e rasurada para uma viagem insegura de trombada certa, que apaga a vela, que entra pela fresta e espalha a cortina.
Checou o e-mail.
E levantou-se para fechar a janela que deixara aberta para que o vapor d’água se esvaísse sem que tivesse tempo de desfazer a escova de cabeleireiro. Um suspiro de vento ainda lambeu-lhe o rosto trazendo não apenas o resto de tudo aquilo em que o ar da cidade já havia tocado como também a lembrança da casa da sua avó, sem que ela entendesse bem o porquê. Apenas veio, tudo e um pouco mais, e ela demorou um momento. Reconstruir a penteadeira, afinal, podia ser reconstruir-se. Não foi um projeto, apenas aconteceu. Quando viu estava tirando medidas, encomendando ao marceneiro uma reforma, ao vidraceiro um espelho de cristal, comprando pastilhas de vidro, cola, revistas que ensinavam a fazer você mesmo.
O momento passou, ela sentou-se e olhou-se uma vez mais, nem parecia ela, ou parecia alguém que já fora ela e que o tempo foi gastando, gastando, gastando, e ainda que o espelho fosse novo e do melhor cristal importado, nenhum risco, nenhuma mancha, a borda feita por ela de mosaico, pastilhas de vidro que preencheram seus últimos finais de semana e seus dedos de pequenos cortes, dor que ela nem sentiu, e da primeira vez que se olhou, amassada, suor debaixo dos braços, cansaço nos olhos, achou que o quadro era de pouco valor para uma moldura tão bonita, e soltou aquele sorriso pouco dessas horas de derrota. Tinha feito ela própria.
A maquiagem devolvia-lhe no reluz do reflexo, agora sim, pintura que se apresente!, disse em voz alta, tentando apagar aquela outra que seus olhos ainda enxergavam, sem se preocupar que alguém a escutasse. Não havia ninguém. Passou os dedos pelos pingentes em colar que lhe enfeitavam o colo, comprou aquele dia, para aquele vestido cinza um número menor que ele trouxe de presente dos Estados Unidos fazia tantos anos e que finalmente a balança lhe permitia usar. Três quilos em três semanas, três meses sem engordar, corrida três vezes por semana, café sem açúcar, pão integral, macarrão sem molho, alface, chuchu, chuchu, chuchu. Ele não estava ali para vê-la, decerto diria que acertou na escolha, decerto diria quanto pagou, decerto convidaria alguns casais de mocorongos endinheirados para com eles irem a algum restaurante da moda e daria um jeito de falar da roupa, da loja em Nova York que eles precisavam conhecer, do último negócio que teria fechado em Brasília, e pagaria a conta com o bolo de dinheiro preso no elástico que sacaria do bolso. Àquela hora estaria em seu apartamento de cinco suítes, alugado, com vista para o Parque do Ibirapuera, vendo alguma dessas lutas de vale-tudo na televisão enquanto a mulher, uma ex-miss, fazia dormir um daqueles filhos que felizmente não conseguiram ter juntos. Como a vida o modificou, ou foi ela que dia a dia ficou diferente, até o dia em que não se reconheceram mais e ela o deixou, e ainda teve de calar ao ser chamada de ingrata pela sogra, pelo irmão que temia perder o emprego no governo que ele arranjou de favor. Sua culpa seria ainda maior se ela contasse à sogra, ao irmão, àqueles tantos amigos endinheirados que mal sabiam usar os talheres das vezes em que foi machucada, um tapa na cara, um chute que a deixou mancando por uma semana, um beliscão de consequências fatais para o seu casamento e um roxo no braço que ela achava que nunca mais ia sair, marca do tempo de ter tempo e fazer planos. O roxo virou preto que virou amarelo que por fim se tornou cor de pele outra vez, saiu. O vestido que sobreviveu a tantas doações de roupas, e Neuza era a responsável por colocá-lo de volta no armário, era bem bonito, um corte que voltou à moda. Usá-lo para outros olhos que não os dele lhe dava um enorme prazer. Não o teria usado soubesse que, manhã seguinte, quando Ricardo a deixasse em casa, estaria com respingos de sangue na altura da cintura e na barra. E que esse sangue, mesmo depois de desaparecido pela eficiência da lavanderia, estaria sempre lá, como uma mancha viva que se vê de olhos fechados resultado de uma luz enxergada instantes antes. Desta vez Neuza não a impediria de doá-lo para o bazar de uma igreja que o venderia por menos de um décimo do valor.
Checou o e-mail.
Olhou as peças pretas sobre a cama, tão mais seguro... Uma vez mais expirou fundo, tudo, como lhe ensinou um médico de sua infância. Mal sabia o doutor que ele a acompanharia desde então, naqueles ares que ela punha para fora devolvendo ao mundo todas as angústias que dele nasciam. Madrugada, não conseguiria. O ar ficaria preso na garganta e ela teria certeza de que nunca mais sairia, sufocando-a para sempre. Só depois de vomitar, depois da polícia partir com o corpo, é que o ar finalmente sairia de dentro dela, fedido, sujo. E tirando os bichos, seria o primeiro morto que veria, ela, aos 37 anos. Havia a avó, mas ficou em casa com o irmão e os primos, já que achavam que não tinha idade para velórios. Havia aquele avô de quem mantinha certa distância, estava viajando quando ele morreu. Depois de grande, no Natal, única vez em que se encontravam no ano, se apresentava, Márcia, filha da Rosa. Da última vez, ele se irritou, Não precisa se apresentar!, menina das sapatilhas brancas, disse, para a surpresa dela, e voltou a olhar o vazio, indiferente à agitação que tomava conta da sala — o barulho da faca elétrica cortando o peru na copa, as crianças fazendo coisas de criança, as esfihas, os pistaches, o pão sírio picado, babaganuch e homos sobre as mesas de centro, que apenas naquele dia se desencaixavam uma das outras em frente aos sofás velhos e rotos, cerveja que, naquele ano, primeira vez, foi oferecida a ela, primogênita da terceira geração. O avô não chegou a receber o cartão que ela não enviou de Paris, onde estudava francês nas férias de janeiro. Era uma das dançarinas de Degas que Márcia comprou no d’Orsay pensando nele. Um pensamento repentino que a pegou desprevenida enquanto escolhia postais para mandar para casa, para os muitos amigos que ainda tinha, para Ricardo. Então o avô se lembrava de suas apresentações no clube, como era desajeitada... Quando voltou, o cartão na bolsa, a notícia. Não havia corpo, apenas a mesma ausência, agora definitiva. Não bem uma tristeza, um sentimento esquisito, que logo se rendeu aos deveres da segunda-feira, e só muitos anos depois se lembraria da frase que a tia caçula lhe disse ao ouvido num abraço emocionado, ainda na área de desembarque do aeroporto, Você era a neta predileta dele. Havia também os tantos mortos na televisão, nas fotos dos jornais, nos livros, naqueles filmes estúpidos de ação que por tanto tempo foi obrigada a assistir. Não levava a sério, não tinham cheiro, temperatura, dimensão, significado. Separar-se foi não mais assistir o que não gostava.
Checou o e-mail, desligou e fechou o computador. Nenhuma mensagem o dia todo, nenhuma resposta, nenhum oi de alguém distante, nenhuma propaganda com fórmulas para se ganhar dinheiro fácil ou de melhorar o desempenho sexual, nenhum cliente querendo agendar uma visita ou um orçamento, nem mesmo aqueles dizeres entusiasmados, aquelas fotos amareladas e desfocadas de suas adolescências que nas últimas semanas pululavam na caixa de entrada. Fazia vinte anos que não via aquelas pessoas, quem seriam, o que a vida teria feito delas? Com que olhos a veriam? E havia Ricardo. Encarou-se outra vez, um caleidoscópio de cenas coloriram seus olhos e ela sorriu. Última vez que o viu foi num cinema, meses antes de se casar, não se falaram, e quando ele lhe fez um sinal de cabeça, fingiu não notar. No final do filme, procurou-o de soslaio, preparada para trocar algumas palavras quando ele se aproximasse, não o achou. Como era boba, pensou. Baixou os olhos em si e o espelho mostrou-a uma vez mais e convenceu-a que o vestido caíra realmente bem, será que estava marcando a calcinha? Não, parecia que não. Levantou a tela do computador, desistiu de religá-lo. Então era largar de frescura e ir porque, por mais que se sentisse adolescente, não era. Não teria ido soubesse que, por anos e anos, cada vez que ouvisse um escapamento estourar, um rojão, uma bombinha de festa junina, sentiria pavor e a taquicardia demoraria a passar. Contudo, mesmo com os pesadelos, que a acompanhariam vida afora, acordando-a no meio da noite, desamparo molhado de suor, aqueles olhos castanhos parando nela, depois através dela, como que a digitalizando, sua alma, não seu corpo, já tatuado de tantos olhos, Tá tudo bem..., até que deixassem de enxergá-la. Como bem?! Não, nada estaria bem, nada nunca mais estaria bem. Contudo, mesmo com os pesadelos acabaria por se acostumar.
Carlos Eduardo de Magalhães é escritor, autor de Mera fotografia (1998), Os jacarés (2001), Dora (2005) e Pitanga (2008). Desde 2008 dirige a editora Grua Livros. Este texto é o primeiro capítulo do romance Trova, que o autor acaba de publicar.
Ilustrações: Nicholas Pierre