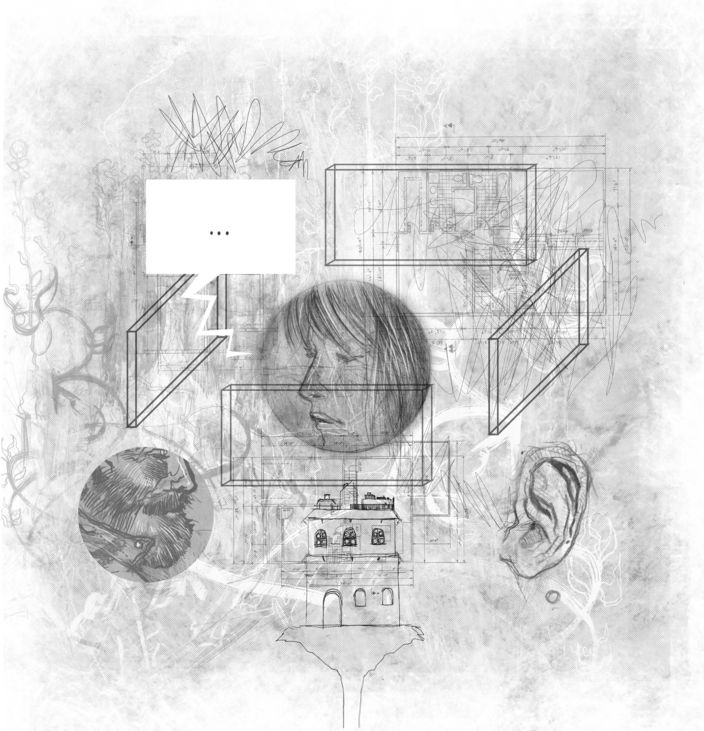Romance
Terra de casas vazias
Teresa parou à entrada da cozinha. Estava descalça e vestia um roupão branco sobre uma camiseta preta na qual se lia, em letras amarelas, o nome de uma banda. O roupão estava aberto e a corda se arrastava pelo chão; ela cantarolava em voz baixa.
Arthur deixara os folhetos amontoados sobre a mesa. Todos os continentes representados em vinte e seis folhetos coloridos repletos de desinformações. O mundo sobre a mesa da cozinha, ou uma ideia de mundo — vaga, superficial, estupidamente colorida.
Aquilo tudo parecia pesar.
É claro que não passava de um amontoado de papéis, mas Teresa não se surpreenderia caso os pés da mesa se dobrassem e ela viesse ao chão num estrondo. (Teresa sempre esperava que as coisas se dobrassem e viessem ao chão num estrondo.) Calou-se ao pensar nisso, e a música que cantarolava pareceu nunca ter estado ali. A mesa posta. De certa forma. Por assim dizer. Mesas, edifícios, pessoas. A mesa posta por Arthur. Era o jeito dele, seu modus operandi, deixar tudo jogado em vez de falar a respeito.
Uma espécie de pragmatismo distorcido, ou pseudopragmatismo: as coisas ou estão ali, ou não estão; não percamos tempo discutindo sobre o que não está; o que não está à minha frente não existe; não posso nem preciso me preocupar com o que não existe.
À entrada da cozinha, Teresa pensava mais uma vez no que não estava à sua frente, no que cessara de existir. Aquilo que não existia mais ou deveria ter deixado de existir como que a habitava, era justamente o que estava nela, o que havia dentro dela.
Cruzou os braços, fechou os olhos por um instante.
Como esquecer, obliterar?
Mesas, edifícios, tudo dobrado e vindo ao chão num estrondo. E pessoas? Não, ainda não. Hoje, não.
Não agora.
Um pouco antes, cruzando a sala, teve a curiosidade de parar e olhar através da janela. Ainda podia fazer isso, não? Sim, um pouco que fosse. Parar e olhar para fora. Talvez estivesse melhor. Ou não, apenas um hábito difícil de perder. Você é a soma dos seus hábitos, dizia-lhe o pai. Todas as coisas ditas pelos pais e que não significam coisíssima nenhuma. Viu outra manhã de outono implausivelmente chuvosa. Um vento forte castigava as árvores do parque lá embaixo, do outro lado da rua, como se quisesse arrancá-las. Árvores migrando feito pássaros: algo inédito e ao mesmo tempo desolador. Ou desarvorador. Pressentiu um dia arrancado da companhia dos outros dias, fora do tempo, diverso, bastardo. Não um dia melhor, necessariamente. E, de resto, o que seria isso? Escancarar a janela, que o vento também a levasse embora. Abriria os braços. Veja: sem raízes aqui. Mas e Arthur? Às vezes, não conseguia se lembrar dele, levá-lo em conta, e sentia-se mal por isso. Que besteira, não? Fechou as cortinas. O vento lhe arrancaria os braços, e só. Permaneceria fincada ali. Seu tronco, pelo menos. O tronco enraizado.
Na cozinha, Teresa finalmente se aproximou da mesa. Por quanto tempo permanecera à porta, temendo avançar ou recuar, cantarolando e depois em silêncio? As árvores prestes a migrar atrás de si, lá fora. Arrancada da companhia dos outros. Fora do tempo. Sentou-se sem descruzar os braços. Estranho como as cores dos folhetos nada tinham a ver com os lugares a que se referiam. Um folheto verde para a Alemanha, um vermelho para a Argentina, um preto para o Japão e por aí afora. Ela aprendera a ligar esses e os outros lugares a cores bem diferentes das que via estampando a papelada sob seus olhos. Eles não podiam fazer melhor do que isso? Qual seria a dificuldade? Uma mísera olhada nas cores das bandeiras, e pronto. O mundo daltônico ou simplesmente cego. Ou talvez fosse ela que não enxergasse bem, não mais. As malditas cores nacionais. Vermelho-sangue para todos. Nossa história e as histórias dos outros. A Irlanda, por exemplo, sobreviveria sem a cor verde. Não? Desde que os irlandeses não soubessem, talvez. Mas azul? Imaginou uma senhora irlandesa passando os olhos por um folheto sobre o Brasil. Que cor teria? Magenta. Ou cinza. O dia lá fora. A imagem daquelas árvores quase desterradas pelo vento ilustrando a capa, a legenda: árvores migratórias do centro-oeste brasileiro. Não que essas coisas fossem mesmo importantes. Sua cabeça repleta de desimportâncias, bastarda em relação ao resto. Ao resto de seu próprio corpo, ao resto do mundo. O vento e as árvores lá fora, as cores dos folhetos sobre a mesa.
Descruzou os braços e desviou o olhar da mesa abarrotada para o aparelho telefônico grudado na parede. Como se pressentisse. Como se soubesse. Levantou-se. No momento em que o relógio do micro-ondas marcou oito horas, o telefone tocou. A voz de Arthur:
— Deu uma olhada?
Ela cruzou o braço esquerdo e apoiou nele o cotovelo direito. A mão segurava o telefone desajeitadamente, o bocal à altura do queixo.
— Acabei de levantar — disse.
— Dá uma olhada, tá? Deixei aí para você olhar.
— Eu sei.
— Pois é. Deixei aí para você olhar — ele repetiu, o tom de voz ligeiramente mais alto. Como se ela não tivesse ouvido da primeira vez. A voz ansiosa dele. — Peguei quase tudo que eles tinham e deixei aí.
— Eu percebi.
— Para você olhar.
— Já entendi essa parte.
— Eu sei, eu só queria...
— Ainda nem tomei meu café da manhã.
— Mas, olha, se você pensar em algum outro lugar, é só dizer.
— Acabei de levantar.
— Eles têm pacotes pra tudo que é lado.
— Meio que dormindo ainda.
— Tem lugar que a gente nem sabe que existe e eles têm pacote para lá.
Ela tentou imaginar como seria um lugar cuja existência ignorassem, mas logo desistiu. Não estava interessada. Mas, qual seria a cor do folheto de um lugar assim? A cor branca seria muito óbvia? Um copo de leite:
— Você comeu? Tomou café antes de sair? — não que estivesse realmente preocupada com isso, com ele.
— Vai nos fazer bem. Você sabe disso, não sabe? Quer dizer, a gente concorda nesse ponto, não concorda?
Ela não respondeu. Ele continuou falando, repetindo aquilo tudo. Ela achou que o melhor seria se repetir também:
— Eu acabei de levantar.
— Ei, a gente pode ir para Montevideu outra vez.
— Montevideu?
— Se você quiser.
— Montevideu?
— É. Montevideu.
— Não quero ir para Montevideu.
— Lembra quando a gente foi? Não foi tão bom, eu sei. Mas depois vieram me falar que a gente foi na época errada do ano.
— Na época errada do ano? E quando é a época certa?
— Eu não sei. Posso me informar, se você quiser.
— Não, não precisa se informar.
— Coisa rápida.
— Não, não precisa fazer nada, pelo amor de Deus. Seja você. Você sempre ficou quieto, nunca fez nada. Não precisa fazer nada agora. Juro que não precisa. E não tem nada que eu queira fazer em Montevideu.
— Mas essa é a ideia — ele quase gritou. Tão animado. Depois se acalmou, e ela pôde ouvi-lo se ajeitando na cadeira e avançando sobre a mesa, os cotovelos deslizando sobre o tampo, para dizer quase num sussurro: — Essa é a ideia. Não fazer nada.
Exatamente, ela pensou. Não fazer absolutamente nada. Não falar, não se mover. Não respirar. Nada, nada. Mas como explicar para ele?
— Eu não... — Melhor nem tentar. Ainda assim: — Eu não...
O silêncio da espera dele. Você não o quê?:
— Você não o quê?
Quase sem se dar conta do gesto, desligou o telefone. O braço direito estendido, a mão encaixando o aparelho no gancho. A coisa mais simples do mundo. Mais simples e mais tranquila e mais boba e mais. Sussurrou um pedido de desculpas e sentou-se à mesa outra vez. Percebeu ter pedido desculpas ao telefone. Por ter se separado dele assim. Por tê-lo empurrado, afastado de si. Que horror. Eu não devia ter feito isso com você. Me perdoa? Contou até cinco em voz alta. No momento em que disse cinco, o aparelho tocou outra vez. Arthur não parecia nervoso. Meu Deus. O que é que há com você? Qual é a porra do seu problema?
— Dá uma olhada — ele implorou. — Só isso. Por favor.
Ela fitava os folhetos quando concordou:
— Tá bom.
Esperou que ele desligasse para recolocar o aparelho no gancho. Não quero mais ter que pedir desculpas para você. Suspirou. Nunca mais.
Alguns pratos e copos amontoados dentro da pia. Os azulejos brancos começando a encardir. A pequena janela sobre a pia entreaberta e o vento frio se insinuando cozinha adentro. Um pouco de chuva caindo sobre a louça suja, alguns respingos.
Isso não vai adiantar muito, ela pensou enquanto levava as duas mãos aos cabelos loiros, agora curtos. (Arthur dizendo: — Gostei. Te deixa mais nova.) Cortara os cabelos quarenta dias depois do acontecido porque Arthur tinha começado a dizer que ela precisava fazer alguma coisa, qualquer coisa. Justo ele dizer uma coisa dessas e justo ela concordar, preciso fazer alguma coisa, qualquer coisa. Mas cortar os cabelos não ajudou muito. Não ajudou em nada. Ela não se sentiu mais nova ou melhor ou sequer diferente. Outra aparência, a mesma expressão enlutada. Aquilo não era nada, não significava merda nenhuma, os mesmos cabelos, só que mais curtos, é óbvio, assim como ela permanecia a mesma, só que menor, podada, alguém cujos braços tivessem sido arrancados.
Tiraram isso de mim. Vê?
André de Leones é autor dos romances Dentes negros e Hoje está um dia morto (vencedor do Prêmio Sesc de Literatura 2005), entre outros. O romance Terra de casas vazias foi selecionado pelo Programa Petrobrás Cultural (por meio do qual o autor recebeu uma bolsa durante o processo de escrita) e chega às livrarias em abril. Leones vive em São Paulo (SP).
Ilustração: Renato Faccini
É claro que não passava de um amontoado de papéis, mas Teresa não se surpreenderia caso os pés da mesa se dobrassem e ela viesse ao chão num estrondo. (Teresa sempre esperava que as coisas se dobrassem e viessem ao chão num estrondo.) Calou-se ao pensar nisso, e a música que cantarolava pareceu nunca ter estado ali. A mesa posta. De certa forma. Por assim dizer. Mesas, edifícios, pessoas. A mesa posta por Arthur. Era o jeito dele, seu modus operandi, deixar tudo jogado em vez de falar a respeito.
Uma espécie de pragmatismo distorcido, ou pseudopragmatismo: as coisas ou estão ali, ou não estão; não percamos tempo discutindo sobre o que não está; o que não está à minha frente não existe; não posso nem preciso me preocupar com o que não existe.
À entrada da cozinha, Teresa pensava mais uma vez no que não estava à sua frente, no que cessara de existir. Aquilo que não existia mais ou deveria ter deixado de existir como que a habitava, era justamente o que estava nela, o que havia dentro dela.
Cruzou os braços, fechou os olhos por um instante.
Como esquecer, obliterar?
Mesas, edifícios, tudo dobrado e vindo ao chão num estrondo. E pessoas? Não, ainda não. Hoje, não.
Não agora.
Um pouco antes, cruzando a sala, teve a curiosidade de parar e olhar através da janela. Ainda podia fazer isso, não? Sim, um pouco que fosse. Parar e olhar para fora. Talvez estivesse melhor. Ou não, apenas um hábito difícil de perder. Você é a soma dos seus hábitos, dizia-lhe o pai. Todas as coisas ditas pelos pais e que não significam coisíssima nenhuma. Viu outra manhã de outono implausivelmente chuvosa. Um vento forte castigava as árvores do parque lá embaixo, do outro lado da rua, como se quisesse arrancá-las. Árvores migrando feito pássaros: algo inédito e ao mesmo tempo desolador. Ou desarvorador. Pressentiu um dia arrancado da companhia dos outros dias, fora do tempo, diverso, bastardo. Não um dia melhor, necessariamente. E, de resto, o que seria isso? Escancarar a janela, que o vento também a levasse embora. Abriria os braços. Veja: sem raízes aqui. Mas e Arthur? Às vezes, não conseguia se lembrar dele, levá-lo em conta, e sentia-se mal por isso. Que besteira, não? Fechou as cortinas. O vento lhe arrancaria os braços, e só. Permaneceria fincada ali. Seu tronco, pelo menos. O tronco enraizado.
Na cozinha, Teresa finalmente se aproximou da mesa. Por quanto tempo permanecera à porta, temendo avançar ou recuar, cantarolando e depois em silêncio? As árvores prestes a migrar atrás de si, lá fora. Arrancada da companhia dos outros. Fora do tempo. Sentou-se sem descruzar os braços. Estranho como as cores dos folhetos nada tinham a ver com os lugares a que se referiam. Um folheto verde para a Alemanha, um vermelho para a Argentina, um preto para o Japão e por aí afora. Ela aprendera a ligar esses e os outros lugares a cores bem diferentes das que via estampando a papelada sob seus olhos. Eles não podiam fazer melhor do que isso? Qual seria a dificuldade? Uma mísera olhada nas cores das bandeiras, e pronto. O mundo daltônico ou simplesmente cego. Ou talvez fosse ela que não enxergasse bem, não mais. As malditas cores nacionais. Vermelho-sangue para todos. Nossa história e as histórias dos outros. A Irlanda, por exemplo, sobreviveria sem a cor verde. Não? Desde que os irlandeses não soubessem, talvez. Mas azul? Imaginou uma senhora irlandesa passando os olhos por um folheto sobre o Brasil. Que cor teria? Magenta. Ou cinza. O dia lá fora. A imagem daquelas árvores quase desterradas pelo vento ilustrando a capa, a legenda: árvores migratórias do centro-oeste brasileiro. Não que essas coisas fossem mesmo importantes. Sua cabeça repleta de desimportâncias, bastarda em relação ao resto. Ao resto de seu próprio corpo, ao resto do mundo. O vento e as árvores lá fora, as cores dos folhetos sobre a mesa.
Descruzou os braços e desviou o olhar da mesa abarrotada para o aparelho telefônico grudado na parede. Como se pressentisse. Como se soubesse. Levantou-se. No momento em que o relógio do micro-ondas marcou oito horas, o telefone tocou. A voz de Arthur:
— Deu uma olhada?
Ela cruzou o braço esquerdo e apoiou nele o cotovelo direito. A mão segurava o telefone desajeitadamente, o bocal à altura do queixo.
— Acabei de levantar — disse.
— Dá uma olhada, tá? Deixei aí para você olhar.
— Eu sei.
— Pois é. Deixei aí para você olhar — ele repetiu, o tom de voz ligeiramente mais alto. Como se ela não tivesse ouvido da primeira vez. A voz ansiosa dele. — Peguei quase tudo que eles tinham e deixei aí.
— Eu percebi.
— Para você olhar.
— Já entendi essa parte.
— Eu sei, eu só queria...
— Ainda nem tomei meu café da manhã.
— Mas, olha, se você pensar em algum outro lugar, é só dizer.
— Acabei de levantar.
— Eles têm pacotes pra tudo que é lado.
— Meio que dormindo ainda.
— Tem lugar que a gente nem sabe que existe e eles têm pacote para lá.
Ela tentou imaginar como seria um lugar cuja existência ignorassem, mas logo desistiu. Não estava interessada. Mas, qual seria a cor do folheto de um lugar assim? A cor branca seria muito óbvia? Um copo de leite:
— Você comeu? Tomou café antes de sair? — não que estivesse realmente preocupada com isso, com ele.
— Vai nos fazer bem. Você sabe disso, não sabe? Quer dizer, a gente concorda nesse ponto, não concorda?
Ela não respondeu. Ele continuou falando, repetindo aquilo tudo. Ela achou que o melhor seria se repetir também:
— Eu acabei de levantar.
— Ei, a gente pode ir para Montevideu outra vez.
— Montevideu?
— Se você quiser.
— Montevideu?
— É. Montevideu.
— Não quero ir para Montevideu.
— Lembra quando a gente foi? Não foi tão bom, eu sei. Mas depois vieram me falar que a gente foi na época errada do ano.
— Na época errada do ano? E quando é a época certa?
— Eu não sei. Posso me informar, se você quiser.
— Não, não precisa se informar.
— Coisa rápida.
— Não, não precisa fazer nada, pelo amor de Deus. Seja você. Você sempre ficou quieto, nunca fez nada. Não precisa fazer nada agora. Juro que não precisa. E não tem nada que eu queira fazer em Montevideu.
— Mas essa é a ideia — ele quase gritou. Tão animado. Depois se acalmou, e ela pôde ouvi-lo se ajeitando na cadeira e avançando sobre a mesa, os cotovelos deslizando sobre o tampo, para dizer quase num sussurro: — Essa é a ideia. Não fazer nada.
Exatamente, ela pensou. Não fazer absolutamente nada. Não falar, não se mover. Não respirar. Nada, nada. Mas como explicar para ele?
— Eu não... — Melhor nem tentar. Ainda assim: — Eu não...
O silêncio da espera dele. Você não o quê?:
— Você não o quê?
Quase sem se dar conta do gesto, desligou o telefone. O braço direito estendido, a mão encaixando o aparelho no gancho. A coisa mais simples do mundo. Mais simples e mais tranquila e mais boba e mais. Sussurrou um pedido de desculpas e sentou-se à mesa outra vez. Percebeu ter pedido desculpas ao telefone. Por ter se separado dele assim. Por tê-lo empurrado, afastado de si. Que horror. Eu não devia ter feito isso com você. Me perdoa? Contou até cinco em voz alta. No momento em que disse cinco, o aparelho tocou outra vez. Arthur não parecia nervoso. Meu Deus. O que é que há com você? Qual é a porra do seu problema?
— Dá uma olhada — ele implorou. — Só isso. Por favor.
Ela fitava os folhetos quando concordou:
— Tá bom.
Esperou que ele desligasse para recolocar o aparelho no gancho. Não quero mais ter que pedir desculpas para você. Suspirou. Nunca mais.
Alguns pratos e copos amontoados dentro da pia. Os azulejos brancos começando a encardir. A pequena janela sobre a pia entreaberta e o vento frio se insinuando cozinha adentro. Um pouco de chuva caindo sobre a louça suja, alguns respingos.
Isso não vai adiantar muito, ela pensou enquanto levava as duas mãos aos cabelos loiros, agora curtos. (Arthur dizendo: — Gostei. Te deixa mais nova.) Cortara os cabelos quarenta dias depois do acontecido porque Arthur tinha começado a dizer que ela precisava fazer alguma coisa, qualquer coisa. Justo ele dizer uma coisa dessas e justo ela concordar, preciso fazer alguma coisa, qualquer coisa. Mas cortar os cabelos não ajudou muito. Não ajudou em nada. Ela não se sentiu mais nova ou melhor ou sequer diferente. Outra aparência, a mesma expressão enlutada. Aquilo não era nada, não significava merda nenhuma, os mesmos cabelos, só que mais curtos, é óbvio, assim como ela permanecia a mesma, só que menor, podada, alguém cujos braços tivessem sido arrancados.
Tiraram isso de mim. Vê?
André de Leones é autor dos romances Dentes negros e Hoje está um dia morto (vencedor do Prêmio Sesc de Literatura 2005), entre outros. O romance Terra de casas vazias foi selecionado pelo Programa Petrobrás Cultural (por meio do qual o autor recebeu uma bolsa durante o processo de escrita) e chega às livrarias em abril. Leones vive em São Paulo (SP).
Ilustração: Renato Faccini