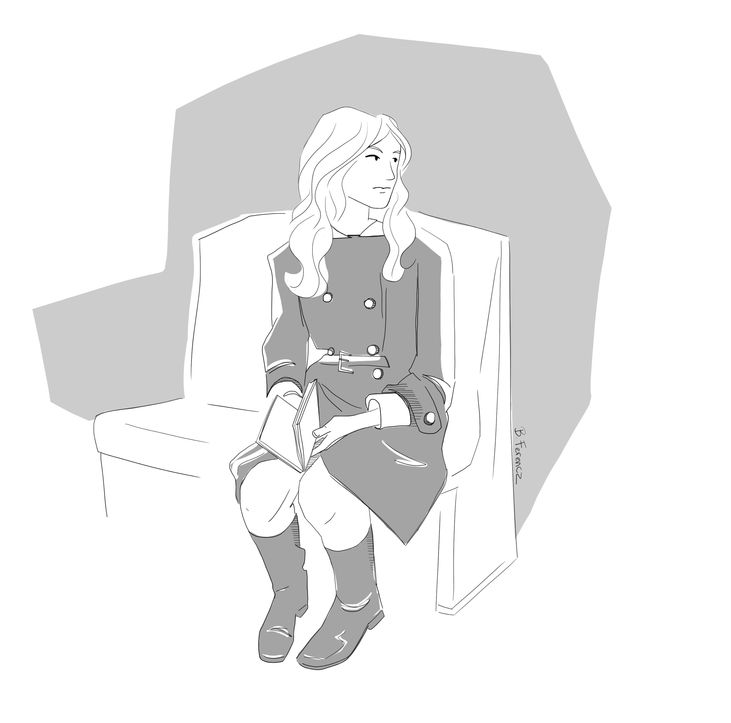Especial Capa: Histórias de uma história mal contada
Constância Lima Duarte
No clássico estudo Um teto todo seu, de 1929, Virginia Woolf, ao visitar bibliotecas à procura de obras escritas por mulheres, e constatar o número quase insignificante desta produção, atribuiu à profunda misoginia que não cansava de afirmar a inferioridade mental, moral e física do gênero feminino, as poucas chances que então eram dadas às mulheres. E resumiu assim as condições necessárias para que o talento criativo pudesse surgir: era preciso ter um quarto próprio e serem minimamente independentes e instruídas. A exclusão cultural estava associada irremediavelmente à submissão e à dependência econômica. Se o talento criador não era exclusivo dos homens, os meios para desenvolvê-los, com certeza eram.
É certo que Virginia Woolf fala de um outro lugar e de um outro tempo, quando as universidades inglesas não aceitavam mulheres circulando em suas dependências, e muito menos o mercado de trabalho. Mas também entre nós já foi assim. Nas últimas décadas do século XIX, e mesmo nas primeiras do século XX, causava comoção uma mulher manifestar o desejo de fazer um curso superior. E a publicação de uma obra costumava ser recebida com desconfiança, descaso ou, na melhor das hipóteses, com condescendência. Afinal, era só uma mulher escrevendo. Por isso, para realizar o desejo de publicar seus trabalhos, muitas usaram pseudônimos, o anonimato, ou se juntaram para criar jornais e revistas que atravessaram muitas vezes os limites de suas cidades, de seus Estados, e se converteram em verdadeiras redes intercambiantes de informações e cultura. Outras, apesar de tudo e todos, ousaram escrever poemas, contos, romances, teatro, e publicaram seus livros, que com o tempo se perdiam nas primeiras edições e na poeira dos arquivos.
Em conhecido ensaio publicado na Revista Anhembi, em 1954, intitulado “As mulheres na Literatura Brasileira”, Lúcia Miguel Pereira, assim como Woolf, decide buscar as escritoras antigas, e recorre à pesquisa de Sílvio Romero que resultou na História da literatura brasileira, de 1882. Lúcia escreveu: “Nessa espécie de catedral barroca de nossa literatura onde, ao lado dos santos, se assim se pode dizer, das figuras de primeira plana, de valor incontestado, tiveram entrada carrancas e bonifrates, gente miúda, gente mais — ou menos — que secundária, só foram incluídas sete mulheres: Ângela do Amaral Rangel, Beatriz Francisca de Assis Brandão, sobrinha de Maria Joaquina Dorotéia de Seixas, a doce Marilia das liras de Gonzaga, Delfina da Cunha, Nísia Floresta (...), Narcisa Amália, Maria Firmina Reis e Jesuína Serra. (...) E é tudo; nada mais achou a dizer a respeito de mulheres o mestre sergipano”.
Ou seja, nem as contemporâneas — como Júlia Lopes de Almeida e Carmen Dolores — e outras mais antigas, tiveram vez no arrolamento de Romero. E não foi diferente no Dicionário biobibliográfico de Sacramento Blake, onde, cito Lúcia Miguel mais uma vez: “Pela índole mesma da obra, [que] não teve o menor critério seletivo, abrigando ao contrário toda a gente que houvesse publicado fosse o que fosse, ou até que possuísse apenas escritos inéditos, havia pouco mais de cinquenta escritoras, para trezentos anos de literatura”.
A respeito da escassez de autoras, Lúcia Miguel Pereira elabora a seguinte justificativa: “Sintomática e tristíssima a situação das mulheres no Brasil colonial e imperial, dos preconceitos que as abafavam, dos quais dão testemunho tanto os romancistas que descreveram os costumes de seu tempo, como os escritores mais objetivos, cronistas, ensaístas, historiadores e, sobretudo, os estrangeiros que nos visitaram”.
Curiosamente, foi a timidez doentia das nossas moças, a sua inércia, que ficou registrada na história nacional. As outras — as exceções — foram sistematicamente ignoradas e alijadas da memória canônica do arquivo oficial. E foi tão sistemático este trabalho de alijamento, que quem se aventurasse depois a buscar as que romperam o silêncio, precisava enfrentar a desordem, o vazio, o “arquivo do mal”, na arguta expressão de Derrida.
Assim, quando em meados dos anos 1980, um grupo de pesquisadoras se reuniu em torno do projeto de resgatar escritoras do passado, e reacender esta antiga memória, foi preciso muita determinação. Para começar, os acervos estavam dispersos em antigas bibliotecas, fragmentados em jornais carcomidos por traças e pelo descaso oficial. Buscar a memória cultural em um país que não cultua a memória, não é tarefa fácil. Um verdadeiro puzzle precisava ser montado e peças fundamentais — como os próprios livros escritos pelas mulheres — custavam a aparecer. Após a descoberta de um título, tinha início a batalha por sua localização, verdadeiro trabalho de arqueologia literária, tão caro à critica feminista, quando então todos os recursos eram acionados: desde o contato com sebos e a visita a inúmeras bibliotecas, públicas e particulares, e instituições como Casa de Rui Barbosa, Fundação Joaquim Nabuco, Institutos Históricos, Academias de Letras, etc. etc., até o apelo aos conhecidos bibliófilos do país. Que, diga-se de passagem, não mediram esforços em sua generosidade e compartilharam seus arquivos sempre que recorríamos a eles.
E uma parte do resultado deste projeto são os dois volumes intitulados Escritoras brasileiras do século XIX, que estão publicados pela Editora Mulheres, de Florianópolis, sob a coordenação da colega Zahidé Muzart. O primeiro surgiu em 1999, com 910 páginas, e cinquenta e duas escritoras. O segundo, em 2004, com 1170 páginas, e cinquenta e três autoras, oriundas de diferentes regiões do país. O terceiro surgiu em 2009 e também trouxe novidades para os pesquisadores da temática: cinquenta e seis escritoras, distribuídas em mais de mil e cem páginas, a maioria pouquíssimo conhecida do público leitor. E através das informações biobibliográficas, e da reprodução de páginas significativas de obras, é possível verificar como existiram tantas mulheres atuantes e produtivas, apesar de serem hoje desconhecidas e estarem praticamente ausentes da história literária nacional. Pesquisas como estas realizam ainda o questionamento da cultura hegemônica, estabelecem uma nova tradição literária, revelam a mulher como sujeito do discurso literário. Enfim, contribuem para a construção de uma história das mentalidades femininas e uma nova história das letras em nosso país.
Há de tudo nas páginas destas antologias: desde escritoras que nunca foram mencionadas nas histórias literárias, até outras que, apesar da calorosa recepção de ilustres leitores de seu tempo, como Machado de Assis e Olavo Bilac, também desapareceram excluídas do cânone por uma historiografia e uma crítica de perspectiva masculina, que sistematicamente eliminou as mulheres do cenário das letras. Através de suas obras — romances, poemas, diários, contos, dramas, comédias, ensaios e crítica literária — as escritoras expressam suas emoções, sua visão de mundo, além de lúcidas reflexões sobre educação, condição da mulher na sociedade patriarcal, direito ao voto, participação na vida social, etc. etc..
Para ilustrar, cito algumas autoras que renasceram através destas páginas. Alguns nomes já são familiares, de tanto que os encontramos em congressos, monografias, dissertações e teses. É o caso de Nísia Floresta (1810-1885), do Rio Grande do Norte, autora de uma obra significativa escrita em português, francês e italiano. Através de seus livros, Nísia Floresta participou ativamente do debate em torno de temas polêmicos, como os direitos das mulheres, dos escravos e dos índios. Na pesquisa que empreendi em torno da escritora, cujo acervo encontrava-se praticamente desaparecido, foi preciso percorrer os caminhos de sua vida pelo país — do Nordeste ao Sul — e no exterior — em Portugal, na França e na Itália —, buscando seus escritos e sua presença na história literária e social de cada lugar. Mas não foi fácil. Suas marcas, na maioria, estavam apagadas pelo tempo e alguns de seus traços definitivamente perdidos. Afinal, muitos anos se passaram sem que fosse sequer lembrada. A aura de mistério, mais o preconceito que a envolveu, contribuiu para mantê-la mais distante e desconhecida para nós.
Outra escritora que também demandou intensa investigação foi Emília Freitas (1855-1908), a poetisa e romancista cearense, abolicionista, autora do romance fantástico (literalmente) A rainha do ignoto. Ou, ainda, Maria Firmina dos Reis (1825-1917), a escritora mulata nascida no Maranhão, que em 1859 publicava Úrsula, hoje considerado o primeiro romance abolicionista de nosso país. Foram também resgatadas as baianas Adélia Fonseca (1827-1920), poetisa muito elogiada por Machado de Assis e Gonçalves Dias, por seus sonetos bem construídos, que dialogam amorosamente com Camões; e Ildefonsa César (1794-?), que ousou imprimir em sua poesia a paixão e o erotismo, para espanto da sociedade contemporânea. Ou Adelaide de Castro Guimarães (1854-1940), a irmã dedicada de Castro Alves, que nos legou poemas amorosos, de um lirismo sensível e erudito; ou ainda Violante de Bivar Velasco (1817-1875), poliglota, que traduziu peças teatrais do francês, italiano e inglês, e, como jornalista, colocou sua pena a serviço da emancipação feminina. Outra baiana destacada foi, sem dúvida, Inês Sabino (1835-1911), que, além de poemas, romances e crônicas, publicou Mulheres ilustres do Brasil (1899), livro pioneiro no resgate de mulheres que tiveram atuação significativa na sociedade brasileira.
O primeiro volume da citada antologia contém ainda uma escritora anônima, assim mesmo: “anônima”, porque, apesar das muitas investidas neste sentido, não foi possível ainda identificar a autoria de uma interessante obra intitulada As mulheres: um protesto por uma mãe, publicada em Salvador, em 1887. Este livro revela aspectos fundamentais da vida concreta das mulheres, como o diminuto mercado de trabalho a elas reservado, a absurda diferença salarial entre homens e mulheres, a valorização das funções reservadas aos homens, o rebaixamento da mulher, entre vários outros. O que mais surpreende, quando lemos o texto da “escritora anônima”, é a erudição que transparece em sua argumentação, e as inúmeras referências que faz, com extrema propriedade, a escritores, filósofos, sociólogos, quase todos europeus e contemporâneos.
Nara Araújo, conhecida ensaísta cubana, fez o seguinte registro na apresentação do primeiro volume:
“[a obra] não se limita à acumulação cronológica e numérica de textos de 52 autoras, olvidados ou mal lidos, mas chega à etapa superior, a da multiplicação e frutificação, na qual o documento perde a pátina, se livra da poeira e se vivifica ao ser situado e contextualizado. A obra pertence igualmente à tendência de uma crítica feminista interessada no estabelecimento de uma tradição literária escrita por mulheres: uma literatura própria. Porém vai mais além desse propósito, pois, ao mesmo tempo em que contribui para a história da escritura feminina no Brasil, participa da (re) escritura de sua história cultural.”
A constituição de novos arquivos — novas memórias — se configurou então em uma experiência ímpar: iniciávamos a busca sem saber o que seria encontrado; e para interpretar obras desconhecidas e reconstruir histórias de vida, impôs-se o desafio de realizar leituras com múltipla perspectiva — que envolvessem gênero, história das mentalidades e história cultural; que dessem conta de alterar marcos do sistema literário; e ainda fornecessem novos instrumentos de análise. E logo estávamos todas dominadas pelo “mal de arquivo’ (“en mal d’archive”, expressão também cunhada por Derrida), ou seja, dedicadas apaixonadamente a restaurar o arquivo justo onde ele escapa, justo onde algo se anarquiva, ou seja, intuir o que não se inclui na listagem, a ausência da memória. E cada vez mais isso se tornou evidente para nós: para cada escritora encontrada, outras, muitas outras sucumbiam no silêncio.
A censura e a repressão trabalham juntas para destruir o arquivo, antes mesmo de tê-lo produzido, já havia dito Derrida. Pulsões de morte jogam o arquivo na amnésia, na aniquilação da memória, na erradicação da verdade. Não foram poucos os poemas de Auta de Souza que seus irmãos alteraram, antes de enviá-los para a publicação. Também não foram poucas as obras de escritoras queimadas e destruídas por filhos e maridos ciumentos de seus talentos.
São muitos os exemplos. Sobre a pernambucana Rita Joana de Sousa (1696-1718), Eliane Vasconcellos, levantou uma extensa bibliografia de vinte e um títulos, mas não logrou obter um dado sequer sobre a sua vida. No caso de Maria Josefa Barreto, que nasceu em 1786, ocorreu diferente: ela é citada em inúmeros artigos e verbetes de dicionários biobibliográficos, como respeitada poetisa, mas só foi possível, até hoje, localizar um único poema de sua autoria.
Tais reflexões se impõem quando realizamos pesquisas como estas: a primeira ‘escavação’ demanda outra, e mais outra, e muitas outras, e nada pode ser desprezado. Segundo Compagnon, qualquer documento – uma simples carta, uma pequena nota – pode ser tão importante quanto um poema ou um romance, “quando se busca a apreensão do ato de consciência que representa a escritura como expressão de um querer-dizer”.
Bem diverso é o caso de Henriqueta Lisboa, sabemos, que ao longo da vida organizou a própria memória. Nesse caso, outros são os problemas que se colocam. Ainda que não imaginasse que seu arquivo se tornaria um dia objeto de análise, o fato de ter conservado e catalogado seu espólio intelectual, ou seja, selecionado documentos que julgou merecedores de futuramente serem divulgados, a escritora de certa forma manipulou (ou maquiou) a imagem que queria preservar. E sua memória será uma memória construída a priori. Quantas cartas não terá rasgado? quantas críticas ignorou, por não terem elogiado sua obra? A escritora assim arquivada apresenta ao pesquisador outros desafios: o de ler nas entrelinhas do arquivo, e detectar não apenas o que aí consta, mas também o que falta, e deveria estar. Ainda citando Derrida, “O arquivo sempre foi um penhor e como todo o penhor, um penhor de futuro”. E é por investir nesse futuro, de forma consciente ou não, que o escritor se arquiva.
Enfim, poderia ainda levantar outras questões para falar de pesquisa, de acervo e de arquivos de mulheres. E muitas, aliás, serviriam também para os escritores. Mas fico por aqui, reiterando a importância destas antologias não apenas como resgate, mas como constituição de um novo arquivo.
Constância Lima Duarte é doutora em Literatura Brasileira pela Universidade de São Paulo (USP) e professora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Ilustrações: Bruna Ferencz
No clássico estudo Um teto todo seu, de 1929, Virginia Woolf, ao visitar bibliotecas à procura de obras escritas por mulheres, e constatar o número quase insignificante desta produção, atribuiu à profunda misoginia que não cansava de afirmar a inferioridade mental, moral e física do gênero feminino, as poucas chances que então eram dadas às mulheres. E resumiu assim as condições necessárias para que o talento criativo pudesse surgir: era preciso ter um quarto próprio e serem minimamente independentes e instruídas. A exclusão cultural estava associada irremediavelmente à submissão e à dependência econômica. Se o talento criador não era exclusivo dos homens, os meios para desenvolvê-los, com certeza eram.
É certo que Virginia Woolf fala de um outro lugar e de um outro tempo, quando as universidades inglesas não aceitavam mulheres circulando em suas dependências, e muito menos o mercado de trabalho. Mas também entre nós já foi assim. Nas últimas décadas do século XIX, e mesmo nas primeiras do século XX, causava comoção uma mulher manifestar o desejo de fazer um curso superior. E a publicação de uma obra costumava ser recebida com desconfiança, descaso ou, na melhor das hipóteses, com condescendência. Afinal, era só uma mulher escrevendo. Por isso, para realizar o desejo de publicar seus trabalhos, muitas usaram pseudônimos, o anonimato, ou se juntaram para criar jornais e revistas que atravessaram muitas vezes os limites de suas cidades, de seus Estados, e se converteram em verdadeiras redes intercambiantes de informações e cultura. Outras, apesar de tudo e todos, ousaram escrever poemas, contos, romances, teatro, e publicaram seus livros, que com o tempo se perdiam nas primeiras edições e na poeira dos arquivos.
Em conhecido ensaio publicado na Revista Anhembi, em 1954, intitulado “As mulheres na Literatura Brasileira”, Lúcia Miguel Pereira, assim como Woolf, decide buscar as escritoras antigas, e recorre à pesquisa de Sílvio Romero que resultou na História da literatura brasileira, de 1882. Lúcia escreveu: “Nessa espécie de catedral barroca de nossa literatura onde, ao lado dos santos, se assim se pode dizer, das figuras de primeira plana, de valor incontestado, tiveram entrada carrancas e bonifrates, gente miúda, gente mais — ou menos — que secundária, só foram incluídas sete mulheres: Ângela do Amaral Rangel, Beatriz Francisca de Assis Brandão, sobrinha de Maria Joaquina Dorotéia de Seixas, a doce Marilia das liras de Gonzaga, Delfina da Cunha, Nísia Floresta (...), Narcisa Amália, Maria Firmina Reis e Jesuína Serra. (...) E é tudo; nada mais achou a dizer a respeito de mulheres o mestre sergipano”.
Ou seja, nem as contemporâneas — como Júlia Lopes de Almeida e Carmen Dolores — e outras mais antigas, tiveram vez no arrolamento de Romero. E não foi diferente no Dicionário biobibliográfico de Sacramento Blake, onde, cito Lúcia Miguel mais uma vez: “Pela índole mesma da obra, [que] não teve o menor critério seletivo, abrigando ao contrário toda a gente que houvesse publicado fosse o que fosse, ou até que possuísse apenas escritos inéditos, havia pouco mais de cinquenta escritoras, para trezentos anos de literatura”.
A respeito da escassez de autoras, Lúcia Miguel Pereira elabora a seguinte justificativa: “Sintomática e tristíssima a situação das mulheres no Brasil colonial e imperial, dos preconceitos que as abafavam, dos quais dão testemunho tanto os romancistas que descreveram os costumes de seu tempo, como os escritores mais objetivos, cronistas, ensaístas, historiadores e, sobretudo, os estrangeiros que nos visitaram”.
Curiosamente, foi a timidez doentia das nossas moças, a sua inércia, que ficou registrada na história nacional. As outras — as exceções — foram sistematicamente ignoradas e alijadas da memória canônica do arquivo oficial. E foi tão sistemático este trabalho de alijamento, que quem se aventurasse depois a buscar as que romperam o silêncio, precisava enfrentar a desordem, o vazio, o “arquivo do mal”, na arguta expressão de Derrida.
Assim, quando em meados dos anos 1980, um grupo de pesquisadoras se reuniu em torno do projeto de resgatar escritoras do passado, e reacender esta antiga memória, foi preciso muita determinação. Para começar, os acervos estavam dispersos em antigas bibliotecas, fragmentados em jornais carcomidos por traças e pelo descaso oficial. Buscar a memória cultural em um país que não cultua a memória, não é tarefa fácil. Um verdadeiro puzzle precisava ser montado e peças fundamentais — como os próprios livros escritos pelas mulheres — custavam a aparecer. Após a descoberta de um título, tinha início a batalha por sua localização, verdadeiro trabalho de arqueologia literária, tão caro à critica feminista, quando então todos os recursos eram acionados: desde o contato com sebos e a visita a inúmeras bibliotecas, públicas e particulares, e instituições como Casa de Rui Barbosa, Fundação Joaquim Nabuco, Institutos Históricos, Academias de Letras, etc. etc., até o apelo aos conhecidos bibliófilos do país. Que, diga-se de passagem, não mediram esforços em sua generosidade e compartilharam seus arquivos sempre que recorríamos a eles.
E uma parte do resultado deste projeto são os dois volumes intitulados Escritoras brasileiras do século XIX, que estão publicados pela Editora Mulheres, de Florianópolis, sob a coordenação da colega Zahidé Muzart. O primeiro surgiu em 1999, com 910 páginas, e cinquenta e duas escritoras. O segundo, em 2004, com 1170 páginas, e cinquenta e três autoras, oriundas de diferentes regiões do país. O terceiro surgiu em 2009 e também trouxe novidades para os pesquisadores da temática: cinquenta e seis escritoras, distribuídas em mais de mil e cem páginas, a maioria pouquíssimo conhecida do público leitor. E através das informações biobibliográficas, e da reprodução de páginas significativas de obras, é possível verificar como existiram tantas mulheres atuantes e produtivas, apesar de serem hoje desconhecidas e estarem praticamente ausentes da história literária nacional. Pesquisas como estas realizam ainda o questionamento da cultura hegemônica, estabelecem uma nova tradição literária, revelam a mulher como sujeito do discurso literário. Enfim, contribuem para a construção de uma história das mentalidades femininas e uma nova história das letras em nosso país.
Há de tudo nas páginas destas antologias: desde escritoras que nunca foram mencionadas nas histórias literárias, até outras que, apesar da calorosa recepção de ilustres leitores de seu tempo, como Machado de Assis e Olavo Bilac, também desapareceram excluídas do cânone por uma historiografia e uma crítica de perspectiva masculina, que sistematicamente eliminou as mulheres do cenário das letras. Através de suas obras — romances, poemas, diários, contos, dramas, comédias, ensaios e crítica literária — as escritoras expressam suas emoções, sua visão de mundo, além de lúcidas reflexões sobre educação, condição da mulher na sociedade patriarcal, direito ao voto, participação na vida social, etc. etc..
Para ilustrar, cito algumas autoras que renasceram através destas páginas. Alguns nomes já são familiares, de tanto que os encontramos em congressos, monografias, dissertações e teses. É o caso de Nísia Floresta (1810-1885), do Rio Grande do Norte, autora de uma obra significativa escrita em português, francês e italiano. Através de seus livros, Nísia Floresta participou ativamente do debate em torno de temas polêmicos, como os direitos das mulheres, dos escravos e dos índios. Na pesquisa que empreendi em torno da escritora, cujo acervo encontrava-se praticamente desaparecido, foi preciso percorrer os caminhos de sua vida pelo país — do Nordeste ao Sul — e no exterior — em Portugal, na França e na Itália —, buscando seus escritos e sua presença na história literária e social de cada lugar. Mas não foi fácil. Suas marcas, na maioria, estavam apagadas pelo tempo e alguns de seus traços definitivamente perdidos. Afinal, muitos anos se passaram sem que fosse sequer lembrada. A aura de mistério, mais o preconceito que a envolveu, contribuiu para mantê-la mais distante e desconhecida para nós.
Outra escritora que também demandou intensa investigação foi Emília Freitas (1855-1908), a poetisa e romancista cearense, abolicionista, autora do romance fantástico (literalmente) A rainha do ignoto. Ou, ainda, Maria Firmina dos Reis (1825-1917), a escritora mulata nascida no Maranhão, que em 1859 publicava Úrsula, hoje considerado o primeiro romance abolicionista de nosso país. Foram também resgatadas as baianas Adélia Fonseca (1827-1920), poetisa muito elogiada por Machado de Assis e Gonçalves Dias, por seus sonetos bem construídos, que dialogam amorosamente com Camões; e Ildefonsa César (1794-?), que ousou imprimir em sua poesia a paixão e o erotismo, para espanto da sociedade contemporânea. Ou Adelaide de Castro Guimarães (1854-1940), a irmã dedicada de Castro Alves, que nos legou poemas amorosos, de um lirismo sensível e erudito; ou ainda Violante de Bivar Velasco (1817-1875), poliglota, que traduziu peças teatrais do francês, italiano e inglês, e, como jornalista, colocou sua pena a serviço da emancipação feminina. Outra baiana destacada foi, sem dúvida, Inês Sabino (1835-1911), que, além de poemas, romances e crônicas, publicou Mulheres ilustres do Brasil (1899), livro pioneiro no resgate de mulheres que tiveram atuação significativa na sociedade brasileira.
O primeiro volume da citada antologia contém ainda uma escritora anônima, assim mesmo: “anônima”, porque, apesar das muitas investidas neste sentido, não foi possível ainda identificar a autoria de uma interessante obra intitulada As mulheres: um protesto por uma mãe, publicada em Salvador, em 1887. Este livro revela aspectos fundamentais da vida concreta das mulheres, como o diminuto mercado de trabalho a elas reservado, a absurda diferença salarial entre homens e mulheres, a valorização das funções reservadas aos homens, o rebaixamento da mulher, entre vários outros. O que mais surpreende, quando lemos o texto da “escritora anônima”, é a erudição que transparece em sua argumentação, e as inúmeras referências que faz, com extrema propriedade, a escritores, filósofos, sociólogos, quase todos europeus e contemporâneos.
Nara Araújo, conhecida ensaísta cubana, fez o seguinte registro na apresentação do primeiro volume:
“[a obra] não se limita à acumulação cronológica e numérica de textos de 52 autoras, olvidados ou mal lidos, mas chega à etapa superior, a da multiplicação e frutificação, na qual o documento perde a pátina, se livra da poeira e se vivifica ao ser situado e contextualizado. A obra pertence igualmente à tendência de uma crítica feminista interessada no estabelecimento de uma tradição literária escrita por mulheres: uma literatura própria. Porém vai mais além desse propósito, pois, ao mesmo tempo em que contribui para a história da escritura feminina no Brasil, participa da (re) escritura de sua história cultural.”
A constituição de novos arquivos — novas memórias — se configurou então em uma experiência ímpar: iniciávamos a busca sem saber o que seria encontrado; e para interpretar obras desconhecidas e reconstruir histórias de vida, impôs-se o desafio de realizar leituras com múltipla perspectiva — que envolvessem gênero, história das mentalidades e história cultural; que dessem conta de alterar marcos do sistema literário; e ainda fornecessem novos instrumentos de análise. E logo estávamos todas dominadas pelo “mal de arquivo’ (“en mal d’archive”, expressão também cunhada por Derrida), ou seja, dedicadas apaixonadamente a restaurar o arquivo justo onde ele escapa, justo onde algo se anarquiva, ou seja, intuir o que não se inclui na listagem, a ausência da memória. E cada vez mais isso se tornou evidente para nós: para cada escritora encontrada, outras, muitas outras sucumbiam no silêncio.
A censura e a repressão trabalham juntas para destruir o arquivo, antes mesmo de tê-lo produzido, já havia dito Derrida. Pulsões de morte jogam o arquivo na amnésia, na aniquilação da memória, na erradicação da verdade. Não foram poucos os poemas de Auta de Souza que seus irmãos alteraram, antes de enviá-los para a publicação. Também não foram poucas as obras de escritoras queimadas e destruídas por filhos e maridos ciumentos de seus talentos.
São muitos os exemplos. Sobre a pernambucana Rita Joana de Sousa (1696-1718), Eliane Vasconcellos, levantou uma extensa bibliografia de vinte e um títulos, mas não logrou obter um dado sequer sobre a sua vida. No caso de Maria Josefa Barreto, que nasceu em 1786, ocorreu diferente: ela é citada em inúmeros artigos e verbetes de dicionários biobibliográficos, como respeitada poetisa, mas só foi possível, até hoje, localizar um único poema de sua autoria.
Tais reflexões se impõem quando realizamos pesquisas como estas: a primeira ‘escavação’ demanda outra, e mais outra, e muitas outras, e nada pode ser desprezado. Segundo Compagnon, qualquer documento – uma simples carta, uma pequena nota – pode ser tão importante quanto um poema ou um romance, “quando se busca a apreensão do ato de consciência que representa a escritura como expressão de um querer-dizer”.
Bem diverso é o caso de Henriqueta Lisboa, sabemos, que ao longo da vida organizou a própria memória. Nesse caso, outros são os problemas que se colocam. Ainda que não imaginasse que seu arquivo se tornaria um dia objeto de análise, o fato de ter conservado e catalogado seu espólio intelectual, ou seja, selecionado documentos que julgou merecedores de futuramente serem divulgados, a escritora de certa forma manipulou (ou maquiou) a imagem que queria preservar. E sua memória será uma memória construída a priori. Quantas cartas não terá rasgado? quantas críticas ignorou, por não terem elogiado sua obra? A escritora assim arquivada apresenta ao pesquisador outros desafios: o de ler nas entrelinhas do arquivo, e detectar não apenas o que aí consta, mas também o que falta, e deveria estar. Ainda citando Derrida, “O arquivo sempre foi um penhor e como todo o penhor, um penhor de futuro”. E é por investir nesse futuro, de forma consciente ou não, que o escritor se arquiva.
Enfim, poderia ainda levantar outras questões para falar de pesquisa, de acervo e de arquivos de mulheres. E muitas, aliás, serviriam também para os escritores. Mas fico por aqui, reiterando a importância destas antologias não apenas como resgate, mas como constituição de um novo arquivo.
Constância Lima Duarte é doutora em Literatura Brasileira pela Universidade de São Paulo (USP) e professora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Ilustrações: Bruna Ferencz