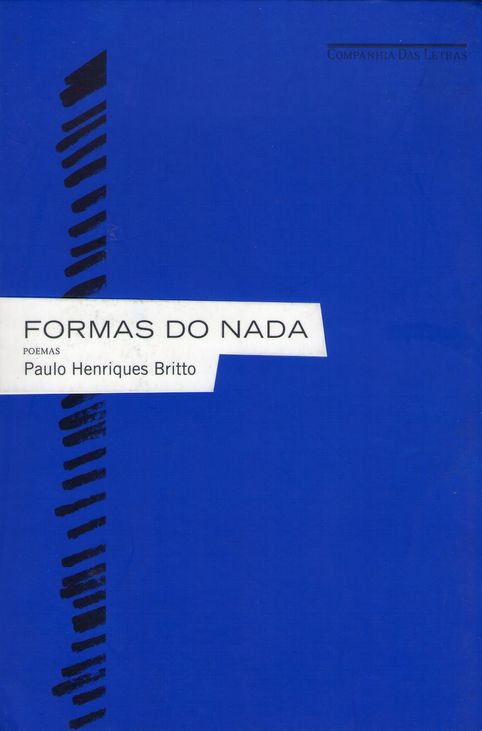Entrevista | Paulo Henriques Brito
“A tradução é uma forma de escrita literária"
Os professores da Universidade Federal do Paraná Caetano W. Galindo e Sandra M. Stroparo entrevistam Paulo Henriques Britto, premiado poeta e tradutor brasileiro
É difícil um leitor informado não ter grande respeito por ele. Trata-se de um dos maiores poetas brasileiros, um prosador de prestígio, um grande tradutor de poesia de língua inglesa e o mais respeitado de todos os tradutores de prosa desta língua. Paulo Henriques Britto, além desses méritos, é também professor de tradução e escrita criativa no na PUC-Rio e, talvez acima de tudo, uma pessoa de extrema generosidade para com leitores, alunos, colegas e amigos. Do seu apartamento na Gávea, ele responde aqui as perguntas de dois colegas e, antes de qualquer coisa, de dois admiradores incondicionais do seu trabalho: sobre poesia, prosa, tradução.
Você concorda com nossa leitura que vê de Macau para Tarde para Formas do nada uma lenta trajetória um pouco pessimista, mas que ao mesmo tempo alcança uma resignação calma em relação à realidade e à poesia?
É, eu diria que “resignação” é a palavra certa, sim. Tem a ver com a aproximação da idade. Mas o pessimismo eu acho que já vem de longe, não é? Mínima lírica e Trovar claro são livros mais para cima; já Liturgia da matéria, nem tanto. Mas o pessimismo dos vinte anos, revisitado agora é de certo modo uma coisa menos séria, mais “literária” (embora as depressões fossem perfeitamente reais).
Você tem dito que não está mais escrevendo poesia. Como é possível? Qual era o lugar da poesia na tua vida, de Liturgia da matéria oa último livro, que neste momento não existe? E ficção? Só a dos outros?
Já tive períodos de esterilidade antes, de modo que pode ser que eu volte a escrever. Os motivos variam. A primeira vez, na adolescência, foi por me sentir absolutamente incapaz tanto de aderir a alguma vanguarda quanto de produzir “poemas participantes”, as duas opções que havia na época. Outras vezes foi por eu achar que estava me repetindo; resolvi dar um tempo para ver se começava a sair alguma coisa diferente. É claro que desta vez houve circunstâncias muito dramáticas na minha vida, num grau que nunca vivi antes, de modo que pode ser que o hiato seja mais longo que das outras vezes. Tenho tentado escrever alguns contos, mas nenhum deles avançou muito; quanto à poesia, não estou mais nem tentando.
Numa entrevista recente, Marcelo Backes disse que, como tradutor de vários livros, antes mesmo de escrever seu primeiro romance, já tinha milhares de horas de “treino”. Você acha que esse é um caminho comum e, para você, funcionou — e ainda pode funcionar — um pouco assim?
Sim, a tradução é uma forma de escrita; a tradução literária, uma forma de escrita literária; a tradução de poesia, uma maneira de escrever poesia. Então, mesmo que eu passe um bom tempo sem produzir nada de novo, por estar sempre traduzindo literatura eu estou praticando a arte, ou ao menos o artesanato. Tenho esperança de voltar a escrever um dia por esse caminho.
Quando você, às vezes no mesmo livro, ou de um livro para o outro, traduz seus próprios poemas (do inglês para o português ou do português para o inglês), está fazendo que tipo de exercício: de poesia ou de tradução? Existe diferença?
É tradução, mesmo. Durante muito tempo achei que seria impossível me traduzir sem cair na tentação de reescrever meus poemas de modo radical. Só comecei a me autotraduzir de uns dez anos para cá. Isso começou quando Idra Novey, uma jovem poeta de Nova York, resolveu editar nos EUA uma antologia de poemas meus, traduzidos por ela. Passamos um bom tempo trocando e-mails, eu respondendo perguntas dela, dando sugestões e toques, e à medida que as traduções iam ficando prontas eu dizia a mim mesmo: mas não, não é assim que eu faria. Claro que houve uma hora em que a ficha caiu, e pensei: a tradução é dela, ela é que vai escolher as soluções que ela achar melhores. Mas isso me deu vontade de me traduzir, escolher alguns poemas que ela havia deixado de fora e vertê-los para o inglês, e também traduzir para o português poemas que eu havia escrito inglês — não, acho que foi o contrário, creio que comecei me traduzindo do inglês para o português. O primeiro, se não me engano, foi o soneto simétrico “Surprised by what?”, que eu queria que fosse lido pelas pessoas para quem costumava mostrar meus poemas, só que algumas delas não liam inglês bem. Mas sem o trabalho na antologia da Idra talvez eu não tivesse tentado fazer isso nunca.
Você tem se referido à nova geração de poetas brasileiros como um grupo de cosmopolitas multilíngues para quem a tradução sempre fez parte da atividade de leitura e criação. Você tem esse perfil desde muito antes... Acha que isso acarreta similaridades entre essa poesia recente e a tua literatura?
Talvez não, porque da minha geração para a deles muitas coisas mudaram. Os poetas apenas dez, quinze anos mais moços que eu — Carlito Azevedo, Claudia Roquette-Pinto — ainda pegaram as rebarbas das neovanguardas de meados do século, ainda tiveram o João Cabral a cochichar “Rigor! Contenção!” no pé do ouvido. Para os mais jovens, os que podiam ser meus filhos, na faixa dos vinte ou trinta, Cabral é um clássico, como Drummond, Bandeira, Pessoa, e não uma imposição estética e ética. Eles não se sentem obrigados a ter um projeto poético que seja também uma espécie de imperativo categórico — tem que escrever assim, não pode escrever assado. Agora cada projeto é estritamente pessoal.
Cronologicamente você é um fruto da poesia marginal (anos 1970). O recente estouro de vendas da poesia reunida de Paulo Leminski parece mostrar que essa poesia ainda tem muito a dizer para os leitores de hoje. Você acha que é coincidência ou que o momento atual guarda alguma familiaridade com aquele período?
O momento da poesia marginal é, digamos assim, o primeiro momento pós-modernismo, pós-vanguardismo; é o “pós-utópico” de que falam Octavio Paz e Haroldo de Campos. De lá para cá, não houve nenhum ruptura, no sentido em que foram rupturas o modernismo de 1922 e o momento das neovanguardas nos anos 1950 e 1960, do concretismo à Tropicália. Nesse sentido, os marginais e Leminski estão próximos de nós. Mas é claro que em 40 anos muita coisa mudou, ainda que as mudanças agora sejam graduais; a mais importante, a meu ver, é a que apontei acima — a conversão dos modernistas (inclusive Cabral) em clássicos, o fim dos grandes projetos comuns. Mas se não há mais projetos comuns, todas as dicções se tornam possíveis, inclusive uma retomada do poema-instantâneo do cotidiano, num verso livre muito próximo da fala coloquial, sem maiores apuros formais, ou do poema-sacação, construído em torno de um jogo de palavras, que é bem a praia de Leminski.
Você concorda com nossa leitura que vê de Macau para Tarde para Formas do nada uma lenta trajetória um pouco pessimista, mas que ao mesmo tempo alcança uma resignação calma em relação à realidade e à poesia?
É, eu diria que “resignação” é a palavra certa, sim. Tem a ver com a aproximação da idade. Mas o pessimismo eu acho que já vem de longe, não é? Mínima lírica e Trovar claro são livros mais para cima; já Liturgia da matéria, nem tanto. Mas o pessimismo dos vinte anos, revisitado agora é de certo modo uma coisa menos séria, mais “literária” (embora as depressões fossem perfeitamente reais).
Você tem dito que não está mais escrevendo poesia. Como é possível? Qual era o lugar da poesia na tua vida, de Liturgia da matéria oa último livro, que neste momento não existe? E ficção? Só a dos outros?
Já tive períodos de esterilidade antes, de modo que pode ser que eu volte a escrever. Os motivos variam. A primeira vez, na adolescência, foi por me sentir absolutamente incapaz tanto de aderir a alguma vanguarda quanto de produzir “poemas participantes”, as duas opções que havia na época. Outras vezes foi por eu achar que estava me repetindo; resolvi dar um tempo para ver se começava a sair alguma coisa diferente. É claro que desta vez houve circunstâncias muito dramáticas na minha vida, num grau que nunca vivi antes, de modo que pode ser que o hiato seja mais longo que das outras vezes. Tenho tentado escrever alguns contos, mas nenhum deles avançou muito; quanto à poesia, não estou mais nem tentando.
Numa entrevista recente, Marcelo Backes disse que, como tradutor de vários livros, antes mesmo de escrever seu primeiro romance, já tinha milhares de horas de “treino”. Você acha que esse é um caminho comum e, para você, funcionou — e ainda pode funcionar — um pouco assim?
Sim, a tradução é uma forma de escrita; a tradução literária, uma forma de escrita literária; a tradução de poesia, uma maneira de escrever poesia. Então, mesmo que eu passe um bom tempo sem produzir nada de novo, por estar sempre traduzindo literatura eu estou praticando a arte, ou ao menos o artesanato. Tenho esperança de voltar a escrever um dia por esse caminho.
Quando você, às vezes no mesmo livro, ou de um livro para o outro, traduz seus próprios poemas (do inglês para o português ou do português para o inglês), está fazendo que tipo de exercício: de poesia ou de tradução? Existe diferença?
É tradução, mesmo. Durante muito tempo achei que seria impossível me traduzir sem cair na tentação de reescrever meus poemas de modo radical. Só comecei a me autotraduzir de uns dez anos para cá. Isso começou quando Idra Novey, uma jovem poeta de Nova York, resolveu editar nos EUA uma antologia de poemas meus, traduzidos por ela. Passamos um bom tempo trocando e-mails, eu respondendo perguntas dela, dando sugestões e toques, e à medida que as traduções iam ficando prontas eu dizia a mim mesmo: mas não, não é assim que eu faria. Claro que houve uma hora em que a ficha caiu, e pensei: a tradução é dela, ela é que vai escolher as soluções que ela achar melhores. Mas isso me deu vontade de me traduzir, escolher alguns poemas que ela havia deixado de fora e vertê-los para o inglês, e também traduzir para o português poemas que eu havia escrito inglês — não, acho que foi o contrário, creio que comecei me traduzindo do inglês para o português. O primeiro, se não me engano, foi o soneto simétrico “Surprised by what?”, que eu queria que fosse lido pelas pessoas para quem costumava mostrar meus poemas, só que algumas delas não liam inglês bem. Mas sem o trabalho na antologia da Idra talvez eu não tivesse tentado fazer isso nunca.
Você tem se referido à nova geração de poetas brasileiros como um grupo de cosmopolitas multilíngues para quem a tradução sempre fez parte da atividade de leitura e criação. Você tem esse perfil desde muito antes... Acha que isso acarreta similaridades entre essa poesia recente e a tua literatura?
Talvez não, porque da minha geração para a deles muitas coisas mudaram. Os poetas apenas dez, quinze anos mais moços que eu — Carlito Azevedo, Claudia Roquette-Pinto — ainda pegaram as rebarbas das neovanguardas de meados do século, ainda tiveram o João Cabral a cochichar “Rigor! Contenção!” no pé do ouvido. Para os mais jovens, os que podiam ser meus filhos, na faixa dos vinte ou trinta, Cabral é um clássico, como Drummond, Bandeira, Pessoa, e não uma imposição estética e ética. Eles não se sentem obrigados a ter um projeto poético que seja também uma espécie de imperativo categórico — tem que escrever assim, não pode escrever assado. Agora cada projeto é estritamente pessoal.
Cronologicamente você é um fruto da poesia marginal (anos 1970). O recente estouro de vendas da poesia reunida de Paulo Leminski parece mostrar que essa poesia ainda tem muito a dizer para os leitores de hoje. Você acha que é coincidência ou que o momento atual guarda alguma familiaridade com aquele período?
O momento da poesia marginal é, digamos assim, o primeiro momento pós-modernismo, pós-vanguardismo; é o “pós-utópico” de que falam Octavio Paz e Haroldo de Campos. De lá para cá, não houve nenhum ruptura, no sentido em que foram rupturas o modernismo de 1922 e o momento das neovanguardas nos anos 1950 e 1960, do concretismo à Tropicália. Nesse sentido, os marginais e Leminski estão próximos de nós. Mas é claro que em 40 anos muita coisa mudou, ainda que as mudanças agora sejam graduais; a mais importante, a meu ver, é a que apontei acima — a conversão dos modernistas (inclusive Cabral) em clássicos, o fim dos grandes projetos comuns. Mas se não há mais projetos comuns, todas as dicções se tornam possíveis, inclusive uma retomada do poema-instantâneo do cotidiano, num verso livre muito próximo da fala coloquial, sem maiores apuros formais, ou do poema-sacação, construído em torno de um jogo de palavras, que é bem a praia de Leminski.
Você poderia comentar um pouco sobre suas principais influências de verso e prosa?
Em poesia, as leituras que me marcaram mais foram, em primeiro lugar, Shakespeare, Whitman e Dickinson — comecei a ler poesia quando morava nos EUA, por volta dos onze anos; depois, quando voltei para o Brasil, descobri Pessoa, o poeta que mais li, reli e tresli na minha vida, e pouco depois os modernistas brasileiros clássicos: Bandeira, Drummond, Vinicius, e um pouco mais tarde Cabral, mais ou menos na mesma época em que descobri Wallace Stevens. Acho que esses foram os fundamentais em poesia. Na prosa, comecei com Monteiro Lobato; depois, já morando no exterior, descobri os românticos americanos — Washington Irving e Nathaniel Hawthorne, principalmente; deles passei para Mark Twain; só depois dos vinte anos é que li o único deles que ainda leio e releio hoje, Melville. No Brasil, descobri meio que simultaneamente Machado de Assis e Kafka, este último a minha maior paixão no campo da ficção, juntamente com Clarice Lispector, Graciliano Ramos, Joyce — por fim, Proust, Witold Gombrowicz, Campos de Carvalho e Julio Cortázar, mais ou menos na época em que descobri Stevens e Cabral, já no final do meu período de formação. Se é que o período de formação termina algum dia.
Há uma mítica sobre tradução de poesia que diz que, ao contrário da maior parte da prosa publicada, os tradutores escolhem pessoalmente seus autores. Foi esse o teu caso, por exemplo, com o Lord Byron, com a Elizabeth Bishop ou com o Wallace Stevens?
Com Stevens, sem dúvida. O projeto de traduzir Byron nasceu de um curso sobre os poetas românticos ingleses que eu tive que dar na PUC; fiquei maravilhado com a leitura do Don Juan, e quando dei por mim estava traduzindo Beppo. Com Bishop foi diferente: comecei a ler as cartas dela, me apaixonei, a Companhia das Letras tinha acabado de comprar os direitos da obra dela, e das cartas passei para a poesia e a prosa.
O que você tem a dizer sobre outra mítica que afirma que a tradução de poesia é sempre mais difícil, mais autoral, que a de prosa?
É mais autoral, sem dúvida; quanto à dificuldade, depende. Há prosadores tão difíceis de traduzir quanto muitos poetas, ou mais até.
A tradução é sempre, como dizia Valéry Larbaud, a leitura mais amorosa, mais próxima. Traduzindo autores contemporâneos, essa proximidade às vezes se traduz também em um contato com o próprio escritor. Você já traduziu mais de cem livros: quais desses contatos foram mais (ou menos) frutíferos?
Os mais frutíferos foram com Thomas Pynchon e Updike, principalmente o primeiro, que me deu informações preciosas sem as quais teria sido difícil traduzir seus livros, principalmente O arco-íris da gravidade.
A prosa de Thomas Pynchon, que você conhece e traduziu tão bem, tem uma série de particularidades que divertem o leitor mas, sabemos, criam várias dificuldades para o tradutor. Você pode falar um pouco disso e da tua expectativa quanto à nova obra [Thomas Pynchon deve lançar um romance novo na primavera. As primeiras notícias parecem se referir a um romance “dos grandes” em todos os sentidos] que vem por aí, que você certamente vai traduzir também?
A tradução do Arco-íris foi um dos meus trabalhos mais gratificantes no campo da tradução. É um livro de mil páginas que exige em cada uma delas o tipo de reconstrução cuidadosa que exige um bom poema. Também Mason & Dixon foi um desafio e tanto, que me obrigou a inventar um pastiche de português oitocentista; foi trabalhoso mais foi muito divertido também. Mas não sei se vou traduzir o próximo livro dele. A vida acadêmica cada vez me toma mais tempo, de modo que estou traduzindo menos a cada ano.
Em poesia, as leituras que me marcaram mais foram, em primeiro lugar, Shakespeare, Whitman e Dickinson — comecei a ler poesia quando morava nos EUA, por volta dos onze anos; depois, quando voltei para o Brasil, descobri Pessoa, o poeta que mais li, reli e tresli na minha vida, e pouco depois os modernistas brasileiros clássicos: Bandeira, Drummond, Vinicius, e um pouco mais tarde Cabral, mais ou menos na mesma época em que descobri Wallace Stevens. Acho que esses foram os fundamentais em poesia. Na prosa, comecei com Monteiro Lobato; depois, já morando no exterior, descobri os românticos americanos — Washington Irving e Nathaniel Hawthorne, principalmente; deles passei para Mark Twain; só depois dos vinte anos é que li o único deles que ainda leio e releio hoje, Melville. No Brasil, descobri meio que simultaneamente Machado de Assis e Kafka, este último a minha maior paixão no campo da ficção, juntamente com Clarice Lispector, Graciliano Ramos, Joyce — por fim, Proust, Witold Gombrowicz, Campos de Carvalho e Julio Cortázar, mais ou menos na época em que descobri Stevens e Cabral, já no final do meu período de formação. Se é que o período de formação termina algum dia.
Há uma mítica sobre tradução de poesia que diz que, ao contrário da maior parte da prosa publicada, os tradutores escolhem pessoalmente seus autores. Foi esse o teu caso, por exemplo, com o Lord Byron, com a Elizabeth Bishop ou com o Wallace Stevens?
Com Stevens, sem dúvida. O projeto de traduzir Byron nasceu de um curso sobre os poetas românticos ingleses que eu tive que dar na PUC; fiquei maravilhado com a leitura do Don Juan, e quando dei por mim estava traduzindo Beppo. Com Bishop foi diferente: comecei a ler as cartas dela, me apaixonei, a Companhia das Letras tinha acabado de comprar os direitos da obra dela, e das cartas passei para a poesia e a prosa.
O que você tem a dizer sobre outra mítica que afirma que a tradução de poesia é sempre mais difícil, mais autoral, que a de prosa?
É mais autoral, sem dúvida; quanto à dificuldade, depende. Há prosadores tão difíceis de traduzir quanto muitos poetas, ou mais até.
A tradução é sempre, como dizia Valéry Larbaud, a leitura mais amorosa, mais próxima. Traduzindo autores contemporâneos, essa proximidade às vezes se traduz também em um contato com o próprio escritor. Você já traduziu mais de cem livros: quais desses contatos foram mais (ou menos) frutíferos?
Os mais frutíferos foram com Thomas Pynchon e Updike, principalmente o primeiro, que me deu informações preciosas sem as quais teria sido difícil traduzir seus livros, principalmente O arco-íris da gravidade.
A prosa de Thomas Pynchon, que você conhece e traduziu tão bem, tem uma série de particularidades que divertem o leitor mas, sabemos, criam várias dificuldades para o tradutor. Você pode falar um pouco disso e da tua expectativa quanto à nova obra [Thomas Pynchon deve lançar um romance novo na primavera. As primeiras notícias parecem se referir a um romance “dos grandes” em todos os sentidos] que vem por aí, que você certamente vai traduzir também?
A tradução do Arco-íris foi um dos meus trabalhos mais gratificantes no campo da tradução. É um livro de mil páginas que exige em cada uma delas o tipo de reconstrução cuidadosa que exige um bom poema. Também Mason & Dixon foi um desafio e tanto, que me obrigou a inventar um pastiche de português oitocentista; foi trabalhoso mais foi muito divertido também. Mas não sei se vou traduzir o próximo livro dele. A vida acadêmica cada vez me toma mais tempo, de modo que estou traduzindo menos a cada ano.