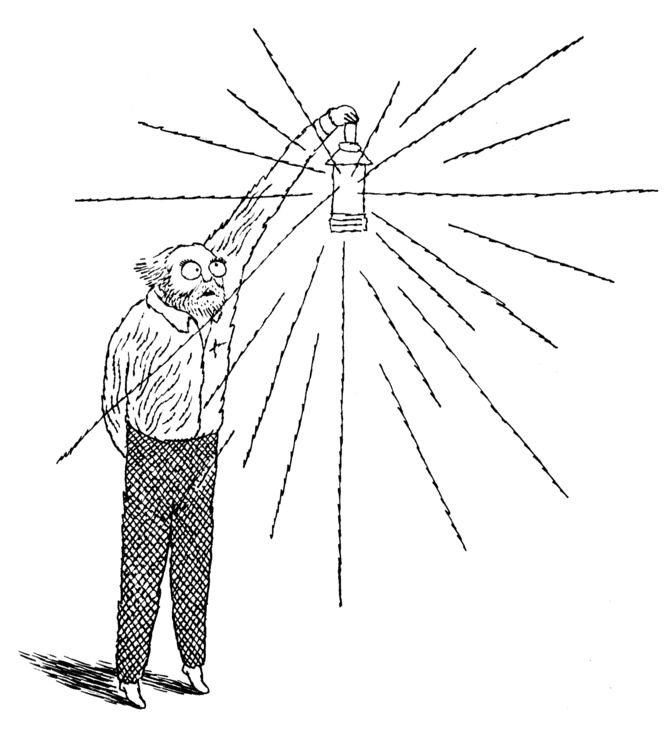Capa | Jamil Snege
Havia um rei, havia um reino
Jean Marcel Snege Você é parente do Jamil? É com desconforto que recebo essa pergunta quando surge meu sobrenome. Sinto como se a pessoa que indaga conhecesse melhor meu pai que eu próprio. Tímido, escapo na maioria das vezes, minto sem culpa. Ainda é difícil admitir meu pedigree.
Quando nasci, meu pai já passava dos quarenta. Ao ler o último capítulo de Como eu se fiz por si mesmo, você duvidaria que aquele amargurado narrador, descrente, depressivo, fosse capaz de começar tudo outra vez.
Muito do que ele deixou naquelas páginas ainda me surpreende. As pessoas não imaginam o Jamil como um pai de família classe-média, que consertava o ferro de passar, que buscava marmita no buffet por quilo, que cochilava vendo o futebol na quarta-feira. Querem detalhes da boemia, dos bastidores políticos, do processo criativo. E nada seria mais brochante que meus relatos sobre o cotidiano familiar. Por isso, fujo, mantendo intacto o culto ao personagem.
Minhas memórias são confusas e confesso que relutei em escrever este texto. A verdade é que mesmo após dez anos, não fui capaz de elaborar a morte dele. Eu, minha mãe e meu pai éramos muito ligados e dependentes emocionalmente dessa unidade. Bastavamo-nos, mesmo que cada um em seu universo, desde que estivéssemos juntos.
Ele fazia questão de me levar aonde fosse, para terror de alguns amigos que se intimidavam diante do pueril apêndice. Observava com idolatria o seu magnetismo e a capacidade de dominar a plateia. Era versado em todos os assuntos e quando não sabia a resposta, fazia saltar os volumes da nossa biblioteca.
Cresci em uma agência de publicidade, engatinhando entre layouts, perturbando a criação com meus brinquedos estridentes. Quanto mais velho ficava, mais vazia ia se tornando a casa. Onde antes trabalhavam quarenta pessoas, restaram apenas meus pais e a mobília. Era um ambiente caótico, pós-apocalíptico. As mesas se mantinham ocupadas, como se todos tivessem abandonado às pressas o local. Ao mesmo tempo, havia a tristeza da mãe que preserva o quarto do filho que não vai voltar.
A mística mesa do meu pai ficava bem ao centro da sala de criação. Pó, muito pó. Rascunhos, livros abertos e esquecidos, envelopes, embalagens de balas, uma lata vazia de coca-cola e a máquina de escrever. Eu sentava em uma mesa a sua frente e me distraía com papéis e canetas enquanto observava ele teclar suas palavras apenas com os indicadores. Mas para mim, o objeto mais fascinante era uma caixa de charutos, onde residia uma perniciosa e permissiva aranha.
A tampa se abria e surgia o tétrico mascote na lentidão de suas longas e finas patas avermelhadas. Passeava livremente, arrastando o corpo esférico, como uma bola de gude. Passava dias sem aparecer, antes de voltar ao ventre da caixa.
Na agência, ele ficava à espera dos errantes que chegavam sem hora marcada, sendo prontamente convocados a participar de atividades paralelas. Jurados de um concurso de pepino em conserva, ajudantes na secagem de pimentas vermelhas, embaladores de maracujá. Traga suas inquietudes e participe do adestramento de mandaruvá, venha discutir literatura e ganhe um prato fundo de spaghetti alho e óleo. Percorrer aquela casa desorganizada, lúdica, imprevisível, era invadir os cômodos da sua cabeça. Era o camarim da sua essência, seu grande palco aberto ao público.
Nunca vira meu pai doente. Mesmo sexagenário, tinha uma saúde sólida e se orgulhava do condicionamento físico, resquício dos tempos de militar, dizia. Quimioterapia, radioterapia, coquetéis medicamentosos. Efeitos colaterais tão ou mais nocivos que o câncer. Tornou-se uma caricatura, um magro arremedo de si.
Abraçá-lo era o mesmo que reter um pássaro. Era preciso domar a força diante da sua estrutura exposta, frágil, enquanto meus dedos tateavam os nódulos da metástase que tomava posse de seu corpo.
Lembro que naquela fase da infância onde começamos a entender as coisas e tirar as próprias conclusões, eu associava a calvície diretamente com o câncer. Para reforçar o quadro e a minha confusão, meu pai, nascido em julho, era canceriano. Mais velho, passei a entender o conceito de tempo e perceber as consequências da idade avançada. Vivi a expectativa de sua morte muito antes da doença.
Ao sair do hospital, onde encontrei seu leito já vazio, fui preenchido pela sua ausência. Não tive vontade de chorar, de falar, apenas de escrever.
A palavra escrita virou minha comunicação com ele. Passei a ler e reler com voracidade seus livros, a estudar as minúcias de seus textos, a buscá-lo em anotações, cartas, obras preferidas. Encontrei, apenas, um autor fascinante e uma vida anterior a mim.
Foi assim que perdi meu pai e ganhei Jamil Snege.
Quando nasci, meu pai já passava dos quarenta. Ao ler o último capítulo de Como eu se fiz por si mesmo, você duvidaria que aquele amargurado narrador, descrente, depressivo, fosse capaz de começar tudo outra vez.
Muito do que ele deixou naquelas páginas ainda me surpreende. As pessoas não imaginam o Jamil como um pai de família classe-média, que consertava o ferro de passar, que buscava marmita no buffet por quilo, que cochilava vendo o futebol na quarta-feira. Querem detalhes da boemia, dos bastidores políticos, do processo criativo. E nada seria mais brochante que meus relatos sobre o cotidiano familiar. Por isso, fujo, mantendo intacto o culto ao personagem.
Minhas memórias são confusas e confesso que relutei em escrever este texto. A verdade é que mesmo após dez anos, não fui capaz de elaborar a morte dele. Eu, minha mãe e meu pai éramos muito ligados e dependentes emocionalmente dessa unidade. Bastavamo-nos, mesmo que cada um em seu universo, desde que estivéssemos juntos.
Ele fazia questão de me levar aonde fosse, para terror de alguns amigos que se intimidavam diante do pueril apêndice. Observava com idolatria o seu magnetismo e a capacidade de dominar a plateia. Era versado em todos os assuntos e quando não sabia a resposta, fazia saltar os volumes da nossa biblioteca.
Cresci em uma agência de publicidade, engatinhando entre layouts, perturbando a criação com meus brinquedos estridentes. Quanto mais velho ficava, mais vazia ia se tornando a casa. Onde antes trabalhavam quarenta pessoas, restaram apenas meus pais e a mobília. Era um ambiente caótico, pós-apocalíptico. As mesas se mantinham ocupadas, como se todos tivessem abandonado às pressas o local. Ao mesmo tempo, havia a tristeza da mãe que preserva o quarto do filho que não vai voltar.
A mística mesa do meu pai ficava bem ao centro da sala de criação. Pó, muito pó. Rascunhos, livros abertos e esquecidos, envelopes, embalagens de balas, uma lata vazia de coca-cola e a máquina de escrever. Eu sentava em uma mesa a sua frente e me distraía com papéis e canetas enquanto observava ele teclar suas palavras apenas com os indicadores. Mas para mim, o objeto mais fascinante era uma caixa de charutos, onde residia uma perniciosa e permissiva aranha.
A tampa se abria e surgia o tétrico mascote na lentidão de suas longas e finas patas avermelhadas. Passeava livremente, arrastando o corpo esférico, como uma bola de gude. Passava dias sem aparecer, antes de voltar ao ventre da caixa.
Na agência, ele ficava à espera dos errantes que chegavam sem hora marcada, sendo prontamente convocados a participar de atividades paralelas. Jurados de um concurso de pepino em conserva, ajudantes na secagem de pimentas vermelhas, embaladores de maracujá. Traga suas inquietudes e participe do adestramento de mandaruvá, venha discutir literatura e ganhe um prato fundo de spaghetti alho e óleo. Percorrer aquela casa desorganizada, lúdica, imprevisível, era invadir os cômodos da sua cabeça. Era o camarim da sua essência, seu grande palco aberto ao público.
Nunca vira meu pai doente. Mesmo sexagenário, tinha uma saúde sólida e se orgulhava do condicionamento físico, resquício dos tempos de militar, dizia. Quimioterapia, radioterapia, coquetéis medicamentosos. Efeitos colaterais tão ou mais nocivos que o câncer. Tornou-se uma caricatura, um magro arremedo de si.
Abraçá-lo era o mesmo que reter um pássaro. Era preciso domar a força diante da sua estrutura exposta, frágil, enquanto meus dedos tateavam os nódulos da metástase que tomava posse de seu corpo.
Lembro que naquela fase da infância onde começamos a entender as coisas e tirar as próprias conclusões, eu associava a calvície diretamente com o câncer. Para reforçar o quadro e a minha confusão, meu pai, nascido em julho, era canceriano. Mais velho, passei a entender o conceito de tempo e perceber as consequências da idade avançada. Vivi a expectativa de sua morte muito antes da doença.
Ao sair do hospital, onde encontrei seu leito já vazio, fui preenchido pela sua ausência. Não tive vontade de chorar, de falar, apenas de escrever.
A palavra escrita virou minha comunicação com ele. Passei a ler e reler com voracidade seus livros, a estudar as minúcias de seus textos, a buscá-lo em anotações, cartas, obras preferidas. Encontrei, apenas, um autor fascinante e uma vida anterior a mim.
Foi assim que perdi meu pai e ganhei Jamil Snege.
Jean Marcel Snege é publicitário e artista gráfico. Escreve menos do que gostaria. Teve um conto publicado na edição número dois do Cândido. Vive em Curitiba (PR).
Ilustração: Rafael Sica
Ilustração: Rafael Sica