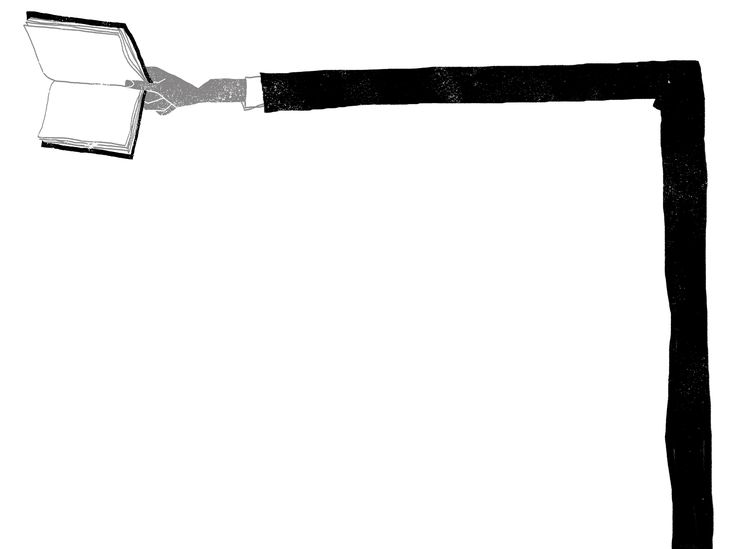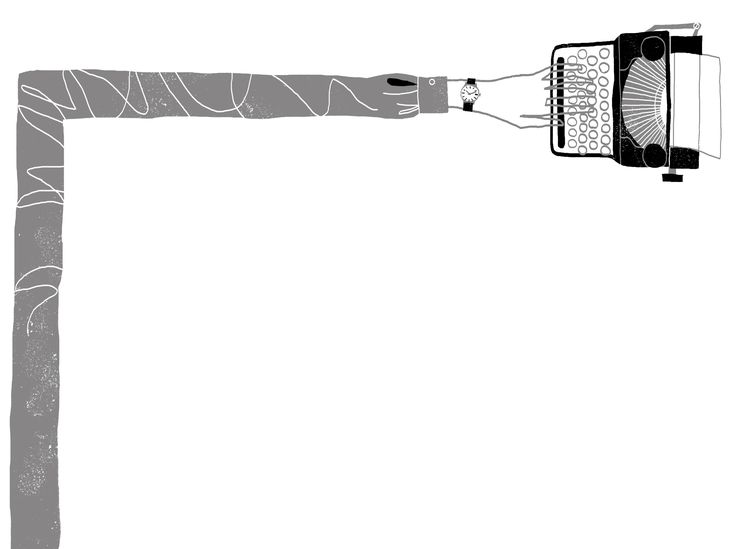Romance | Jamil Snege
O grande mar redondo
1.
Porque tenho braço fino, de moça, Padrinho disse que eu seria escritor. Padrinho morreu faz 34 anos. Disse isso quando eu era um rapazola e tudo o que fiz durante esse tempo foi conservar o braço na espessura exata do vaticínio. E garatujar algumas linhas trôpegas, que jamais tive coragem de mostrar ao mundo. Muitas vezes, em mangas de camisa, papel almaço e tinta, tomei da pena e, contemplando a elegante curvatura do punho, ordenei: — escreve, meu braço. Ele obedecia e riscava uns versos, alguma prosa, eu sempre atento ao parceiro de escrita que nessas horas insistia em desempenhar sozinho a tarefa. Meu braço escrevia e eu apenas o mantinha apoiado sobre a mesa. Era um braço escritor — eu, seu assistente.
Pouco dado à rudeza dos ofícios manuais, não me foi difícil conservá-lo esbelto e flexível. Fugi dos desportos, das artes militares e o máximo que me permitia em desforço físico era sopesar um grosso volume junto ao peito enquanto tentava calcular o quanto de sabedoria havia ali. Vivi entre os livros, se bem que não para os livros. A vida inteira cuidei de administrar uns bens, como este hotel que recebi de herança. Aqui, junto a esta mesa protegida pelo balcão, no fim de um corredor iluminado por uma claraboia, ocupando-me de uns poucos hóspedes, encontrei o ambiente perfeito para me dedicar ao que gosto. Sendo moço solteiro há setenta e quatro anos, não me vieram abraçar pirralhos e nem gentil esposa a me chamar à mesa. Esqueceram-me os jantares, os compromissos, a sagrada hora dos ofícios do lar. Jamais fui solicitado a amarrar espartilhos, a prender laços de fita numa cabecinha irrequieta, a devolver uma bola atirada contra minhas pernas. Senesci quieto, de pouca prosa, herdei de uma avó índia esse ser cismático, sem ser triste, porém.
Quando Padrinho morreu, em 1854, eu já estava entrado na casa dos quarenta. Nunca lhe dei o gosto de mostrar escrito meu. Ia adiando, em parte pelo temor de entrever em seus olhos um brilho zombeteiro, em parte pelo terror de negar o augúrio que ele fizera sobre a espessura de meu braço e o poder que esta me conferia. Há pessoas que se escravizam a um traço de beleza ou a um dom de inteligência ou caráter. Eu me escravizei à esqualidez, à escassez muscular, à diminuta massa óssea. Até hoje não atino de onde Padrinho tirou semelhante ilação, pois ele próprio era robusto de corpo, robusto de membros — e mesmo assim autor de obra vigorosa. Nunca lhe questionei essa contradição.
Se eu o fizesse, Padrinho assestaria contra o próprio peito os dardos da modéstia, recusando meu elogio. Julgava-se homem de poucas letras. E manifestou isso de forma comovente no frontão de sua Memória, suplicando à ilustre Câmara Municipal — a quem dedicou a obra — que fizesse emendar e corrigir as muitas palavras que não estivessem debaixo da regra. Confessava-me com humildade, um simples curioso que nem sequer aprendera a ortografia da língua portuguesa. No autorretrato com que se apresentou à posteridade, Padrinho descreveu-se grosso de corpo e de membros, rosto redondo, cheio e gordo, beiços meio grossos e vermelhos, dentes ralos e largos. Diferente dele, meu braço fino, de moça, afigurou-se-lhe um esplêndido poleiro para a gentil Calíope, musa da poesia épica e da eloquência.
Quanto à sua memória histórica, jaz ela com certeza no escuro de algum arquivo da Câmara Municipal à espera de publicação. É obra portentosa, na qual estão exarados os sucessos e fatos dignos de registro acontecidos em Paranaguá desde o descobrimento de suas formosas baías. Tudo o que sei de Paranaguá aprendi dela. Muitas vezes recolhi a página ainda molhada de tinta que o Padrinho acabara de escrever e afastava-me a um canto para saboreá-la com avidez. Eu era o único a ser admitido no seu gabinete de trabalho. Embora turvando-lhe a concentração, minha presença parecia infundir-lhe um certo ânimo. Parava, olhava-me demoradamente com seu olho arruinado sem dizer palavra, fitava-me longamente como se eu fosse uma parede ou uma nesga de céu — e de repente retornava da viagem a que se entregara com um sorriso iluminado e mão febril. Nessa época, encarregado da contabilidade da firma de um parente, Padrinho surrupiava-lhe algumas horas diárias para dedicar-se à sua obra. Que se danassem diário, balancete, razão. Que se danasse a própria sobrevivência. Tudo que fez na vida, Padrinho fez na contracorrente de sua vocação. Foi comerciante, almotacel, dono de engenho de mate, alferes da Companhia de Ordenanças da Villa de Antonina, procurador da Comarca de Paranaguá, secretário da Junta Paroquial da Freguesia de Morretes, tesoureiro de diversas entidades. Fabricou tintas, fez riscos de bordado, ensinou saltério a alunos sem nenhum pendor musical — em troca de três patacas que o estômago cobra para não desferir coices contras as tripas vizinhas. Mas sua paixão, aquela que o faria esquecer-se de todos os infortúnios, eram os livros, a pesquisa, o teatro, a música, as festas religiosas. Que anunciassem procissão ou quermesse, lá nos cafundós do Judas, e lá estaria Padrinho, penitente, devotado e solícito, a relegar às moscas o balcão do comércio ou a soca do mate que ficara para trás. Deixou milhares de páginas inéditas — astrologia, genealogia, história, onomástica, botânica. Escreveu sobre cemitérios, igrejas, longevidade humana. Inventariou os animais quadrúpedes terrestres e aquáticos, as aves e os pássaros voláteis que povoam a região aérea, os peixes, mariscos e crustáceos que habitam o reino de Netuno. Colecionou superstições e crendices: “Quando os cães vizinhos da casa de um moribundo começarem a uivar, é sinal de morte certa”. E os antídotos: “Basta virar os sapatos com as solas para cima e os cães logo se acalmam”. Certa noite, queixando-se de uma dor de garganta, fez-me enrolar a meia do pé esquerdo ao redor do pescoço e caminhar até a casa com aquele estranho atavio. Por sorte ou sortilégio, amanheci curado — Padrinho recomendou-me insistentemente que só retirasse a meia após a dor ir-se de vez.
Imerso nestas lembranças, enfiado em anos, a luz da candeia a iluminar o maço de papel que disponho sobre a mesa, oferto-me por fim aos caprichos do oráculo. Vem, ó doce Calíope, toma o leme deste meu braço e naveguemos juntos na redondez da história.
Ilustrações: André Ducci
2.
Aquela manhã ventosa de 1843 não augurava um bom dia para Antônio Vieira dos Santos. A perna doía-lhe e a vista direita arruinada — um golpe desferido à traição, no escuro de uma ruela — sobrecarregava-lhe a sã. Às vésperas de completar sessenta anos, aquela tarefa parecia não ter mais fim. Eram pilhas, gavetas, caixotes de documentos. Os arquivos da Câmara guardavam relíquias e papéis imprestáveis, lado a lado, com o mesmo e desleixado bolor. Os açúcares há tanto tempo retidos entre as fibras de papel ainda serviam de repasto aos bichos. E a umidade. E o ar abafado. E a má tinta e a má caligrafia. As datas em branco, para serem preenchidas depois. A pátina. As assinaturas irreconhecíveis. Memória bichada e carunchosa, retornando ao pó através do metabolismo de seus minúsculos comensais.
Traça-mor, capitão cupim daqueles empilhados, Antônio Vieira escarafunchava. Caruncho manco e zarolho, fortuito e gratuito. Nada ganhava com aquilo, talvez mais tarde o esquecimento e só. Mas precisava salvar a História. Transportá-la viva para a sua Memoria Historica, Chronologica, Topographica e Descriptiva da Cidade de Paranaguá e seu Municipio, onde por certo teria uma sobrevida de mais alguns anos.
Quem lhe abastecia a despensa durante aquele período de emendar, copiar, corrigir, coligir, organizar? Da mesma forma que tirava o papel da boca de seus pequeninos companheiros de ofí cio, Paranaguá tirava o pão de sua boca. Não fossem as aulas de saltério, os riscos de bordado que vendia às senhoras, Antônio Vieira passaria fome.
Fome e humilhação. Naquela manhã, antes de iniciar o trabalho, Antônio Vieira dos Santos cruzou o largo do Arsenal e penetrou numa pequena travessa adiante. Cuidava que ninguém o visse. O tronco ainda forte premia a perna estropiada, dando-lhe um movimento de meio pêndulo. Respeitado e admirado, ia fazer coisa ignóbil. Parou diante de uma porta e bateu. Aceitou um copo de água, enxugou com um grande lenço monografado o suor que descia para dentro do colarinho branco e colocou sobre a mesa os objetos retirados de um envelope pardo sobrescrito com seu nome. Eram os galões e adereços de chapéu de seu uniforme de alferes, patente confirmada por carta do próprio Imperador. Uma honraria que guardava com todo zelo, entre outras que colecionava desde sua chegada ao Brasil, ainda rapazinho e cheio de sonhos. Almotacel, procurador da Câmara, secretário da junta eleitoral, tesoureiro da irmandade do Santíssimo Sacramento — nenhuma lhe dava tanto orgulho quanto aquela cujos símbolos a penúria lhe obrigava agora a vender.
O dono da casa examinou sem pressa os esmaltes, os metais brunidos, os trançados e relevos. Retirou de uma caixinha de cedro algumas moedas de mil réis e colocou-as na mão trêmula e suada de Antônio Vieira, que recusou a cadeira que o outro só então lhe oferecia. Já na porta, uma lágrima escorreu sem aviso pela face contraída. É minha vista arruinada, justificou-se Antônio Vieira. E enxugou rapidamente o olho são.
Mas se há coisas capazes de ferir de morte o orgulho de um homem, outras há que têm o condão de curá-lo prontamente — tamanha é sua capacidade de se deixar iludir de novo pela vida. Horas depois, ainda o guizo das moedas a lhe atormentar a consciência, Antônio Vieira dos Santos retira dos arquivos da Câmara nova pilha de guardados. E encontra, carcomido e carunchoso, o fragmento de um livro que principia assim:
Dom João por Graças de Deos, Rei de Portugal e Algarves d’aquem e d’alem Mar em Affrica, Senhor de Guiné da Conquista, Navegação, Commercio da Ethiopia, Arabia, Persia e da India &&
A todos os Corregedores, Ouvedores, Provedores, Juizes e mais Justiças, a quem esta minha carta for apprezentada; e o conhecimento della, com direito deva; e haja de pertencer; e requerer.Saude – Faço saber que, a mim e ao meu Ouvedor Geral, com alçada do Estado do Brazil vinha a dizer por sua petição Gabriel de Lara Capitão e povoador da Villa de Nossa Senhora do Rozario de Pernaguá, que nela havendo... moradores... com suas cazas e famílias, e nella não havia Justiças, e nem Offiçiaes da Camara que os governassem, e por assim... barbara e confuzamente, sem tenção a quem recorrer; e era que lhe fizesse Justiça, na Camara que os governasem; e a Villa que mais perto ficava, era a de Cananéa que dista quatorze legoas; e era nesseçario que, se lhe acodisem com o remedio competente para que se fasa na dita Villa a Eleição de Juizes, Vereadores, Procurador, e Almotaçeis; para que governassem a terra; administrasem a Justiça...
Lá embaixo a data: aos 29 do mez de Julho, anno do Nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de 1648. Um documento precioso, que há 195 anos jazia submerso naquele mar de esquecimento e deterioração. Antônio Vieira o resgatara ainda vivo, aqui e ali trespassado pelo dente da traça e do caruncho, mas vivo. E era como se de repente o tempo ressuscitasse. E lá estava Gabriel de Lara, parado diante da porta de sua casa, peito erguido na sua vestimenta de capitão. E mandava que tocassem a caixa, e chamassem todo o povo ali. E os toques de caixas foram ponteando a tarde, dobrando as ruas, invadindo as janelas. E nas janelas primeiro apareceram as cabeças dos escravos, que os senhores ainda dormiam a sesta, e alguns índios que andavam por ali, e uns cavalos que pastavam debaixo de umas árvores, e umas aves que avoaram de susto, e umas crianças que correram à rua e ficaram à distância assistindo ao veloz galope do tambor. E uns marinheiros que desceram em terra, um padre que subiu no alto da torre de sua igreja, uma mulher que acabara de parir e cujo filho berrou um grito que parecia de guerra ao som do couro percutido. E as vacas, que mugiram, e as galinhas, que correram a se esconder debaixo das casas, e o artista da caixa com suas varetas rápidas picotando os beirais, sacudindo os umbrais, bulindo com um rebanho de nuvens esgarçadas que se atropelava lá no céu. E as velhas benzedeiras, com seus terços e ramos de arruda, e as beatas, a beijar os bentinhos, e os vendeiros, e os tanoeiros, e os pedreiros. Largue a agulha, filha minha, pare de varrer o terreiro, deixe a água lá no poço, prenda esse cabelo, bote um xale no pescoço, que o Capitão está tocando. É o dilúvio, é o fim do mundo, é El-Rei que está chegando? São de novo as caravelas, uma perdida baleia, a corte das nereidas, o ataque de um pirata?
O povo todo acudiu ao chamado do tambor. Era o Capitão convocando para as eleições. Que, entre os que ali se encontravam, se escolhessem os eleitores. Os que parecessem de consciência mais sã. E esses assim foram escolhidos. E de seus votos se elegeram João Gonçalves Peneda e Pedro de Uzeda, juízes; Domingos Pereira, Manoel Coelho e André Magalhães, vereadores; Diogo de Braga, procurador do Conselho; e Antonio de Lara, escrivão da Câmara. E todos os sete foram juramentados perante os Santos Evangelhos.
Vila por ato e vontade de Dom João IV, crescida de seis ou sete mil almas, elegendo juízes e oficiais da Câmara, Pernaguá tinha então lei e grei para ir ocupando aqueles ermos, conforme exigia o Deus Altíssimo e era servido.
Antônio Vieira deixou que seu rosto se iluminasse de uma alegria surgida lá dos escaninhos da alma. Os galões de alferes silenciaram seus guizos acusadores e a manhã ventosa e de mau augúrio transformava-se numa jornada estupenda. Ali estava o começo de tudo, o início da história grafada. Pernaguá já vinha de tempos, mas ágrafo e modulado nos acentos da oralidade. Ou, quando muito, referido de viés nos registros de Santos, Cananéia, São Vicente, Itanhaém. Dali por diante era letra escrita, documento. Cartas, vereanças, alvarás, ofícios, provisões. Palavra lavrada na gramatura do papel.
3.
À medida que o tempo passa, os fantasmas vão perdendo sua substância. Se, no inicio, sentam-se à mesa com sua forma física incorruptível e são até capazes de empunhar talheres, com o correr do tempo transformam-se em miasmas senis. Dissipam-se, esboroam-se, são ora um vulto sem olhos, uma luz mortiça vagamente antropomórfica, um sutil movimento de asa, algo que se assemelha ao voo de um inseto ou ao rastejar impreciso de um réptil no escuro.
Outras e raras vezes, entretanto, eles ressurgem nítidos e belos, a chacoalhar suas armas e armaduras, a desfraldar estandartes e brandir espadas, a consultar antigos códices sob a luz que emana da ponta de seus dedos. Mas isso somente em certas noites, quando o ar carregado de eletricidade comunica-lhes uma estranha e inesperada energia. Aí então inflam suas velas, eriçam suas plumas e fendem a escuridão com gargalhadas que o menos sagaz dos observadores confundirá com as matracas que lhes sopra o vento.
Essas noites, geralmente, são noites de lua nova. O noroeste esgarça fiapos de nuvem no céu e varre as ruas e praças com o hálito gelado de suas narinas. Os que não dormem passeiam olhos insones pelo teto, descobrem um e outro detalhe no reboco da parede, uma até então imperceptível cicatriz no retrato a óleo da bisavó menina que há quase cem anos sorri para a luz mortiça da lua.
Mas não olham para fora. O noroeste é um vento mau, que depois de passar por entre os vãos da sineira da igreja de São Benedito vem bater justo na janela. Não há vivalma na rua, a não ser um estranho cão sem pelos, que os antigos chamavam de jaguapeva, a cheirar uns ossos junto ao muro do colégio. O cão pelado é o único vivente, pois até as águas do Taguaré estão silenciosas de peixes. Nem mesmo as aranhas fiandeiras, que armam suas redes nos beirais, atrevem-se a abandonar as frestas escuras da pedra. Dentro, a luz que dança sobre a cicatriz da bisavó menina revela a dura presença de uns objetos que o dia fez passar despercebidos — um pedaço de corda, uma navalha —, como a sugerir que o noroeste é o vento dos suicidas.
Nessa hora, quem olhasse lá nos mangais do Emboguaçu veria uma tropa de quarenta besteiros e quarenta espingardeiros, guiados pelo degredado Francisco de Chaves, lanhados e esfarrapados, vagueando em busca de um ouro que foi prometido a Martim Affonso de Souza num longínquo 1531. A tropa se afundou há muito nos pântanos do sopé da serra, ou foi dizimada pelos índios, mas a lua nova e o noroeste têm o dom de reacender a chama desse ouro e de atrair para as imediações da vila essa legião de desgarrados.
E esse que toca o sino agora, a desoras, logo o dobre de finados, quem é senão o sacristão Manoel Lobo, ávido para embolsar mais três patacas pelo ofício de anunciar os passamentos?
E João Barrameu, o que ficou escondido até o nascimento sob sete saias, e que nunca soube quem o pariu e quem o gerou, e que a todos assombrava com a sua formosura?
E a pequena Catherina, a bela, que ao se tornar mulher sucumbiu a uma estranha enfermidade que a fez enamorar-se de si mesma?
E a fiel Manelisa, que se recolhia todas as noites ao seu quarto de viúva com duas xícaras de chá, uma com muito açúcar para seu amado defunto?
E o general Pimentel, revirando-se no leito, enquanto o causador de sua insônia refestelava-se sob os lençóis da célebre madre Paula, alcovitado no mosteiro das Odivelas?
E monsieur Charles La Chiné Bolorot, indômito corsário, naufragado de saudades dos fartos pelos que recobrem o monte-de-vênus das francesas?
E o sargento-mor Domingos Cardoso Lima, dono das ricas minas de Panajóias, que só admitia entrar na vila ao som triunfal de trompas e clarins, cavalgando no centro de uma banda completa de instrumentos de sopro formada por escravos músicos?
É lua nova, sopra o noroeste e o tempo é um imenso pulmão que faz a vida fluir e refluir. Os fantasmas já não são sombras senis, mas seres de consistente carnadura que impunham talheres, espadas, geram filhos e experimentam as vicissitudes do século. E como todos os vivos, também são frequentados por fantasmas.
Em noites de lua nova, quando sopra o noroeste, é difícil, senão impossível, distinguir uns e outros.
Jamil Snege nasceu em 1939 em Curitiba (PR). Atuou como publicitário em campanhas comerciais e políticas. Escreveu, entre outros títulos, as coletâneas de contos Ficção onívora (1978) e Os verões da grande leitoa branca (2000), as novelas Tempo sujo (1968) e Viver é prejudicial à saúde (1998) e o romance autobiográfico Como eu se fiz por si mesmo (1994). De 1997 a 2003, ano de sua morte, publicou crônicas no jornal Gazeta do Povo — alguns desses textos estão reunidos na coletânea Como tornar-se invisível em Curitiba (2000). O texto publicado nesta edição faz parte do romance inédito O grande mar redondo.