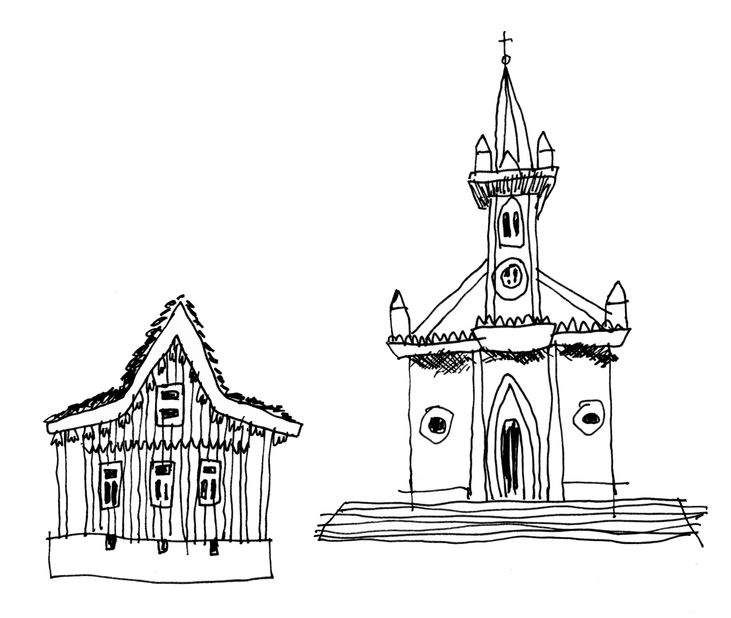Romance
Mugido de trem
Nilson Monteiro
“Se eu morrer, estás perdoado. Se eu me recuperar, então veremos.”
Provérbio espanhol
(1)
— Mãe morreu, de uma fisgada só, e o que restou foi um pai morto.
Um pai morto, olhos embaçados em meio às cortinas das olheiras. Banha estufada, o fogo selvagem a arder-lhe o corpo embebido em álcool, atormentado, passado ou presente, quebradiço, sem descobertas para os filhos. Cem galos e galinhas índios a ciscar terrenos remelentos de água. Sob a sombra espalhada pelas mangueiras e chapéus-de-couro, o tempo escorrido, as histórias recentes ou desgastadas, saudades mal costuradas a escapar vez ou outra como roupa com cheiro de baú, naftalina, olhos e alma molhados.
Dez filhos, oito vidas, cicatrizes nas mãos grossas e unhas em luto da terra. Uma morreu tão cedo, mal de doçura, disseram, o corpo tremia, a boca quase roxa, seca. Ana Maria.
— O outro morreu mais velho, homem feito, o primeiro filho da minha mãe e do meu pai. Eu, Modesto, vinha logo depois dele; eu era o segundo dos homens.
Segredos ou tristezas em tormentas guardadas na cristaleira antiga herdada da mãe, pura madeira de lei, espelhos trincados e vazia de cristais. Quase vazia de tudo, de pratos, de copos, de canecas. Uma cristaleira vazia no canto da sala, indiferente aos outros móveis, comidos por cupins. Um móvel nobre, o sonho ancorado em meio ao comum. Pedaços de gelo virando mar bravo, cavalos líquidos empinados no musgo do barco amarelo e vermelho descorados.
Os pés largados sempre na merda de porco, o tempo lavando de leve o telhado pelado, sem forro, ninhos de passarinhos caídos sobre os lençóis, aranhas passeando pelas paredes, assustadas com as lagartixas. Um desprezo raivoso pelas botinas limpas ou roupas limpas. Raízes, feito nervos escapados em vários lugares da carne do terreiro, a manhã, a timidez do sol, a timidez das gentes. Depois o sol cresce, bola de fogo, amarela, vermelha. Suam as camisas de brim, embaixo dos sovacos ficam rodelas brancas. Secas.
(2)
A manhã arfava sobre as ruelas magriças, aqui e ali mais calorentas, a torre indiferente da igreja e seus sinos silentes, botecos ainda de bafos ardidos cheirando à ressaca, o lenga-lenga de carroças e os olhos parados de um cachorro à beira do açougue. Olhos parados nas linguiças penduradas. Ossos descarnados jogados às moscas atrás do balcão. O caminho lerdo pelo som do silêncio, leite entregue em litros de pinga, quem diria João que as delícias de uma cidade grande o seduziriam a ponto de apagar, em choques na cabeça, esta vida passando devagar nas janelas e pelas paredes tingidas de visgo da terra?
O sopro da manhã na areia roxa pouco o incomodava, mesmo que tingisse a camisa puída nas mangas e na gola. Os telhados, os sons, as buzinas e a eletricidade da outra cidade, a imaginada, com milhões de toneladas de concreto, penetram seus passos a caminho único, manchas brancas derretendo-se no céu azulado (parecem uma vaca chifruda ou um pedaço de galho enfiado na terra. Ou o rosto do demônio, boca arreganhada?). Parecem manchas, são manchas carregadas pelo vento preguiçoso. A porta metálica da farmácia o aguarda. Barulhenta, guincho birrento, a graxa seca nas beiradas, chama a atenção de todos. Lá dentro, as centenas de caixinhas, porções, pílulas, xaropes, óleo de bacalhau, óleo de rícino, pomadas, esparadrapos, purgante, álcool, arnica, agulhas, ampolas, algodão, uma cruz, triste, quieta, esquecida em parede destoante, meio ensebada, a chama da vela quase morta pingando rotas orações.
Quem diria que, ao abrir este mundo quase antisséptico, o estômago sentiria embrulhos, sentimento de repulsa a vazar arrotos? Seria aquela parede meio ensebada entrando pelo nariz? Um emprego seguro, rotineiro, ancorado na cidadezinha não lhe basta, João? A vida passa devagar e os sonhos viram fumaça entre os dedos. Não basta.
Já bastam meus irmãos mais velhos, um na terra, debaixo, e dois fincados, que se negam a sair do lugar. Carregam a crosta nas costas. Parecem caramujos. Parecem destinos traçados, linhas cruzadas. O barulho do trem trinca o pensamento.
João atravessa a rua, dá com a mão para o compadre. Pense bem, João. Não pense bobageiras, João.
(3)
— Claro, estou muito bem. Os alunos não perturbam minha paz, apesar dos berros antes e depois das aulas da manhã e da tarde, parecendo um enxame. E os pais, de vez em quando, com a conversa mole de querer amolecer o coração de professora. Enchem, sim, um pouco, mas não é muito. Claro, perturbam muito menos o professor Oliveira, nosso diretor, e dona Carola, a inspetora, sempre de guarda-pó branco, feito enfermeira a cuidar de sua própria doença. O salário, pouco, dá pra ir levando sim. Estou acostumada. Não passo seis meses sem comprar tecidos e um ano sem sapatos novos, tudo da loja do Yamauchi. À prestação, mas pago, tim-tim por tim-tim, todo mês. Os moços ficam de olho, no passeio (dizem que em inglês é footing, alguns falam vamos pro “futi”) da pracinha da igreja, quando a gente roda sempre no mesmo rumo e faz de conta que não vê as piscadas e as besteiras que eles falam. Minha finada mãe dizia que o meu pai fazia o mesmo. Só que naquele tempo ele tinha vergonha de falar besteira. Só mexia com as moças, com todo respeito.
Este tempo ficou.
— O pai não tem vontade nem de lembrar o que ficou pra trás, o que se arrastou, quanto mais confirmar se era verdade o que a mãe contava.
Ele engole palavras no peito duro.
Dançava tango em cima de uma mesa de boteco. Bebia vinho, se entupia de muito vinho, misturava com cachaça, parecia groselha. Cantava, arrebitava os olhos sobre as mulheres e bailava com elas até o dia desmaiar e a noite tingir o fundo do horizonte ou o dia nascer de dentro da saia da noite. Dizem que sua voz era mais forte, mais forte até do que o barulho que ele tirava do berrante, cercando boi no pasto, empurrando os animais, contando chifres e fazendo entrar no mangueirão. Sabia se faltava algum boi, adivinhava quando morria um deles, de sede, de bicheira, de raio nas cercas de arame farpado ou de raio embaixo de árvore solitária. Parece que sentia pelo cheiro quando roubavam alguma vaca, macho reprodutor ou bezerro. Se encontrasse o ladrão, era ferro, faca ou bala, não tinha conversa. Passava remédio nas bicheiras, esfregando o couro, como quem curava a alma dos bois, os olhos grudados nos tremidos da carne dos animais. Arrancava berne na unha. Gemia de alívio junto com o boi.
Cantava nas madrugadas, cantava de manhã, cantava de tarde, cantava de noite, misturava a voz com a tinta do vinho, que manchava os copos e os dentes, quase nenhum, amarelados e pretos, manchados de cigarro, a boca quase murcha, vincada. Um homem forte, branquelo, a testa alva, cabelos esparramados pelas sobrancelhas e, em tufos, vazando das orelhas. Sempre de camisa de mangas compridas e com o primeiro botão estrangulando o pescoço. O que lhe sobrava para fora das roupas era queimado pelo sol, fendas fundas rodeando os olhos, a boca, o bigode geado.
Quando se entupia de vinho e de cachaça, borracho, suspirava o banzo de castanholas, guardadas com zelo em algum esconderijo da memória, amadas como o terreno mágico das arenas, borradas de sangue e espadas. Olé, gritava, olé, e mugia quase como um touro da Extremadura, ferido, sangue pelas costas, panos rubros, espetos, bandeirolas, um toureiro e um touro, risos e gemidos, na arena de Madri. Ou de Cáceres. Um touro ferido no peito. Olé, gritava ao elogiar as esporas cruéis e sangrentas de seus galos com as cristas eriçadas. Olé, gritava, desde o mais fundo dele, ao cortar os bagos de um cavalo, furar o coração de um porco, abrir as carnes de uma vaca, imolando, esporas tingidas de sangue como os lábios tingidos de vinho, canivete afiado feito língua de lavadeira.
— Ninguém enfrentava o trabalho de frente como o pai.
Descendente de mouro, vindo de onde vieram os mouros, mouro como os outros mouros, espanhol com os outros espanhóis que fugiram de desventuras de sua terra sem mar, empedrada, e vieram bater os costados nesta terra vermelha, visguenta, poeira cobrindo e descobrindo o passado.
Quando chegou, lembram, tinha os olhos, miúdos, atiçados na fogueira do futuro, gravetos nas mãos da mãe, a avó, que veio, muito velha, da mesma terra, de morros duros e chão rachado, seco. Do mesmo chão onde as bellotas se espalhavam ao redor das árvores e eram comidas, com fome e prazer, pelos cerdos, porcos às vezes cruzados com javalis para manter a raça e curar a fome dos sitiantes. As carnes das patas negras, comidas como presunto cru, o faziam sonhar com o sítio onde fora criado.
— A mãe, não. A mãe era o contrário.
A mãe era de terra fértil, onde as oliveiras espalhavam-se, cabelos verdes ao vento, azeitonas graúdas despencando de seus braços carnudos. Ciumentas, as videiras brotavam cachos roxos, bagos grandes que manchavam a boca, os colos, as roupas. As bocas brotavam sedutoras, vermelhas ou roxas. Na terra de fartura, as mulheres apanhavam uvas, azeitonas, colhiam trigo, cozinhavam, costuravam, rezavam ladainhas, os rostos cobertos por véus negros, rezando em igrejas de pedra, rezando com os peitos e as banhas em cima das tinas, rezando batendo roupas nas pedras dos riachos.
— A vida é dura, Pureza, mas já foi muito pior, recitava minha mãe, todo santo dia. Pior foi seu irmão, o José, que morreu de patada de mula depois de revirar a terra seca, esperar a chuva para molhar o chão e depois semear amendoim. Precisa ver como ficou a barrigada dele, toda estropiada, contava a mãe, porque eu não vi, era muito criança e os mais velhos não deixavam a gente ficar perto de doente ou xeretando conversa de adulto. Foi uma choradeira só, a reza, o corpo presente, terno preto, lábios costurados, a testa branca, cor de gelo. As mãos, brancas, feitas de cera gelada. As tias, os tios, primos, a mulher dele, as filhas, todo mundo ali, sufocado na sala, o caixão no meio, cheirando à rosa e jasmim.
Cheiro de rosa e bem-me-quer misturado com o lume das velas derretidas em fogo lerdo. Fungando lágrimas, as comadres matraqueavam o que era bom para limpar o corpo, arrependimento, pedidos de perdão divino, e o espírito subir limpo para o céu. De vez em quando, os homens saiam pro fundo da casa, enrolavam-se na fumaça ardida dos cigarros, estalavam a língua na cachaça, bebiam o morto e riam de piadas velhas. As histórias quase decoradas em todos, indo e vindo, feito mar batendo nas mesmas pedras. Depois, voltavam, fechavam a cara e abraçavam, despejando pêsames sobre o pai, a mãe e as crianças. As crianças lambuzavam os beiços e o estômago de tubaina e sodinha.
— Da Ana Maria, a mãe lembrava de vez em quando. Sempre quando estava meio amuada, quieta demais. Ao redor de seu vestido, primeiro escutávamos palavras mudas, os lábios em reza, o terço nas mãos, os olhos fechados. Depois, de repente, os olhos ganhavam brilho, grudados no céu. Dizia que via Ana Maria brilhando entre as estrelas. Um brilho feliz, o mesmo dos olhos da mãe. Eram palavras doces para lembrar sua filha que morreu doce.
(4)
— Era o primeiro filho. Eu não vi, mas contam até hoje que ele derrubava um bezerro com um soco na cabeça; trabalhava na roça até o sol sumir e não tinha sábado, domingo, nem feriado, não respeitava dia para o trabalho. Todo dia era dia, Isabel, me contavam. Todo dia era dia. Não era pinguço, respeitava a família como nenhum outro e era casado pela segunda vez. A primeira mulher, me contaram bem mais tarde, coitada, morreu de parto da primeira filha. José estava na lida e quando voltou sua mulher passava mal. Levaram ela de charrete pra cidade, correndo pro hospital, mas só conseguiram salvar a menina. No velório do pai, a minha sobrinha, muito mais velha do que eu, era a que mais chorava, desesperada. Nasceu e matou a mãe, viveu e chorou o pai.
Nilson Monteiro é jornalista e escritor. Autor de, entre outros livros, Pequena casa de jornal. Vive em Curitiba (PR).
Ilustrações: Fabiano Vianna