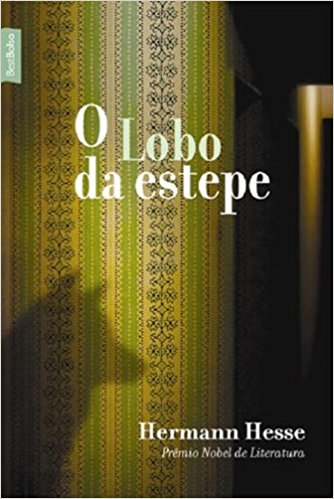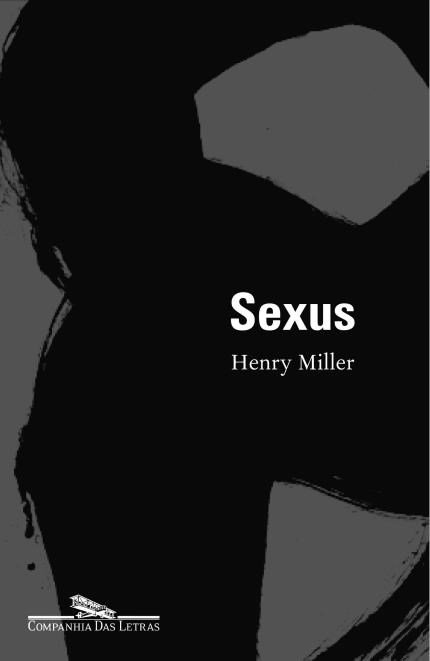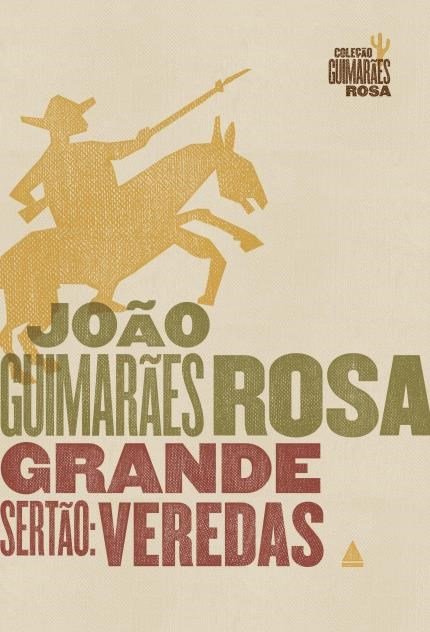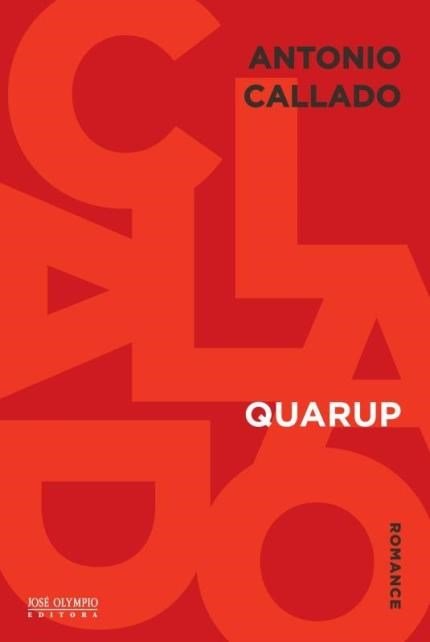Reportagem | Livros 1968
Livros que fizeram a cabeça dos incendiários
Títulos teóricos e principalmente obras literárias seduziram o imaginário dos jovens de 1968, uma geração que queria mudar o mundo, ampliar horizontes e caminhar contra o vento, sem lenço e sem documento
Daniel Tozzi
“A leitura política era quase uma necessidade naquele momento”, afirma a professora Marta Morais da Costa, integrante da Rede de Estudos Avançados em Leitura da Cátedra Unesco da PUC-Rio e ocupante da cadeira número 27 da Academia Paranaense de Letras (APL), sobre o ano de 1968, período em que já ministrava aulas em Curitiba. No Brasil que assistia ao recrudescimento da ditadura, a contestação passou a ser norma para uma parcela da juventude, sobretudo entre aqueles que flertavam com utopias, canções, poemas e, como cantou Caetano Veloso em “Alegria, alegria”, “pernas, bandeiras/ bomba e Brigitte Bardot”. Mas, para não naufragar em metáforas e ir direto ao ponto, segue a questão: o que a literatura representou aos aspirantes a revolucionários de 50 anos atrás?
Para além da trinca sagrada dos “3Ms”, que compreende os escritos de Karl Marx, Herbert Marcuse e Mao Tsé-Tung, ou mesmo os datados Revolução na revolução (1967), de Régis Debray e A arte de viver para as novas gerações, de Raoul Vaneigem (este último um dos livros mais vendidos na França em 1968) que, inegavelmente, tiveram enorme repercussão entre os jovens de 68, algumas narrativas de ficção — literalmente — fizeram a cabeça daquela geração.
Livros como O lobo da estepe (1927), do alemão Hermann Hesse, Sexus (1949), do norte-americano Henry Miller, e os brasileiros Quarup (1967), de Antônio Callado, e O prisioneiro (1967), de Erico Verissimo figuram entre os 10 títulos mais lidos em 1968. A informação pode ser conferida nas páginas do “Suplemento do Livro”, veiculado nas edições de sábado do Jornal do Brasil — que publicava mensalmente uma lista com as dez obras mais populares no país.
Mesmo distintas em suas essências — algumas das narrativas apresentavam elementos políticos como pano de fundo, e outras não —, as quatro obras traziam consigo características que justificam a alcunha de “livros que fizeram a cabeça” da geração de 1968. Estudante universitário naquele ano que — de acordo com um clássico de Zuenir Ventura — “não terminou”, o escritor e jornalista Domingos Pellegrini acredita que a diversidade das visões de mundo presentes nas obras de Hesse, Miller, Callado e Verissimo demonstra que a chamada “geração 68” não era uma, no singular, mas sim um conjunto de pessoas reunidas numa só designação, que era unitária “apenas na oposição ao autoritarismo e ao conservadorismo”.
Pellegrini também cita outro traço marcante daquela “geração”: compartilhar gostos para se enturmar, “comunizar-se”, como ele define. “O lobo da estepe, por exemplo, eu só li porque era muito lido por quem eu conhecia”, conta Pellegrini, autor, entre outras obras, da coletânea de contos O homem vermelho (1977) e do romance O caso da chácara chão (2000), ambas reconhecidas com o Prêmio Jabuti.
Com 16 anos em 1968, Milton Hatoum, vencedor do Prêmio Jabuti de 1990 com o romance Relato de um certo oriente (1989), afirma que boa parte dos livros que costumava ler na época não faziam parte da grade curricular das escolas. “Lia muito a poesia de Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira e Guillaume Apollinaire e, nos anos 1970, descobri a poesia e prosa hispano-americana”, diz o escritor que em 2017 lançou A noite da espera, primeiro romance da sua trilogia “O lugar mais sombrio”, que retrata a repressão militar no Brasil nas décadas de 1960 e 1970.
Foto: Kraw Penas
Milton Hatoum, que entre 1967 e 1970 viveu na cidade de Brasília, ressalta que o contexto da vida brasileira durante a ditadura fazia tudo estar muito ligado à política
Desbunde e revolução
Para o escritor e professor aposentado da UFPR Paulo Venturelli, o legado do alemão Hermann Hesse, um dos gurus do desbunde e adepto do misticismo oriental, era lido pela juventude da época justamente por conta da aura em torno de um mundo alternativo presente em obras como Sidarta (1922) e O jogo das contas de vidro (1943), além do já mencionado O lobo da estepe (1927). “Isso tudo ‘casava’ bem com a busca hippie por uma nova modalidade de vida”, afirma Venturelli, autor, entre outros títulos, do romance Madrugada de farpas (2015) e da prosa poética Bilhetes para Wallace (2017).
Quem pensa da mesma maneira é Daniel Aarão Reis, historiador e autor do livro 1968: a paixão de uma utopia (1988). De acordo com ele, obras como as de Hesse “exprimiam a atmosfera daqueles tempos em que se vivia um vendaval de mudanças”. No entanto, Reis, também professor da Universidade Federal Fluminense (UFF), acredita que esses livros, “que incentivavam o desbunde”, só viriam a se tornar mais populares e lidos anos depois, “quando a barra pesou”. “Os movimentos sociais que adotavam a pressão das massas como forma de luta foram inviabilizados com o Ato Institucional Número Cinco (AI- 5), o que contribuiu para a difusão dessas leituras. Alguns desses autores também passaram a ser muito lidos por quem estava no exílio”, explica.
Outro escritor cuja obra foi alvo assíduo dos leitores em 1968 é Henry Miller, ícone da literatura erótica norte-americana. Sua trilogia da “Crucificação Encarnada”, composta por Sexus (1949), Plexus (1953) e Nexus (1959), lançados anos antes da revolução sexual propagada pela juventude de 1968, atingiu com força aquela geração. “A trilogia de Miller escancarou o sexo como uma atividade sem amarras. Isso mostrava que a vivência do corpo e do prazer tinha um componente revolucionário, na medida em que se desvencilhava de preconceitos e tabus. Miller soou como um libertário e seus livros embalavam a busca por aquilo que se tinha como vida livre”, pontua Paulo Venturelli.
Milton Hatoum vai na mesma linha e acredita que os livros de Henry Miller, ou mesmo Herbert Marcuse, estavam em sintonia com os anseios de parte daquela geração. “São obras que falam da liberdade sexual, erotismo, rompimento de normas e valores burgueses”, afirma o escritor amazonense, que também ressalta um ponto já mencionado por Pellegrini — a heterogeneidade presente entre os jovens da época: “Uma geração nunca é uniforme. Havia tribos diferentes e até antagônicas: a do desbunde, anarquista e libertária; a da esquerda mais dogmática e careta; a da esquerda católica; a dos trotskistas e uma enorme tribo de alienados ou indiferentes”.
O “Braza” é uma brasa, mora?
Entre as produções nacionais, uma de grande impacto para o contexto de 1968 é Quarup (1967), do carioca Antônio Callado, “espécie de Bíblia que passava (e ainda passa) ao leitor um espírito de nacionalidade e identidade”, na definição de Paulo Venturelli. Ao narrar a epopeia de um padre que tenta refazer uma civilização jesuítica na região do Xingu, a obra percorre um período da História que vai desde o fim da era Vargas até o ano de 1967. Desta forma, Callado, uma das primeiras vozes a se contrapor aos desmandos dos militares, chega a retratar, em Quarup, o dia a dia de uma incipiente luta armada contra a ditadura. Daniel Aarão Reis, na época membro da Dissidência Comunista da Guanabara e bastante ativo no combate ao governo, corrobora a tese de Venturelli, e vai além: “Logo que publicado, Quarup se tornou leitura obrigatória”.
Foto: Reprodução
Jornalista, romancista e dramaturgo, Antônio Callado ganhou destaque na literatura brasileira com A madona de cedro, romance de 1957. A partir dos anos 60 sua produção ficou marcada pelo viés político de obras como Quarup (1967), Bar Don Juan (1971) e Reflexos do baile (1977)
A exemplo de Quarup, O prisioneiro também foi lançado em 1967. Não é dos romances mais aclamados de Erico Verissimo (aliás, é o penúltimo da carreira do escritor gaúcho, morto em 1975), mas teve sua importância para quem ouviu Geraldo Vandré lançar “Pra não dizer que não falei das flores” e testemunhou a dissolução dos Beatles. Inspirado nos acontecimentos da guerra do Vietnã, que convulsionava a juventude norte-americana, Verissimo narra a jornada de um tenente do exército de um país fictício que, além dos horrores e dramas pessoais de uma guerra, enfrenta o preconceito por ser filho de um negro. Para Paulo Venturelli, a violência do livro criticava, “pela tangente”, as atrocidades do regime militar no Brasil: “Ler O prisioneiro tinha um caráter de desforra. Os leitores o tinham como reflexo daquilo que, ‘por debaixo do tapete’, acontecia nos porões da ditadura”.
No entendimento de Marta Morais da Costa, autora, entre outros livros, de Palcos e jornais: representações do teatro (2009), no ano de 1968 a literatura feminina (não necessariamente feminista) também começou a ganhar força no Brasil. Entre as obras citadas por Marta, A paixão segundo G.H. (1964), de Clarice Lispector, e a reunião de crônicas de Rachel de Queiroz, O caçador de tatus (1967), deflagram um pioneirismo por parte das escritoras mulheres. “Esses livros atenderam um anseio de liberdade e autoconhecimento do público feminino da época”, explica a estudiosa, que também coloca a literatura urbana e marginal do paulista João Antônio e a produção de Graciliano Ramos e João Cabral de Melo Neto entre as influências da geração 68. “Morte e vida severina (1969) apresentou outro Brasil, até então pouco explorado.”
Ainda entre os títulos relevantes do período, Paulo Venturelli e Marta Morais da Costa lembram de O meu pé de laranja lima (1968), clássico de nossa literatura escrito por José Mauro de Vasconcelos. O enredo simples e descomplicado, que tem como mote a história de um menino pobre e a dura realidade de sua família, também fez eco entre os jovens de 1968. “Serviu como metáfora para quem buscava se desvencilhar da área familiar e traçar um caminho próprio, como acontece com o protagonista”, analisa Venturelli.
Já para Marta Morais da Costa, o livro de Vasconcelos fez sucesso por dialogar com o lado sentimental do leitor: “O meu pé de laranja lima pegou um público que ia desde o juvenil até o adulto e atendeu esse desejo de comoção dos leitores. Numa época em que ainda não haviam telenovelas no país, os livros, o cinema e o teatro eram responsáveis por fornecer essa carga melodramática ”, complementa.
Em um contexto de experimentalismo e contestação em outras artes, como o teatro e a música, Marta ainda aponta o clássico Grande sertão: veredas (1956), do mineiro Guimarães Rosa, como mais uma obra de grande importância e bastante lida naqueles tempos. “A partir da linguagem de Guimarães e seus neologismos, a leitura de Grande sertão: veredas dialogava com a rebeldia e a vontade de criar presentes, por exemplo, na Tropicália. A obra carrega consigo uma potencialidade de se fazer uma literatura experimental.”
Diálogos contínuos
Ainda que seja difícil apontar com exatidão a influência dos livros fundamentais para a geração de 50 anos atrás na contemporaneidade — “seria necessária uma boa pesquisa antropológica e sociológica para se medir o que ainda faz sentido hoje” — Paulo Venturelli acredita que, o que era realmente inovador e literário nos anos 60, “mantém suas veias pulsando com sangue bom”. Para ele, Quarup, de Antônio Callado, é uma obra que supera o contexto da época e continua viva em nossa cultura.
Foto: Kraw Penas
Professor do curso de Letras da UFPR até 2014, ano em que se aposentou, Paulo Venturelli já publicou 23 livros, entre poemas, contos e romances e é conhecido por sua biblioteca pessoal de mais de 15 mil títulos localizada em Curitiba
Assim como Venturelli, Marta Morais da Costa também acredita que um livro como Quarup continua sendo imprescindível para o Brasil de hoje. “Embora um pouco esquecido do grande público atualmente, o livro de Callado apresenta um Brasil que sai do cenário urbano em direção ao interior. Essa recuperação de um país unitário e o sentimento de nacionalidade continuam marcantes nos dias de hoje”, pondera.
Herbert Marcuse e Michel Foucault, com trabalhos no campo da sociologia lidos à exaustão por aquela geração, também são citados por Paulo Venturelli entre as obras “que ficaram”.“A obra de Marcuse tem muito a ver com a atualidade e guarda relação com a realidade de um cotidiano esmagado pelo trabalho. Já Foucault talvez nunca tenha sido tão lido e estudado quanto é hoje, por conta de sua influência sobre questões de gênero, o movimento gay ou o feminismo”, teoriza o professor e escritor.
Para Milton Hatoum, os romances panfletários ou carregados de mensagens ideológicas envelheceram e não são mais lidos. “A literatura de denúncia não sobrevive por muito tempo, o que não é o caso de O prisioneiro ou Quarup”, afirma o autor de Dois irmãos (2000), que ainda cita Reflexos do baile (1976) como outra obra de Antônio Callado ainda significativa para a atualidade.
Há 50 anos, salienta Hatoum, a literatura ocupava uma posição central nos suplementos culturais. “(Hoje) isso praticamente desapareceu, mas, em qualquer época, as opções de leituras são individuais. A leitura de um livro é sempre uma escolha. Cada geração elege seus livros e, na definição de Borges, um clássico é um livro que sucessivas gerações, por razões diferentes, leem com prévio fervor e misteriosa lealdade”, pondera Hatoum.