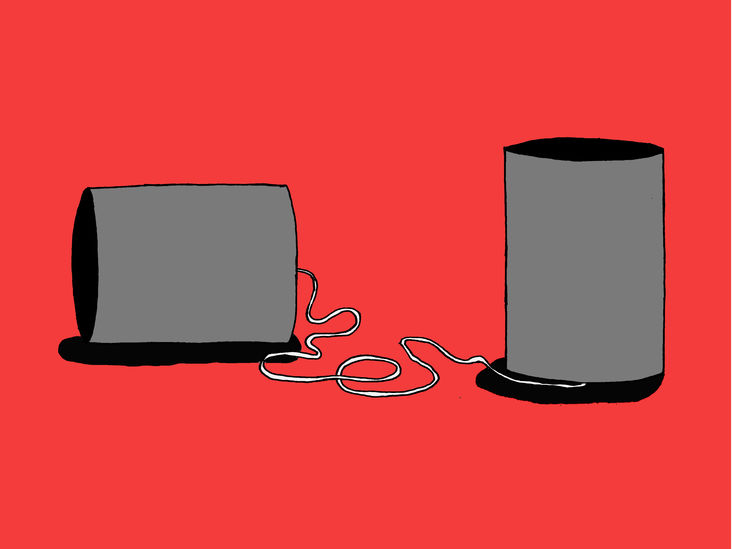Pensata | Rodrigo Tadeu Gonçalves
Metáforas da tradução
A coluna Pensata abre espaço para que autores reflitam sobre um tema sugerido pela equipe do Cândido. Nesta edição, o professor Rodrigo Tadeu Gonçalves escreve sobre os diferentes sentidos que a palavra “tradução” teve ao longo da história.
“Traduzir” vem do latim transducere, de trans-, “para além de”, e ducere, “levar”. O termo é equivalente ao grego metaphora, de meta+pherein, “levar para além de”. Ainda hoje na Grécia o termo metaphora aparece escrito nos caminhões de mudança: ele vai até a sua residência atual, coleta tudo, transporta para o outro lado, a residência nova, e descarrega. A metáfora embutida (agora não mais tradução nem mudança, embora também um pouco das duas coisas) na tradução como transporte, ilustrada pela mudança de residência, é a mesma da teoria clássica da comunicação: um emissor formula e emite uma mensagem, e ela é transportada até o receptor, que a recebe e decodifica.
Em todos os casos, há algo que sai de um lugar e chega a outro. Em todos os casos, há também algo que se perde (é rara — existe? — uma mudança em que nada quebre ou suma). Esse modelo tradicional de tradução supõe a existência desse algo e a capacidade de ele passar para o lado de lá. Também pressupõe que o texto traduzido é o mesmo que o texto original, numa proposta de alucinação coletiva que nos faz crer que lemos Homero ou Dostoiévski mesmo se os lemos apenas em tradução (e, spoiler alert: sim, mesmo assim nós de fato lemos Homero e Dostoiévski). Entretanto, o texto original não deixou de existir, em sua própria língua, e passamos a ter um novo texto que se identifica com ele. A partir daí, a metáfora do transporte não pode mais funcionar: quando nos mudamos, nossas coisas vão pra casa nova e deixam de estar na casa velha, certo?
No entanto, essa metáfora tradicional de tradução não foi sempre a mais comum ou mais aceita em todas as épocas e culturas.
Na antiguidade Greco-Romana, outros termos implicavam outras metáforas. Em grego antigo, traduzir era hermeneuein, “interpretar”, “traduzir”, de raiz claramente ligada ao deus Hermes, deus da comunicação, do comércio, dos ladrões, da linguagem, do trânsito entre mundos. Os gregos eram notoriamente monolíngues, e “traduzir”, para eles, normalmente era o que hoje chamamos de “interpretação” no sentido de mediação simultânea entre falantes de línguas diferentes. Em Roma, entre os séculos III e II a.C., quando surge a literatura a partir de traduções de imitações de textos gregos, as metáforas giravam em torno de vertere, “verter, virar ao contrário, mudar, destruir”.
Ilustração: FP Rodrigues
Virar do avesso
Visualmente, temos uma ideia de movimento de rotação: um texto de partida é “chacoalhado”, “virado do avesso” e se torna o texto de chegada. Mas, nesse caso, a pressuposição de que algo passa de um lado a outro, é levado para além, não existe. É o mesmo texto que vira e mexe e pronto, agora é outro. Exemplo: em alguns prólogos de comédias de Plauto (todas elas traduções de Menandro, Dífilo, Filêmon, entre outros comediógrafos helenísticos), o autor fala coisas como: “O nome desta peça em grego é Onagos; / Demófilo a escreveu, [Tito] Maco [Plauto] verteu em bárbaro; / Quer que seja Asinaria, se vocês permitirem”. A peça romana é a Asinaria. A expressão “esta peça”, haec fabula, é dêitica, aponta para o aqui e agora da encenação.
Esta peça, no entanto, pelo que lemos ali, é grega e tem nome e autor gregos. Mas verter para / em bárbaro é virar do avesso para o ponto de vista do outro, que, para o grego, seria bárbaro (sim, é uma piada sofisticada!) e, com autoconsciência de sua potência criativa, Plauto quis que em latim esta mesma peça se chamasse Asinaria. Ora, o que vemos é uma peça que é e não é o original ao mesmo tempo. E, pior ainda, como sabemos pelo pouco que sobrou das comédias gregas que podemos comparar com as comédias romanas, o processo de “tradução” dos comediógrafos do período era tudo menos “fiel” no sentido que esperamos de uma tradução hoje.
A antiguidade nos legou outras discussões e metáforas muito interessantes sobre tradução, como as de Terêncio nos prólogos de suas peças e as de Cícero em textos como De optimo genere oratorum, em que ele afirma que não traduziu [converti] os discursos de Ésquilo e Demóstenes como intérprete / tradutor [ut interpres], mas como orador [ut orator], ou seja, não “palavra por palavra” [verbum pro verbo], mas, digamos assim, ideia por ideia, buscando o efeito em seu auditório, sopesando as palavras e ideias [appendere] (Cic. De opt. 14). Como vemos, as metáforas são diferentes das nossas e envolvem equilibrar os dois lados da balança, fazer com que o resultado tenha o mesmo peso / efeito que o texto de partida, “dar / trazer novamente” o texto adiante, etc. No início do tratado De finibus bonorum et malorum, Cícero também defende seus tratados filosóficos dos pedantes que preferem ler tudo em grego e não aceitam uma boa “tradução” latina dos tratados gregos. Lá, Cícero diz algo como “veja bem, eu não só traduzi, mas eu interpretei, acrescentei coisas minhas, e, quando achei conveniente, trouxe novamente a passagem como era em grego”. Aparentemente, “só” traduzir seria algo tão ruim como o reddere verbum pro verbo do De optimo.
Para encurtar a história, passo a algumas novas metáforas contemporâneas. O leitor interessado encontrará no livro Vertere, de Maurizio Bettini,muitas dessas metáforas não convencionais desde a antiguidade, e não apenas no Ocidente.
Em meu livro Algo Infiel: Corpo Performance Tradução, em coautoria com Guilherme Gontijo Flores, apresentamos uma tradução ultra-fiel à forma do poema The Raven de Edgar Allan Poe, que reproduz o ritmo e as rimas em tudo que foi possível. No entanto, “O Corvo” virou “O Urubu”, e procedemos, por assim dizer, a uma “adaptação” ou “paródia” do poema, muito louvada pela forma e um pouco criticada por “falta de bom gosto”. Para explicar melhor o procedimento, chamamos aquilo de “tradução-exu”: Exu, orixá da comunicação e do trânsito entre mundos, guardadas as devidas proporções e o respeito às tradições, é algo como o nosso Hermes. Um urubu no poema de Poe traz o clima e a reflexão sobre a morte para o nosso mundo, sem que deixemos de afirmar que fizemos, sim, uma tradução.
Mais recentemente, no livro Traduções Canibais: Uma Poética Xamânica do Traduzir (2019), Álvaro Faleiros apresenta a proposta de tradução como xamanismo, discutindo e propondo traduções de poéticas ameríndias e fornecendo o que me parece o exemplo mais interessante de uma tradução antropófaga, que resgata a tradição modernista via transcriação de Haroldo de Campos: Faleiros traduz e discute Ana Cristina Cesar traduzindo e discutindo “O Cisne” de Baudelaire, com resultados incríveis. Contudo, não se trata de “mera” tradução. Ana assim conceitualiza sua prática (que, para Faleiros, define uma verdadeira tradução xamânica): “coisas fascinantes são as ‘imitações’ — o acesso de paixão que divide o tradutor entre sua voz e a voz do outro, confunde as duas, e tudo começa num produto novo onde a paixão é visível” (de “Crítica e tradução”, citado em Faleiros, p. 89). Os poemas resultantes devem ser lidos. Você vai gostar.
RODRIGO TADEU GONÇALVES é professor da Universidade Federal do Paraná e diretor da Editora UFPR. Publicou o livro de ensaios Algo Infiel: Corpo Performance Tradução, em coautoria com Guilherme Gontijo Flores, e os poemas de Quando o Verão (2018). É também um dos fundadores do coletivo Pecora Loca, que mistura poesia, tradução e música.