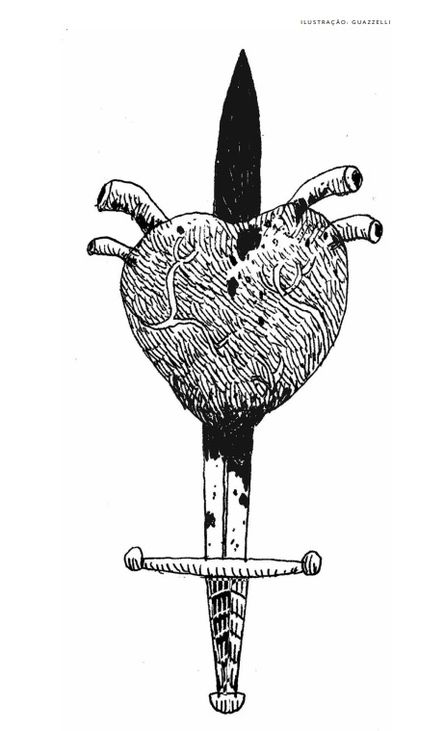Pensata | André de Leones
Representações da violência
André de Leones
Há uma passagem de Madona dos Páramos, romance de Ricardo Guilherme Dicke, na qual uma mulher é empalada por dois sujeitos. Eles a culpam pela morte (acidental) de uma criança. Está na página 245 da primeira edição (Edições Antares/INL, 1982): “Eles abriram um claro na mata a facão, perto dali, escolheram uma arvorezinha nova, o tronco da grossura de um braço de homem, desfolharam-no cuidadosamente, cortaram-na à altura de um meio metro do chão, sem tirar-lhe nem destacar-lhe as raízes, e afinaram-lhe a ponta de tal maneira que ficou como uma alavanca fincada no solo, roliça e em riste contra o céu”. Eles, então, esperaram que a mulher saísse do rio onde se banhava, agarraram-na, encheram sua “boca de folhas”, tapando-a com um lenço, amarraram-lhe as mãos e a empalaram. “Olharam-na sem rir nem chorar, em pé na sua frente, até que seus movimentos foram se escasseando e ela ficou inteiramente imóvel.” Dicke não tergiversa, não hesita. Seu romance pode ser lido como um breviário de brutalidades e um denso comentário acerca da natureza do Mal; incidentalmente, é também uma representação fidedigna de um país — o nosso — no qual quase todas as relações são mediadas pela violência.
O Brasil é um país de ladrões, estupradores e assassinos, e diversos autores abordaram os aspectos mais cruentos da nossa realidade com extrema competência e graus maiores ou menores de gratuidade. Dicke, embora seja pouco lido, é um dos melhores. Rubem Fonseca, Dalton Trevisan, Patrícia Melo, Ana Paula Maia, Marçal Aquino e Edyr Augusto, guardadas as muitas diferenças entre seus projetos e abordagens, são outros nomes incontornáveis. Aqui, não me interessa esmiuçar suas obras ou sequer distingui-los (nem haveria espaço para tanto), mas, sim, pensar um pouco sobre as representações da violência e as maneiras, muitas vezes equivocadas, com que são recebidas.
Em geral, há uma exigência, por parte de alguns leitores, por uma “função narrativa” ou “justificativa” para o uso da violência em uma obra literária. Daí as leituras estapafúrdias de Rubem Fonseca, por exemplo, cujos escritos dariam conta de uma realidade esgarçada tanto pela Ditadura Militar (no caso específico dos livros publicados nos anos 1960 e 70) quanto pelo desastre socioeconômico que caracteriza a história brasileira desde que Cabral teve a péssima ideia de apear nessas terras. Bom, seus escritos dão conta da nossa realidade esgarçada, mas restringi-los a uma suposta “crítica social” é o tipo de irreflexão lucrativa sobre a qual carreiras foram e são erigidas. Cada um faz o que (acha que) precisa fazer, sobretudo para pagar as contas, mas a má vontade para com os livros que Fonseca publicou desde a década de 1990 explicita os limites daquelas meias leituras: não havendo mais o Behemot ditatorial para enfrentar, essa contínua “exploração da violência” teria perdido o ranço “crítico”, transformando a ficção de Fonseca em algo “gratuito”, “pobre” e “desnecessário”. Detalhe: as obras-primas O Buraco na Parede e Pequenas Criaturas foram publicadas em plena Nova República (RIP), quando o real se equiparava com o dólar e o futuro parecia auspicioso — especialmente para o crime organizado, tanto nas favelas quanto na Praça dos Três Poderes, como hoje sabemos muito bem.
Fonseca trafega pelas ruínas, mas não só pelas ruínas sociais. Estas são consequência de um colapso anterior e interior, anímico, que perpassa e não raro delineia toda a nossa história. Em outras palavras, a sua representação da violência não diz respeito apenas à superfície, ao asfalto e ao morro, por assim dizer, mas, sobretudo, à enfermidade essencial que caracteriza a psiquê humana. O horror que ele narra é conradiano: no coração das trevas, as masturbações historicistas e o materialismo dialético são irrelevantes e somos deixados nus, “matáveis”, à mercê do outro. É essa economia da matabilidade que, trazida à superfície, define as nossas relações sociais. Ela não é orientada conforme o “modo de produção” ou “forma de governo” vigente, mas orienta tais modo e forma; ela tampouco é uma “fase” a ser superada em nosso caminho tortuoso rumo a um mundo mais justo, em nossa “luta” pelo “progresso”, até porque não há garantia de nada, exceto de que os seres humanos seguirão trucidando seres humanos por razões e desrazões variadas.
A violência humana está, portanto, assentada em uma gratuidade essencial. Motivos, motivações e “justificativas” são coisas secundárias e, com frequência, falaciosas. Daí que as melhores representações da violência são exatamente aquelas que não fogem de sua gratuidade essencial, mas abraçam-na. É perfeitamente possível ler O Matador, de Patrícia Melo, ou Pssica, de Edyr Augusto, ou Um Céu de Estrelas, de Fernando Bonassi, e enxergar ali “comentários” relativos à nossa erosão social, mas é inaceitável reduzi-los a isso ou, pior, rejeitar obras que não se enquadrem nesse modelo de leitura escusatório. A força de cada um desses livros remete àquele algo primevo, intrínseco à nossa malfadada natureza. Afinal, como lemos em Madona dos Páramos (pág. 237), na longa noite em que se dá a “aventura” humana, “nada mudou, nem o coração dos homens, nem a vaidade dos homens. E a constância dos homens é uma coisa oca e miserável”.
Menos oca e miserável, contudo, a partir do momento em que buscamos e encontramos formas de representá-la que se orientem primordialmente por sua efetividade estética, ignorando quaisquer supostas “boas intenções” e falsas “necessidades” ideológico-discursivas. A escrita remete à gratuidade do Mal, e deve fazer jus a isso — inclusive para dar conta de sua inapreensibilidade.
ANDRÉ DE LEONES (Goiânia, 1980) é autor dos romances Eufrates (José Olympio) e Abaixo do Paraíso (Rocco), entre outros. Graduado em Filosofia pela PUC-SP, vive em São Paulo (SP).