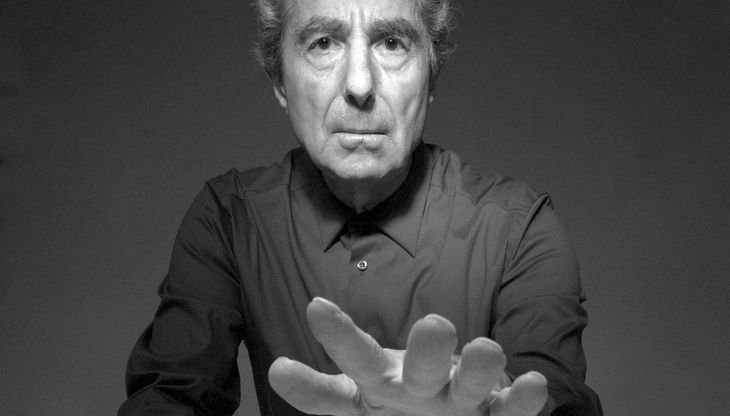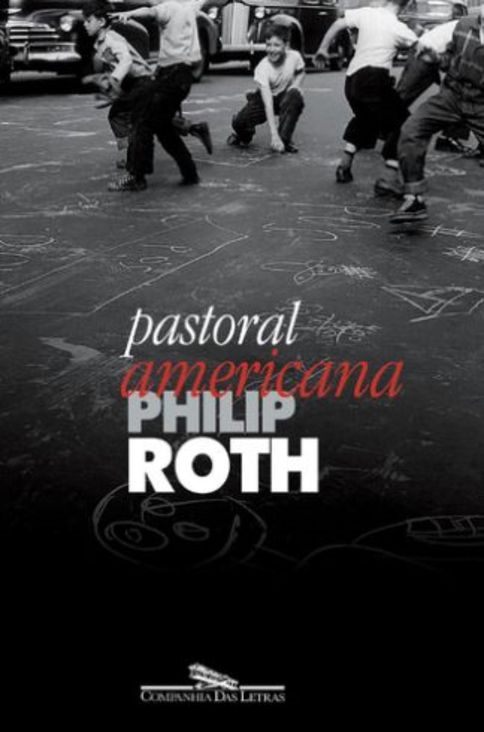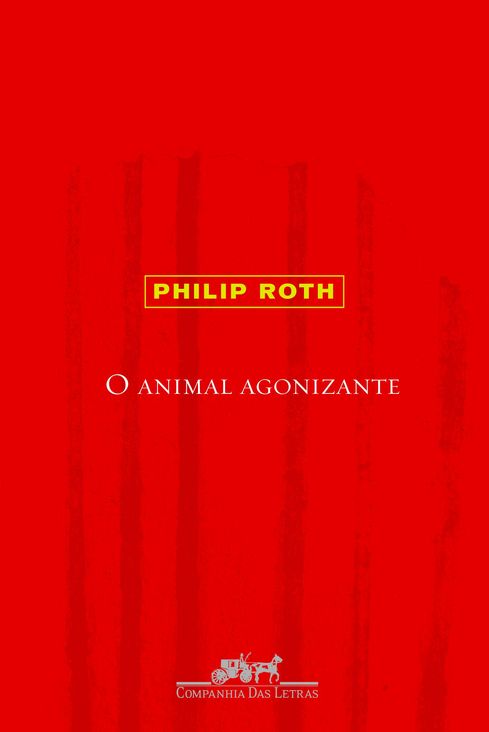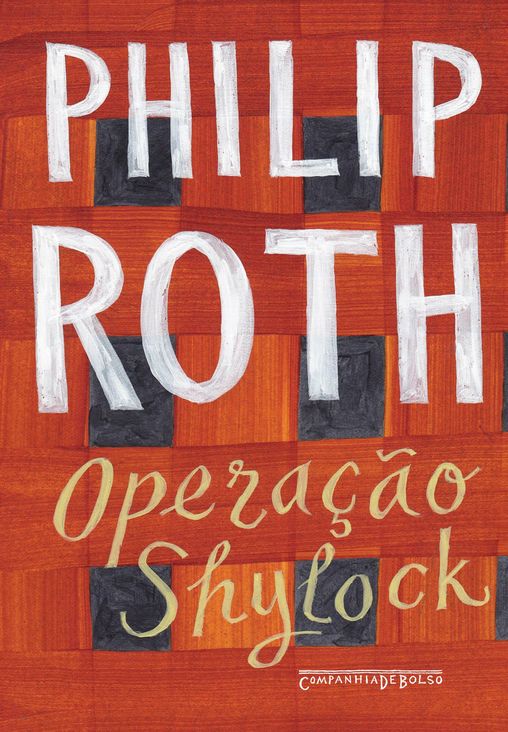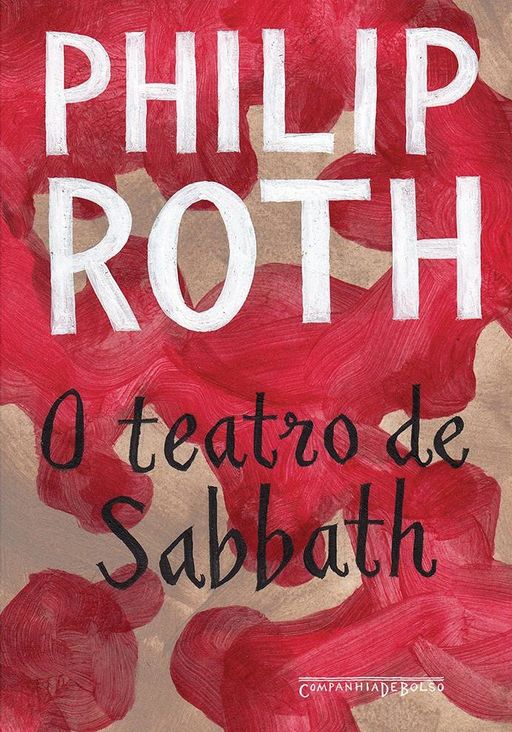Legado | Philip Roth
A semente da dúvida
O escritor e tradutor Paulo Polzonoff Jr. reflete sobre o pessimismo na obra de Philip Roth, traço que marca, principalmente, a produção final do autor, morto este ano
Paulo Polzonoff Jr.
Com licença.
Peço por obséquio permissão para entrar no seu lar, talvez até na sua cabeça, a fim de plantar uma ideia. Você pode muito bem recusar e eu vou entender. Juro que não vou ficar chateado. Até entendo essa rejeição. Talvez até espere por ela. Sei que plantar a ideia que quero plantar é mais difícil do que distribuir O sentinela na manhã de um sábado chuvoso de feriado. Porque a dúvida, apesar de idolatrada em teoria, na prática é mais rejeitada do que cachorro sarnento. Quem esse idiota pensa que é para trincar o cristal fino das minhas convicções estéticas?
(Ninguém)
Como péssimo jardineiro que sempre fui, começo preparando o que hoje chamam de substrato, mas que seu avô provavelmente chama apenas de terra. Com direito a estrume e tudo. Digo, assim despretensiosamente, que Philip Roth, tema deste texto, se tornou uma unanimidade nos últimos anos. Nas últimas décadas. Ele é (ou era) o escritor incontestável, sempre indicado ao Nobel, sempre digno de superlativos. Aquele escritor para o qual a palavra “gênio” ficou pequena demais.
E é exatamente aí que deposito a delicada e rara semente da dúvida. Quando de sua morte, todas as eulogias falavam de Roth como escritor imprescindível, obra canônica, retrato do nosso tempo e coisas do gênero. Não faltaram lugares-comuns como “um soco na boca do estômago” e “repensar a condição humana”. Mas como distinguir o que é a obra, e o peso real da obra, sua relevância nesse infinito chamado tempo, e o que é tão somente aquele desejo muito humano, muito compreensível e muito equivocado de “pertencer” — e de usar uma carreira literária e um nome, o de Philip Roth, como carteirinha deste clube onde jantam animadamente os comensais e seus espelhos?
Philip Roth foi, nos últimos tempos, um fenômeno literário que nunca consegui compreender direito. Principalmente no Brasil. Estou aqui olhando para as lombadas dos livros e me perguntando como se estabeleceu essa relação de profunda identificação entre um escritor judeu, de temas essencialmente judaicos, e o leitor tupiniquim, de base religiosa completamente diferente? E sim: estou questionando a universalidade da obra de Philip Roth, sobretudo nos livros que o transformaram neste fenômeno social que pouco ou nada tem a ver com a literatura. Quanta ousadia a minha!
Será o sexo o que torna Roth ainda tão necessário para alguns? É bem possível. O livro que fez a fama de Philip Roth, O Complexo de Portnoy, é marcadamente sexual. Quando lançando, ele foi chamado de indecente, de ousado, de todos os adjetivos que a gente usa quando está diante de uma obra revolucionária no meio da revolução. Eu não estava lá para testemunhar, mas uma pesquisa rápida nos arquivos da época basta para dar a dimensão do que foi este livro: uma cabeça rolando em direção à multidão, no dia mais movimentado da guilhotina.
Tanta indecência, tanta ousadia, tanta autoinvestigação e, por que não?, tanta masturbação (física e intelectual) para quê? Em 1972 talvez até houvesse mocinhas que corassem diante da famosa cena em que o protagonista alivia seus instintos primitivos num pedaço de fígado. Talvez até alguns homens mais puritanos ficassem indignados. Mas hoje, passados quase meio século, o que era indecência se tornou norma e qualquer resquício de ousadia se perdeu. Para escrever este texto recorri ao Portnoy e nele encontrei não tédio, e sim normalidade. Não é algo bom de se encontrar naquela que é considerada a obra-prima de um escritor ousado e até revolucionário.
E aqui talvez valha a pena abrir um parêntese grande para confessar um crime que está sendo cometido neste exato momento, enquanto escrevo este texto que, com alguma sorte, você lê sem sentir tanta raiva assim. Manda a Lei Maior dos Homens que Leem Livros e Sobre Eles Escrevem, em seu artigo quinto, parágrafo segundo, inciso meia-dúzia que, depois da morte de um autor, deve-se esperar quinze anos, nunca menos nem mais do que isso, para se analisar a obra e bater o autoritário martelo da canonicidade. Sob pena de o crítico ser acusado de mimetismo (alô, fãs de Girard!), insensibilidade pura e simples, falta de perspectiva histórico-literária ou estupidez mesmo. Ou seja.
Paradoxalmente, a dúvida só pode ser plantada em solo com altos níveis de evidente qualidade. Afinal, eu não estaria aqui caminhando sobre ovos se Philip Roth não tivesse escrito livros bem acima da média do que se lê por aí. Operação shylock, por exemplo. Ou o magnífico O Teatro de Sabbath. Aí estão dois exemplos do pensamento literário submetido à imaginação, como deve ser (“Quem esse cara pensa que é para dizer como as coisas devem ou não ser?!”). Se daqui a quinze anos as pessoas ainda souberem juntar as letrinhas e, por acaso, o nome de Roth vir a ser evocado, acredito que será por causa desses dois livros. E por causa do Portnoy também; afinal, nada mais divertido do que, numa mesa de bar, impressionar os amigos e ruborizar as amigas com histórias de masturbação. Porque, se fosse possível escolher A Coisa Mais Canônica de Todos os Tempos, escolheria sem dúvida nenhuma a capacidade de qualquer um abalar o puritanismo do neófito.
Operação shylock é um primor e, neste livro, Roth abandona de fato a confortável trincheira do judaísmo para lutar o bom combate que une a todos nessa existência aparentemente sem propósito. Ao tratar da dicotomia insuperável eu/outro com leveza, humor e inventividade, ele realmente molha o pé no oceano da glória eterna (eterna até o meteoro, mas ainda assim). Em resumo, se você me leu até aqui para escolher um livro de Philip Roth a fim de impressionar aquela menina ou para dar de presente ao seu pai no Natal, nem hesite. (Não excluo a remota possibilidade de você querer também compreender questões de individualidade e identidade. Estou só sendo jocoso de uma forma à qual você provavelmente não está acostumado).
E agora chegamos, no texto, ao ponto em que a dúvida, antes de germinar, se transforma num grotesco amontoado de potencialidades, passível de ser confundida, por um leitor mais distraído, com um verdadeiro monstrengo da má-vontade. Não é e não sou.
Trilogia
A parte da obra de Philip Roth que mais incômodo me causa é a da “trilogia americana”, composta por Pastoral americana, Casei com um comunista e A marca humana. E não me refiro ao incômodo bom dos grandes romances; estou falando mesmo é daquele incômodo ruim que a gente sente quando está diante de um escritor ambicioso, mas também condescendente. Já tendo alcançado “os pícaros da fama” (sempre quis usar “pícaros” num texto), Roth se pôs a tentar escrever o grande romance norte-americano de todos os tempos — essa espécie de Santo Graal lá deles.
E fracassou. Um fracasso que, em si, e contraditoriamente, não tem como dar errado. Porque se trata de um fracasso compartilhado por todos os escritores norte-americanos de médio e grande porte no século XX (e nesse pedacinho de XXI também). Trata-se de uma missão suicida que uns poucos admiram e que tendo a ver com um quê de solidariedade.
A trilogia americana de Roth coincide com a perda de um sentido mais espiritual em seus livros. E não me refiro, aqui, à religiosidade. Claro que não. Até porque o judaísmo está lá, sempre presente, e o humor também é indício de uma ligação com algo maior. A partir deste ponto, contudo, Roth parece cometer o pecado que tem cometido a maioria dos escritores contemporâneos: a submissão inquestionável da pena ao intelecto.
Isto é, a certeza (nunca explícita, mas sempre latente) de que o cérebro é capaz de imaginar e expressar uma ordem compreensível. De que o escritor é capaz de compor personagens e narrar situações abrangentes, perfeitamente analisáveis dentro do que se conhece como ciências humanas. É como se o escritor fosse um gato brincando com o grande novelo de caos que é a vida. Depois de um tempo jogando a bola de lã de lá para cá, o escritor acredita que a meada tem sentido não só para si, mas para todo mundo, e se põe a ronronar esses romances que são o novelo reduzido à sua essência: a lã sem a beleza da esfera, a ordem falsa, equivocadamente dissociada do caos.
Pensando bem (tanto quanto me é possível) e pensando agora, neste exato momento, a autocondescendência deste Philip Roth escravo do próprio talento e da ideia de que era capaz de envolver todo um mundo com sua prosa talvez explique o mergulho óbvio no niilismo de seus livros tardios. O escritor e, por consequência, a obra, não souberam envelhecer porque, em algum momento, ele comungou com essa certeza muito intelectual, no sentido mais terreno do termo, de que somos tão somente uns animais aos quais é negada qualquer possibilidade de redenção.
Não entendo como os leitores dos livros mais tardios de Philip Roth não percebem que eles são uma confissão de fracasso. Não há ali beleza; só trevas. Sim, sei que há quem goste de trevas, e quem sou eu para julgar, não é mesmo? Mas não gosto e me encolho todo, numa cólica existencial, ao me lembrar da sensação de ler livros como O animal agonizante e Homem comum. Eles são a prova de que o homem ensimesmado, confiante demais em sua capacidade de ver, analisar e retratar o mundo, sempre pelo prisma obsceno do cinismo, não passa de um fracassado, por mais que seu nome tenha sido sempre cogitado para o Nobel de Literatura.
Não espero que você concorde comigo. De jeito nenhum. Como disse no começo deste texto, meu objetivo aqui é plantar a sempre saudável dúvida. No final das contas, o que há para admirar em Roth? Não, não vejo o mundo com olhos cor-de-rosa. Sei que há depravação espiritual, perversidade, sadismo e decadência para onde quer que se olhe. E sei muito bem que esse clima nublado de Curitiba combina perfeitamente com todos os pensamentos niilistas de Roth ou qualquer escritor semelhante — e são muitos. Mas a literatura, sobretudo a literatura canônica, é feita de beleza — beleza esta que existe até mesmo num velho caquético à beira da morte, narrando seus problemas com a próstata inchada. Desde que o escritor saiba escrever com o espírito, claro.
Não ignoro que Philip Roth desperte nas pessoas uma paixão que nada tem a ver com a literatura e que a obra dele será mais bem analisada daqui a quinze anos, como manda a lei. Sei que é boa a sensação de pertencimento, de comunhão (algo profana) que escritores como Roth causam. E não quero, de jeito nenhum, que minha semente da dúvida se transforme numa planta carnívora capaz de estraçalhar esta ou outras sensações positivas. Peço licença, pois, para me despedir, pedindo também desculpas por não compartilhar completamente da euforia.
Licença. E me desculpe.
Paulo Polzonoff Jr. é escritor e tradutor. Em outubro lança o livro de crônicas Desculpe e outros textos que ninguém vai ler.