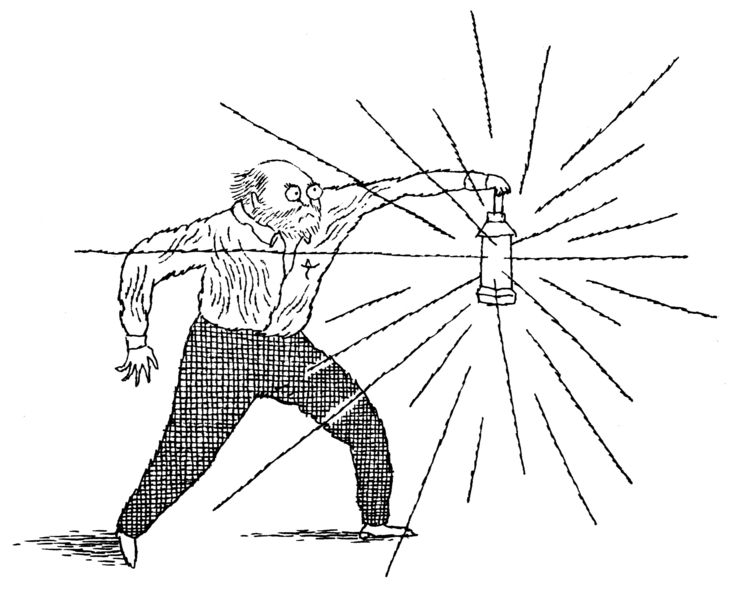Especial | A jornada do herói provinciano
Como tornar-se invisível
A partir do clássico Ilusões perdidas, do francês Honoré de Balzac, o tradutor e jornalista Christian Schwartz reflete sobre a conflituosa relação entre o escritor e a província, assunto presente na literatura curitibana desde sempre
—Vou me retirar para escrever um novo livro — menti. — Será sobre o quê?
— Sobre Curitiba e seus escritores. — O velho tema.
— É, o velho tema.
Chá das cinco com o vampiro, Miguel Sanches Neto
A rua São Francisco, em Curitiba, clicada pelo fotógrafo Nego Miranda. A imagem fez parte do livro A eterna solidão do Vampiro, com imagens de lugares icônicos na obra de Dalton Trevisan.
Não há maior antípoda da ambição literária que o estigma do provincianismo. Paradoxalmente, jamais o literato ambicioso estará livre da tentação de, abatido ao limite pela falta de reconhecimento (ou de talento mesmo), render-se até aliviado, até alegremente, a esse seu algoz: por que não agarrar a fama local que se oferece, quem precisa se provar ao exigente e arrogante mundo lá fora, que sabem eles lá na metrópole, quem pensam que são?
Eis aí as “ideias estreitas e maneiras mesquinhas” que, na província, acabam por “se apoderar da pessoa mais distinta”, destino de que tratou magistralmente Balzac ao narrar a ascensão e queda de Lucien de Rubempré, em Ilusões perdidas, clássico dos clássicos no subgênero da jornada do herói provinciano. Como bem observam os personagens de Miguel Sanches Neto no diálogo da epígrafe acima, Curitiba tem sido cenário constante dessa mesma saga — protagonizada ora pelos literatos ficcionais de romances passados na cidade, ora por seus próprios escritores de carne e osso.
Em Chá das cinco com o vampiro, originalmente lançado em 2010 e aguardando reedição pela Companhia das Letras, Sanches Neto expõe sem piedade as entranhas da Curitiba literária entre os anos 1980 e o início dos 2000, retratando sob mal disfarçados pseudônimos, à maneira do roman à clef, os escritores locais — todos, inevitável, gravitando em torno do “vampiro” Dalton Trevisan (no livro, Geraldo Trentini). Recém-chegado a Curitiba, o herói do romance, Beto, ganha destaque nos círculos literários da capital não como autor, mas como crítico literário. (O Lucien, de Balzac, embora também se sobressaísse nas lides da crítica e de um jornalismo de ataques e achaques, até o fim aspirou à poesia.)
Chá das cinco narra a primeira de duas versões clássicas da jornada do herói provinciano: saído de um ambiente impossivelmente miserável — geralmente uma cidadezinha poeirenta do interior do Brasil, e o Paraná as tem aos montes —, o protagonista chega à metrópole apenas para, pouco tempo depois, decepcionado ou escorraçado, voltar à vida rural e iletrada de antes. Com sorte, é possível que ainda consiga retomar um simulacro de vida cultural nos cafundós de onde saiu — caso do professor Matozo, personagem de um dos melhores e menos conhecidos romances de Cristovão Tezza, A suavidade do vento.
Mestre-escola admirado por suas estudantes secundaristas, Matozo mantém uma rotina secreta de escritor no cafofo de solteirão onde vive, bebe e escuta sempre o mesmo disco do Pink Floyd — estamos nos anos 1970 — em alguma cidadezinha perdida no oeste paranaense, a pouca distância da fronteira com o Paraguai, seus cassinos e uísques baratos. Ao mesmo tempo, o professor, que secretamente despreza a elite local sócia do Rotary e assídua na missa de domingo, frequenta um bar onde partilha a mesa de general com dois ou três broncos da cidade, inclusive um pretenso rival, dono de jornal e gráfica com veleidades intelectuais.
Os autores Miguel Sanches Neto e Cristovão Tezza na Biblioteca Pública do Paraná, em evento em homenagem a Jamil Snege
Antes que o destino encarnado na repórter de uma revista de Curitiba apareça para lhe pregar uma peça, e que Matozo enfim empreenda sua jornada à “metrópole” (a acanhada capital paranaense nos anos 1970 dificilmente se qualificaria como tal sem as aspas), o aspirante à glória literária, aleijado por um torcicolo nervoso que não o abandona, é obrigado a se contentar com o único confessor que encontra para suas angústias, um dos parceiros de bar, o Gordo:
— Vou embora daqui — quase disse Pasárgada, mas mordeu a língua a tempo.
O Gordo irritou-se, enchendo outro copo:
— Para onde? Você não tem onde cair morto!
A boca contorcida, a dor, o pescoço inchado:
— Pra Curitiba, São Paulo, sei lá.
Agora a gargalhada:
— Mas é um idiota! Tem que se foder mesmo! [...] Você não vê que o futuro está aqui? [...] E sem falar que vida em cidade pequena é muito melhor, mais tranquila, todo mundo é amigo, se ajuda, aqui você é alguém! Vai! Vai pra São Paulo e vê se aguenta dois dias. Vai lá!
[...]
— Só me diga uma coisa, Matozo: o que você tem feito esses anos todos?
— Escrevi um livro — deixou escapar Matozo, sentindo imediatamente o chão fugir dos pés e a agulha se enterrando no pescoço.
O romance que Matozo escreveu e precariamente publicou, pagando do bolso pela edição modesta, ganha enfim as páginas da tal revista de Curitiba — e a vida secreta do professor é exposta à sociedade local. Em A suavidade do vento — este também o título do livro de Matozo, aliás J. Mattoso, seu nom de plume —, Tezza conta a história do herói que se liberta, aparentemente, da estreiteza da província, mas dando-lhe contornos de fábula moral, como se seus personagens atuassem num palco, ou melhor, num quadro delimitado pela moldura pós-moderna de prólogo e epílogo, revelando Matozo como o autor do próprio livro que lemos. De bebedeira em bebedeira, perdido na noite da cidadezinha, o professor acaba tristemente declamando seus rancores ao dono do boliche local:
— Essa terra não serve nem para morrer. A alma espicaçada pela eternidade. Pó e trevas. [...]
— O senhor ainda vai voltar, professor! Quem bebe dessa água...
Eis o destino fatal — a queda — a que o literato ambicioso saído da província estará sempre condenado: voltar.
O fracasso do herói
Mas há uma segunda versão clássica da jornada do herói provinciano; nela, ele jamais consegue alçar voo, irremediavelmente acorrentado à pequeneza de suas origens. Curitiba produziu, e continua a produzir, alguns personagens assim — só que na vida real: como se, desavisados, invadissem o mundo que deveriam criar, um passo e se fundem à projeção ficcional; cruzando o limiar da tela veem-se, súbito, dentro do filme. E aqui, talento à parte, talvez não tenha havido figura mais paradigmática do que Jamil Snege.
Jamil Snege retratado pelo artista Rafael Sica.
Falando de Jamil, Cristovão Tezza apontou para “uma certa ideia docemente provinciana de que ‘aparecer’ é algo agressivo, ou, igualmente, é algo que nos deixa desarmados, à mercê do olhar alheio”. O problema desse “misto de pudor e timidez” (nas palavras do mesmo Tezza, ele próprio antigo discípulo de Jamil) — uma atitude que, no limite, se torna desdém por qualquer tipo de reconhecimento mais amplo — é desconsiderar que a província também não costuma tratar muito bem seus filhos mais diletos. O reverso da medalha do provincianismo é a autofagia — talvez o melhor mesmo fosse jamais separá-los: sempre dizer “provincianismo autofágico” (ou “autofagia provinciana”).
Jamil batia no peito para afirmar que lhe bastavam seus “quatrocentos ou quinhentos leitores fiéis”, mas boa parte de seus textos foi dedicada, paradoxalmente, a repisar o tamanho da indiferença de outros tantos milhares a, conforme reza uma de suas crônicas mais conhecidas, qualquer pessoa com “talento genuíno” em Curitiba — a ele, Jamil, mais do que todos, obviamente.
Numa longa conversa de mestre para discípulo que tem com Beto em Chá das cinco enquanto prepara uma sopa de cebola, sua especialidade como cozinheiro, naquela que é certamente a mais tocante cena do romance pelo retrato do escritor como pacato homem doméstico, o Turco (como Jamil era conhecido; codinome Akel na cena em questão) é algo assertivo na metáfora com que execra a autofagia local:
— Essa gentinha filha da puta faz de tudo para te destruir. São caçadores de peru. Sabe como se caça peru? Atirando naquele que levanta a cabeça. Aqui só sobrevive quem não se sobressai. Por isso é uma cidade tipicamente classe média.
Por fim, é curioso constatar que, nessa segunda versão clássica da história, mesmo sem ter chegado a partir em sua jornada, o provinciano é capaz de defender filosoficamente essa espécie de eterno retorno a que estaria, a priori, condenado. É ainda o mesmo Akel/Jamil quem reflete:
— Nunca conheci uma pessoa que não sonhasse com o caminho de volta. [...] Eu sempre quis sair de Curitiba. Era meu sonho e vivia frustrado. Agora, que sei que nunca vou sair, estou mais tranquilo. Aceitei a cidade que não me aceita.
A reflexão ecoa, quase literal, uma das falas mais lembradas de outro curitibano condenado à província, mais um desses heróis aos quais resta apenas uma anti-jornada, por assim dizer — o poeta Paulo Leminski: “Eu jamais consegui morar em outro lugar por muito tempo. Agora, aos 40 anos, estou mais tranquilo, pois descobri que sou como o pinheiro, que não se pode transplantar”.
A província revisitada
Leminski, sempre um personagem, ressurge no mais recente romance brasileiro a tratar do tema inaugurado por Balzac: Até você saber quem é, do diplomata curitibano Diogo Rosas G. Como no livro de Miguel Sanches Neto, aqui também o cenário é uma espécie de “mítica” cidade literária, a Curitiba dos anos 1980 e 1990; Rosas G. opera, porém, uma variação sobre o tema ao fazer que a jornada — e seu final trágico mais do que apenas melancólico, neste caso — seja vivida paralelamente por dois amigos.
Daniel — o talento provinciano cujo genial romance de estreia, rara combinação de alta literatura com sucesso de público, o alça à situação inverossímil de se ver adulado e reverenciado da província a Paris — e o narrador, Roberto, que passa a acompanhá- lo como seu agente literário, se conhecem ainda muito jovens no prédio histórico da Universidade Federal do Paraná: um, estudante de Direito, o outro, de Comunicação.
As confidências entre os dois amigos — longos papos de bar em bar, naquela Curitiba “mítica”, ou intermináveis conversas telefônicas, quando Daniel se muda em definitivo para São Paulo antes de Roberto — e ainda a eventual correspondência entre eles, no clássico recurso epistolar do qual Balzac já havia tão brilhantemente lançado mão em Ilusões perdidas, são a oportunidade perfeita para que o romance de Rosas G. acerte as contas com a angústia da influência de toda uma geração. Assim é que Daniel, de seu autoimposto exílio europeu pósfama, depois de impiedosamente dizer de Leminski que “minha nossa, como ele é fraquinho, coitado, [...] pueril e constrangedor...”, escreve a Roberto citando o trecho de outra carta (esta real), na qual o poeta de Caprichos e relaxos conta a Régis Bonvicino, no Natal de 1978: “Estou estudando russo. desta vez, aprendo MESMO! no sebo, aqui, feira dos livros usados, um engenheiro polaco vendeu sua biblioteca em russo. Quem iria comprar? Comprei tudo por um preço irrisório”. ´
O comentário de Daniel, vinte e cinco anos depois (e quase quinze passados da morte precoce de Leminski), escrevendo a Roberto em outro Natal, agora da própria Paris de Balzac e Lucien de Rubempré, exala toda a carga dramática da jornada do herói provinciano.
O escritor Honoré de Balzac e o poeta Paulo Leminski em foto do amigo Dico Kremer. Leminski problematizou sua relação com Curitiba em diversos poemas e textos.
“Imagine a cena, Roberto: a mesma cidade, o mesmo sebo. Curitiba nos anos 1970, o sujeito encontrando uma biblioteca perdida, lendo, explorando aquele tesouro, fazendo um esforço para aprender russo sozinho sem ter com quem dividir nada daquilo, preso entre meia dúzia de bichos-grilos e uma multidão de alemães e polacos satisfeitos com o milagre econômico. O isolamento, a solidão. Nada mudou, nada nunca vai mudar. Aqui, em Paris, no Natal de 2003, percebi que eu fui ele, e depois outro será eu, e todos nós enlouqueceremos aos poucos e morreremos uma morte triste.”
Daniel Hauptmann não tinha, portanto, outro caminho senão abandonar a província natal sem olhar para trás — e para nunca mais voltar: eis uma particularidade da versão de Rosas G. para essa velha história. “‘Tenho que sair daqui! Tenho que ir embora, Roberto’, dizia, com os olhos carregados de desespero”, quando os dois amigos eram só dois universitários sonhando com a glória literária nas escadarias do prédio histórico da Federal. É quando Daniel, transfigurado por um “momento de heureca [...] sobre a litania dos nomes [do diabo] no Grande sertão”, firma seu peculiar pacto faustiano e, cada vez mais alucinado, passa a perseguir a obra-prima pela qual acreditava que inscreveria o próprio nome entre os imortais da literatura:
— Era óbvio desde o começo, não era? Se eu mesmo percebi que faltava um bom retrato do Demônio na literatura brasileira, como poderia ser mais óbvio? Eu vou criar esse retrato, Roberto, e ele vai me tirar daqui.
O fim trágico d’A vida do escritor brasileiro de Daniel Hauptmann, narrada por um amigo, biografia em que seu amigo Roberto revela toda a saga, tem a ver com essa assombração demoníaca a pairar sobre a cabeça do jovem gênio provinciano — o espectro que ronda toda ambição literária. Um fantasma que, na cena curitibana, bem poderia tomar a forma de outra popular figura das trevas. Akel/Jamil e seu discípulo Beto, para voltarmos uma última vez ao roman à clef de Miguel Sanches Neto, aludem a ela:
— Na verdade, não somos pessoas, mas personagens.
— Essa é nossa desgraça, somos mais personagens do que escritores. O Geraldo também é um personagem, mas tem uma obra.
Geraldo Trentini — ou Dalton Trevisan — é a sombra maior a se projetar sobre a Curitiba literária, emprestando- lhe a aura mítica tão conhecida e explorada nos romances lembrados neste ensaio. Quando Matozo, o mestre- escola do interior em A suavidade do vento, finalmente aporta na capital para, em pouco tempo, abdicar de seu frágil orgulho intelectual, renegando a própria obra e voltando à respeitabilidade medíocre (mas garantida!) de que gozava na cidadezinha poeirenta da qual saíra, Tezza cria esta cena — baseada em situação real, ao que consta — na qual encapsula a esmagadora influência do “vampiro”, ao mesmo tempo expondo-a em sua banalidade cotidiana: uma noite qualquer na Curitiba dos anos 1970, onde Dalton Trevisan distraidamente ia deixando a vida para adentrar o território do mito.
“À saída [do cinema], Matozo surpreendeu-se com a brutalidade do frio e refugiou-se num café quase vazio. Do balcão, trêmulo, com pouco controle sobre as mãos e os dentes, ouviu um grupo de encapotados comentando o filme. Um homem de rosto seco, óculos pesados de míope, achava que a câmera tinha sido cruel ao flagrar Ann-Margret entrando nua no banheiro; coxas excessivas, pelancas visíveis. Ouviu protestos bem-humorados. Matozo demorou- se com o café, orelhas e olhos atentos. Num momento, teve a sensação de que falavam de literatura. Aproximouse discreto, mas o grupo logo se desfez, um para cada lado. As pessoas todas se dissolviam, rarefeitas no frio.”
É espantoso pensar que há mais de sete décadas um rarefeito Dalton Trevisan — em que pese a obra universal, o maior provinciano que já existiu, eterno morador do Alto da XV, nos bons tempos um espirituoso comentador de filmes à saída dos cinemas do centro — mantenha essa ascendência sobre a vida literária da cidade. No caderno especial do jornal Gazeta do Povo em comemoração a seu aniversário de 90 anos, um amigo, falando anonimamente, assim como todos os outros que aceitaram dar ali seus depoimentos, definiu: “Nunca um escritor tão grande esteve tão presente por tanto tempo em um universo literário tão pequeno como acontece com Dalton e Curitiba”.
Na opinião do jornalista Sandro Moser, na sequência do mesmo texto: “Nem a presença claustrofóbica de Jorge Luis Borges na Argentina seria tão impactante como a que a genialidade internacionalmente reconhecida de Dalton provoca em sua cidade natal, de onde saiu uma única vez”. Moser lembra, em seguida, o célebre fato de que “o autor de Pico na veia fez uma única e rápida viagem para a Europa no ano de 1950”, e perspicazmente aponta: “Mais importante do que tentar descobrir por onde andou e o que fez Dalton por lá, é exercitar a imaginação: o que seria de Curitiba se Dalton tivesse resolvido não voltar? Como teríamos vivido sem sua presença nos últimos 60 anos?”
“Mesmo recluso e com suas idiossincrasias”, declarou sob anonimato outro amigo à edição especial da Gazeta, “vejo Dalton mais como um sol na eterna meia-noite de nossa insignificância do que como essa figura vampiresca; nós é que nos aproveitamos dele.” Talvez o “vampiro” ou, para alguns, o “demônio” de Curitiba — aquele que manteria sob feitiço todos esses personagens-escritores amaldiçoados pela sina provinciana — não passe mesmo de ilusão. Dalton Trevisan, afinal, transformou sua província no mundo inteiro. Nunca precisou empreender a jornada imposta por Balzac a Lucien de Rubempré. Não venham agora culpá-lo porque nela tantos fracassaram, continuam a fracassar e ainda fracassarão.
Christian Schwartz nasceu em Curitiba em 1975. Formou-se pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) em 1997 e, como jornalista, trabalhou na rádio CBN e nas revistas Placar e Veja, da qual foi correspondente na Amazônia. Estudou língua e literatura francesas na Universidade Paris IV (Sorbonne), na França, e cursou pós-graduação em literatura na University of Central England (UCE), em Birmingham, etapa de sua formação concluída na UFPR com um mestrado em Estudos Literários. Traduziu autores como Jonathan Coe, Nick Hornby, Hanif Kureishi, Graham Greene, Philip Roth, Jeffrey Eugenides, F. Scott Fitzgerald e Nathaniel Hawthorne. Schwartz atualmente vive na Inglaterra.