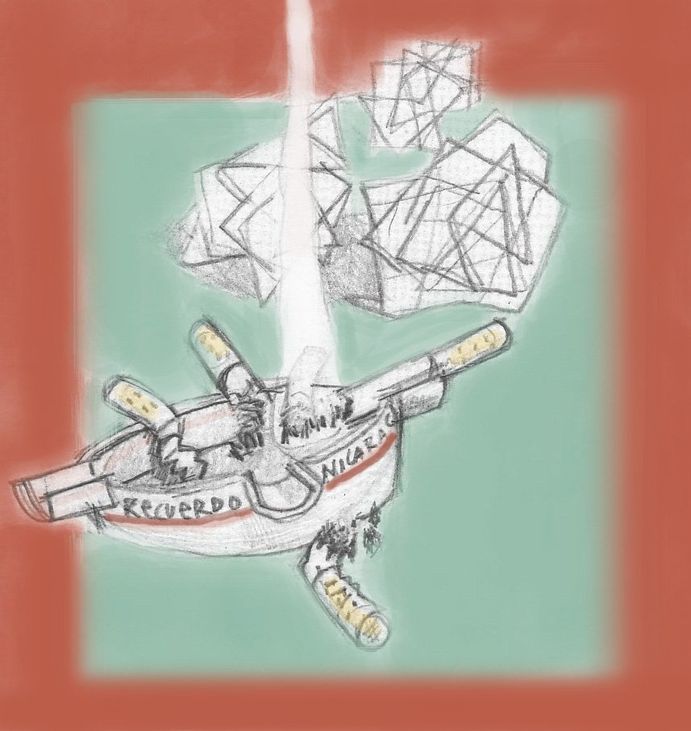Especial Capa: Literatura sem invenção
Especialista no assunto, Sergio Vilas-Boas fala sobre a revalorização do JL e chama atenção para a importância das reportagens narrativas como extensão dos noticiários
Sergio Vilas-Boas
Expressar o que é o Jornalismo Literário, também conhecido como Jornalismo Narrativo, é relativamente simples: é a reportagem de imersão sustentada por sólido trabalho de campo que resulta em uma escrita/edição refinada. Historicamente, o JL tem sido empregado em matérias especiais cujo aprofundamento possa ser atingido por meio do relacionamento intensivo do autor com seus personagens. Não chega a ser contraindicado para o hard news, a informação rápida do dia a dia, mas, nesse caso, a urgência sintética pode dificultar a observação detalhada.
O propósito dessa forma — não seria equivocado acrescentar “artística” — de jornalismo é transmitir a vivacidade das experiências de pessoas em relação ao assunto central, incluindo as experiências do próprio jornalista, quando cabíveis ao projeto. Esta, aliás, é a principal diferença do JL em relação a outras elaborações jornalísticas: você pode produzir noticiários sem protagonistas; pode talvez realizar uma reportagem investigativa (de olho nos poderes públicos) sem protagonistas, apenas com dossiês e fontes em off, por exemplo.
Na mesma linha de raciocínio, pode-se escrever uma crônica, uma crítica ou qualquer outro texto opinativo sem preocupação com a “construção de personagens reais vivendo situações reais em lugares reais”. Por outro lado, sob pena de vender-se gato por lebre, é impossível praticar o JL se os fatos apurados e as percepções diretas do autor não girarem em torno da experiência (física e psicológica) de indivíduos criteriosamente selecionados.
Em JL, os personagens não são acessórios. Eles são a motivação central de tudo — da pauta à escrita. Não se pode esquecer que estamos lidando com o ato de contar (narrar) histórias, e histórias (narrações) em geral envolvem personagens (humanos, no caso). Quais personagens, vocês poderiam se perguntar. Em princípio, o autor seleciona aqueles que têm ou tiveram experiências específicas que ajudem a compreender a amplitude dos acontecimentos/assuntos postos em foco.
Em uma reportagem ao estilo JL sobre enchentes, por exemplo, as pessoas que experimentam na pele a invasão das águas em suas casas têm prioridade sobre aquelas que trabalham em prol dos desabrigados; e estas, por sua vez, têm mais potencial para ser coadjuvantes (da mesma reportagem) do que um sociólogo estudioso de catástrofes em regiões serranas. Decisivo, então, é o seguinte: gente que vive o acontecimento é mais importante que gente que o analisa à distância.
Intercâmbios
Ainda há desinformação e confusão nas empresas jornalísticas e nas faculdades de comunicação sobre o que o JL de fato é. Talvez por isso o confundam exatamente com o ele que não é. Vejamos: JL não é crônica, porque a crônica, no Brasil, pode ser ficcional; não é uma história “baseada” em fatos reais porque há um subtexto aí que abre a possibilidade da invenção; também não se trata apenas de “texto bonito”, porque a “beleza” pode não passar de artifício para encobrir deficiências — por exemplo, deficiência de pesquisa e de conversação.
Há também confusões semânticas, que decorrem, talvez, da falta de tradição do Brasil nesse tipo de texto. As resistências mais evidentes giram em torno do termo “literário”. Alguns jornalistas e acadêmicos enxergam nesse designativo uma tonalidade presunçosa, como se o jornalismo, sendo “menor” que a literatura, jamais pudesse sequer se atrever a querer se parecer com Ela. Prefiro uma visão menos elitista e mais inclusiva: a literatura envolve fatos tanto quanto o jornalismo (literário) envolve arte.
Há ainda os que tecem apelos éticos, na crença de que o tal “literário”, ao empregar técnicas provenientes da literatura, só pode resultar necessariamente em invenção, manipulação e distorção. Ao que respondo: ética é uma questão de formação e caráter, não de técnica. De modo geral, os debates sobre os limiares do jornalismo e da literatura acabam caindo em generalizações. Certos estudos defendem que jornalismo e literatura não podem se misturar; outros argumentam que são como os dedos desiguais da mesma mão.
Há os ensaios que operam com oposições periodísticas (o efêmero versus o duradouro); ou com dilemas comportamentais (funcionário de redação versus romancista/contista/poeta); ou afãs classificatórios (gênero versus subgênero); e purismos do tipo “a Arte não pode se misturar com essas fábricas de notícias” (sic). Entre as tantas insuficiências argumentativas, opto por aquela que aceita que a literatura tem de englobar a escrita do factual.
(Advertência: a expressão “não ficção” é negativa e negadora, certeira e indiscreta, rudimentar e ardilosa. Como professor e como autor, sinto que, no fundo, toda escrita individual produzida neste mundo é, stricto sensu, tão autobiográfica quanto “ficcional”, afinal, trata-se de “uma criação subjetiva da realidade”. Mas é preciso cautela ao apresentar isto em sala de aula: alunos podem achar que ficção é sinônimo de mentira; ou que realidade é sinônimo de verdade.)
Parece, mas não é
Quando as discussões resvalam em abstração extrema, retiro do baú reportagens, perfis e textos de viagem e distribuo-os. É evidentemente mais fácil entender o JL pela leitura de um texto do tipo. Lendo-os, o nervo central fica exposto: ah, parece (parece) conto, mas não é conto; ah, a estrutura, a trama e a linguagem lembram (lembram) um romance, mas não é romance. Os receios, então, dão lugar ao prazer de experimentar.
Narrar é uma atitude. O novo (o diferente do habitual) requer ousadia. A diretriz fundamental de um jornalista literário é ir a campo: observar, indagar, ouvir mais do que falar, mas falar também; conquistar a confiança das pessoas para que elas relatem suas experiências autêntica e espontaneamente; selecionar ocorrências que levem o público a entrar no relato e vivê-lo como se estivesse lá.
No Brasil, o contexto nunca foi tão favorável ao estudo e à prática do JL. Vários fatores contribuíram para o restabelecimento do interesse pelo gênero: primeiro, as reformas curriculares dos cursos de jornalismo, que incentivaram trabalhos de conclusão em formato narrativo não acadêmico. Paralelamente, criaram-se disciplinas que valorizam mais a reportagem de fôlego, inclusive com a apropriação/adaptação de metodologias de pesquisa das ciências sociais.
Programas de pós-graduação (lato sensu) como o da Academia Brasileira de Jornalismo Literário (ABJL), que ajudei a criar e dirigir de 2005 a 2011, também preencheram a lacuna de formação especializada não atendida pela graduação. Em termos de mercado, a coleção Jornalismo Literário da editora Companhia das Letras (iniciada com a publicação de Hiroshima, de John Hersey, em 2002) permitiu o acesso a obras referenciais.
O lançamento de revistas como Piauí, Brasileiros e Rolling Stone na década passada também ajudou a reacender o interesse do público pela narrativa jornalística detalhada, fortalecida por componentes literários. A receptividade foi tanta que muita gente até pensou que se tratava de uma coisa nova. Mas o JL existe há mais de um século. Seu marco histórico inaugural é o século XIX, quando os romancistas começaram a se excitar com a ideia de “uma ficção verdadeira sobre o real”.
Realismos
A ascensão do realismo na ficção, principalmente o de temática comportamental, fomentou a explosão de autores clássicos que lemos até hoje, como Balzac, Dostoiévski, Tolstói, Dickens, Flaubert, Defoe, Machado de Assis, João do Rio, Euclides da Cunha e tantos outros. Num crescendo de refinamento e sofisticação, o realismo acabaria penetrando em uma camada mais política, ansioso por denunciar as mazelas geradas pelo capitalismo e pelos regimes autoritários das primeiras décadas do século XX.
Hemingway, Steinbeck, John dos Passos, Faulkner, James Agee, Graciliano Ramos e dezenas de grandes jornalistas-escritores são exemplos da safra conhecida por “realismo social”. De um lado, a ficção lutando para incorporar o real, o imediato, o contemporâneo, o fato. De outro, o jornalismo se esmerando na cobertura de guerras, como a de Secessão, nos Estados Unidos, a dos Böers, na África do Sul, e a Guerra Civil Espanhola.
Enquanto na literatura o realismo se encaminhava para uma temática mais social, o jornalismo de reportagens detalhadas incorporava métodos mais sofisticados de apuração e expressão; e, na década de 1950, os beatniks sacudiriam o meio literário com suas “ficções a quente”, em plena febre das vivências e muito próximas da oralidade. Eram ficções malcomportadas na forma e às vezes delirantes no conteúdo, mas com um fascinante componente de transgressão.
Nos anos 1950, principalmente nos países mais ricos, o jornalismo estava já numa fase de industrialização, e as redações pareciam divididas entre os que tinham uma visão científica da profissão e os inquietos que se dispunham a encará-la como arte. Nesse conjunto de ânimos eclodiu o new lournalism (novo jornalismo), movimento imantado pela capacidade de provocação dos beatniks e pela efervescência cultural dos anos 1960, quando os cidadãos estavam nas ruas para lutar contra o “sistema”.
O que havia de new, de novo, naquele new journalism praticado por autores como Gay Talese, Norman Mailer e Tom Wolfe? Em essência, nada de muito relevante. Aquilo já era feito de maneira arrojada desde o século 19, como eu disse. A novidade, ao que parece, era o fato de que agora leitores do mundo inteiro haviam passado a “comprar” uma narrativa jornalística não apenas porque ela contém dados verificáveis, mas também por sua estética subjetiva.
Resgate
O Brasil teve momentos históricos importantes nessa linha. Imitamos com argúcia o new journalism em O Cruzeiro, Jornal da Tarde (anos 1970) e Realidade (1966-68). Mas não houve uma prática ininterrupta, não se criou uma cultura de narração literária em jornais nem um amplo mercado consumidor de histórias jornalísticas em livro. Surpreendentemente, em vez de afastar para sempre o JL dos ambientes culturais brasileiros, a atual era digital redespertou-o.
Depois de muita instabilidade, as revoluções tecnológicas acabaram levando a uma constatação que antes não parecia tão óbvia: a essência do jornalismo continua sendo a reportagem, mas ela precisa passar por um processo de oxigenação em seus métodos e procedimentos. Quem pode se interessar por Jornalismo Literário hoje em dia? Em princípio, as chamadas audiências cultas, compostas por pessoas que precisam da leitura para melhor se situarem no mundo.
Mas não podemos nos esquecer que a leitura não é uma habilidade inata. Ninguém nasce leitor. As pessoas se tornam leitoras por meio de incentivos dados ainda no ensino fundamental, e que levem o individuo a acreditar ao longo do tempo que a leitura de textos (de qualquer tipo) pode fazer diferença na vida de alguma forma, conforme o caso. A maioria das pessoas, porém, não atinge esse nível de hábito, ou não vai muito além do processo meramente instrumental da leitura.
Não nos esqueçamos também de que, em um contexto de notícias onipresentes, a informação se tornou uma espécie de commodity. A geração de conteúdos exclusivos de alto nível é, portanto, fundamental para qualquer empresa jornalística que queira sobreviver. Nesse sentido, o Jornalismo Literário, assim como o investigativo, se apresenta como um dos caminhos de diferenciação historicamente sólidos.
O público leigo exigente tende a escapar do formato às vezes hermético (da academia), pernóstico (dos colunistas) e superficial (dos noticiários). Aqui e ali, as reportagens especiais de fôlego estão retornando, deixando ainda mais clara a genuína índole do JL, que é fazer com que conteúdo e forma sejam parceiros da mesma aventura — como, aliás, ocorre na boa literatura.
Sergio Vilas-Boas é jornalista, escritor e professor especializado em Narrativas do Real. Autor de Doutor Desafio, Biografismo e Perfis, entre outros. Também mantém o site www.sergiovilasboas.com.br . Vive em São Paulo (SP).
Sergio Vilas-Boas
Expressar o que é o Jornalismo Literário, também conhecido como Jornalismo Narrativo, é relativamente simples: é a reportagem de imersão sustentada por sólido trabalho de campo que resulta em uma escrita/edição refinada. Historicamente, o JL tem sido empregado em matérias especiais cujo aprofundamento possa ser atingido por meio do relacionamento intensivo do autor com seus personagens. Não chega a ser contraindicado para o hard news, a informação rápida do dia a dia, mas, nesse caso, a urgência sintética pode dificultar a observação detalhada.
O propósito dessa forma — não seria equivocado acrescentar “artística” — de jornalismo é transmitir a vivacidade das experiências de pessoas em relação ao assunto central, incluindo as experiências do próprio jornalista, quando cabíveis ao projeto. Esta, aliás, é a principal diferença do JL em relação a outras elaborações jornalísticas: você pode produzir noticiários sem protagonistas; pode talvez realizar uma reportagem investigativa (de olho nos poderes públicos) sem protagonistas, apenas com dossiês e fontes em off, por exemplo.
Na mesma linha de raciocínio, pode-se escrever uma crônica, uma crítica ou qualquer outro texto opinativo sem preocupação com a “construção de personagens reais vivendo situações reais em lugares reais”. Por outro lado, sob pena de vender-se gato por lebre, é impossível praticar o JL se os fatos apurados e as percepções diretas do autor não girarem em torno da experiência (física e psicológica) de indivíduos criteriosamente selecionados.
Em JL, os personagens não são acessórios. Eles são a motivação central de tudo — da pauta à escrita. Não se pode esquecer que estamos lidando com o ato de contar (narrar) histórias, e histórias (narrações) em geral envolvem personagens (humanos, no caso). Quais personagens, vocês poderiam se perguntar. Em princípio, o autor seleciona aqueles que têm ou tiveram experiências específicas que ajudem a compreender a amplitude dos acontecimentos/assuntos postos em foco.
Em uma reportagem ao estilo JL sobre enchentes, por exemplo, as pessoas que experimentam na pele a invasão das águas em suas casas têm prioridade sobre aquelas que trabalham em prol dos desabrigados; e estas, por sua vez, têm mais potencial para ser coadjuvantes (da mesma reportagem) do que um sociólogo estudioso de catástrofes em regiões serranas. Decisivo, então, é o seguinte: gente que vive o acontecimento é mais importante que gente que o analisa à distância.
Intercâmbios
Ainda há desinformação e confusão nas empresas jornalísticas e nas faculdades de comunicação sobre o que o JL de fato é. Talvez por isso o confundam exatamente com o ele que não é. Vejamos: JL não é crônica, porque a crônica, no Brasil, pode ser ficcional; não é uma história “baseada” em fatos reais porque há um subtexto aí que abre a possibilidade da invenção; também não se trata apenas de “texto bonito”, porque a “beleza” pode não passar de artifício para encobrir deficiências — por exemplo, deficiência de pesquisa e de conversação.
Há também confusões semânticas, que decorrem, talvez, da falta de tradição do Brasil nesse tipo de texto. As resistências mais evidentes giram em torno do termo “literário”. Alguns jornalistas e acadêmicos enxergam nesse designativo uma tonalidade presunçosa, como se o jornalismo, sendo “menor” que a literatura, jamais pudesse sequer se atrever a querer se parecer com Ela. Prefiro uma visão menos elitista e mais inclusiva: a literatura envolve fatos tanto quanto o jornalismo (literário) envolve arte.
Há ainda os que tecem apelos éticos, na crença de que o tal “literário”, ao empregar técnicas provenientes da literatura, só pode resultar necessariamente em invenção, manipulação e distorção. Ao que respondo: ética é uma questão de formação e caráter, não de técnica. De modo geral, os debates sobre os limiares do jornalismo e da literatura acabam caindo em generalizações. Certos estudos defendem que jornalismo e literatura não podem se misturar; outros argumentam que são como os dedos desiguais da mesma mão.
Há os ensaios que operam com oposições periodísticas (o efêmero versus o duradouro); ou com dilemas comportamentais (funcionário de redação versus romancista/contista/poeta); ou afãs classificatórios (gênero versus subgênero); e purismos do tipo “a Arte não pode se misturar com essas fábricas de notícias” (sic). Entre as tantas insuficiências argumentativas, opto por aquela que aceita que a literatura tem de englobar a escrita do factual.
(Advertência: a expressão “não ficção” é negativa e negadora, certeira e indiscreta, rudimentar e ardilosa. Como professor e como autor, sinto que, no fundo, toda escrita individual produzida neste mundo é, stricto sensu, tão autobiográfica quanto “ficcional”, afinal, trata-se de “uma criação subjetiva da realidade”. Mas é preciso cautela ao apresentar isto em sala de aula: alunos podem achar que ficção é sinônimo de mentira; ou que realidade é sinônimo de verdade.)
Parece, mas não é
Quando as discussões resvalam em abstração extrema, retiro do baú reportagens, perfis e textos de viagem e distribuo-os. É evidentemente mais fácil entender o JL pela leitura de um texto do tipo. Lendo-os, o nervo central fica exposto: ah, parece (parece) conto, mas não é conto; ah, a estrutura, a trama e a linguagem lembram (lembram) um romance, mas não é romance. Os receios, então, dão lugar ao prazer de experimentar.
Narrar é uma atitude. O novo (o diferente do habitual) requer ousadia. A diretriz fundamental de um jornalista literário é ir a campo: observar, indagar, ouvir mais do que falar, mas falar também; conquistar a confiança das pessoas para que elas relatem suas experiências autêntica e espontaneamente; selecionar ocorrências que levem o público a entrar no relato e vivê-lo como se estivesse lá.
No Brasil, o contexto nunca foi tão favorável ao estudo e à prática do JL. Vários fatores contribuíram para o restabelecimento do interesse pelo gênero: primeiro, as reformas curriculares dos cursos de jornalismo, que incentivaram trabalhos de conclusão em formato narrativo não acadêmico. Paralelamente, criaram-se disciplinas que valorizam mais a reportagem de fôlego, inclusive com a apropriação/adaptação de metodologias de pesquisa das ciências sociais.
Programas de pós-graduação (lato sensu) como o da Academia Brasileira de Jornalismo Literário (ABJL), que ajudei a criar e dirigir de 2005 a 2011, também preencheram a lacuna de formação especializada não atendida pela graduação. Em termos de mercado, a coleção Jornalismo Literário da editora Companhia das Letras (iniciada com a publicação de Hiroshima, de John Hersey, em 2002) permitiu o acesso a obras referenciais.
O lançamento de revistas como Piauí, Brasileiros e Rolling Stone na década passada também ajudou a reacender o interesse do público pela narrativa jornalística detalhada, fortalecida por componentes literários. A receptividade foi tanta que muita gente até pensou que se tratava de uma coisa nova. Mas o JL existe há mais de um século. Seu marco histórico inaugural é o século XIX, quando os romancistas começaram a se excitar com a ideia de “uma ficção verdadeira sobre o real”.
Realismos
A ascensão do realismo na ficção, principalmente o de temática comportamental, fomentou a explosão de autores clássicos que lemos até hoje, como Balzac, Dostoiévski, Tolstói, Dickens, Flaubert, Defoe, Machado de Assis, João do Rio, Euclides da Cunha e tantos outros. Num crescendo de refinamento e sofisticação, o realismo acabaria penetrando em uma camada mais política, ansioso por denunciar as mazelas geradas pelo capitalismo e pelos regimes autoritários das primeiras décadas do século XX.
Hemingway, Steinbeck, John dos Passos, Faulkner, James Agee, Graciliano Ramos e dezenas de grandes jornalistas-escritores são exemplos da safra conhecida por “realismo social”. De um lado, a ficção lutando para incorporar o real, o imediato, o contemporâneo, o fato. De outro, o jornalismo se esmerando na cobertura de guerras, como a de Secessão, nos Estados Unidos, a dos Böers, na África do Sul, e a Guerra Civil Espanhola.
Enquanto na literatura o realismo se encaminhava para uma temática mais social, o jornalismo de reportagens detalhadas incorporava métodos mais sofisticados de apuração e expressão; e, na década de 1950, os beatniks sacudiriam o meio literário com suas “ficções a quente”, em plena febre das vivências e muito próximas da oralidade. Eram ficções malcomportadas na forma e às vezes delirantes no conteúdo, mas com um fascinante componente de transgressão.
Nos anos 1950, principalmente nos países mais ricos, o jornalismo estava já numa fase de industrialização, e as redações pareciam divididas entre os que tinham uma visão científica da profissão e os inquietos que se dispunham a encará-la como arte. Nesse conjunto de ânimos eclodiu o new lournalism (novo jornalismo), movimento imantado pela capacidade de provocação dos beatniks e pela efervescência cultural dos anos 1960, quando os cidadãos estavam nas ruas para lutar contra o “sistema”.
O que havia de new, de novo, naquele new journalism praticado por autores como Gay Talese, Norman Mailer e Tom Wolfe? Em essência, nada de muito relevante. Aquilo já era feito de maneira arrojada desde o século 19, como eu disse. A novidade, ao que parece, era o fato de que agora leitores do mundo inteiro haviam passado a “comprar” uma narrativa jornalística não apenas porque ela contém dados verificáveis, mas também por sua estética subjetiva.
Resgate
O Brasil teve momentos históricos importantes nessa linha. Imitamos com argúcia o new journalism em O Cruzeiro, Jornal da Tarde (anos 1970) e Realidade (1966-68). Mas não houve uma prática ininterrupta, não se criou uma cultura de narração literária em jornais nem um amplo mercado consumidor de histórias jornalísticas em livro. Surpreendentemente, em vez de afastar para sempre o JL dos ambientes culturais brasileiros, a atual era digital redespertou-o.
Depois de muita instabilidade, as revoluções tecnológicas acabaram levando a uma constatação que antes não parecia tão óbvia: a essência do jornalismo continua sendo a reportagem, mas ela precisa passar por um processo de oxigenação em seus métodos e procedimentos. Quem pode se interessar por Jornalismo Literário hoje em dia? Em princípio, as chamadas audiências cultas, compostas por pessoas que precisam da leitura para melhor se situarem no mundo.
Mas não podemos nos esquecer que a leitura não é uma habilidade inata. Ninguém nasce leitor. As pessoas se tornam leitoras por meio de incentivos dados ainda no ensino fundamental, e que levem o individuo a acreditar ao longo do tempo que a leitura de textos (de qualquer tipo) pode fazer diferença na vida de alguma forma, conforme o caso. A maioria das pessoas, porém, não atinge esse nível de hábito, ou não vai muito além do processo meramente instrumental da leitura.
Não nos esqueçamos também de que, em um contexto de notícias onipresentes, a informação se tornou uma espécie de commodity. A geração de conteúdos exclusivos de alto nível é, portanto, fundamental para qualquer empresa jornalística que queira sobreviver. Nesse sentido, o Jornalismo Literário, assim como o investigativo, se apresenta como um dos caminhos de diferenciação historicamente sólidos.
O público leigo exigente tende a escapar do formato às vezes hermético (da academia), pernóstico (dos colunistas) e superficial (dos noticiários). Aqui e ali, as reportagens especiais de fôlego estão retornando, deixando ainda mais clara a genuína índole do JL, que é fazer com que conteúdo e forma sejam parceiros da mesma aventura — como, aliás, ocorre na boa literatura.
Sergio Vilas-Boas é jornalista, escritor e professor especializado em Narrativas do Real. Autor de Doutor Desafio, Biografismo e Perfis, entre outros. Também mantém o site www.sergiovilasboas.com.br . Vive em São Paulo (SP).