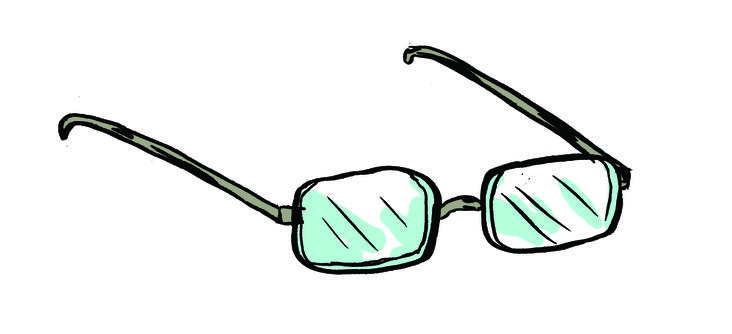Especial Capa: Gênese autobiográfica da ficção
O jornalista Christian Schwartz escreve ensaio sobre a influência das chamadas narrativas reais na ficção brasileira
Há uma encruzilhada em que se tocam ficção e “verdade”, invenção e “realidade” ou biografia, mais frequentemente autobiografia — e até o mais experiente leitor de romances não resiste a dar ali uma paradinha, pensativo, antes de seguir adiante na história. Mas, para além da curiosidade quase inata de quem lê, cristalizada na pergunta “mas isso aconteceu mesmo?”, os cruzamentos entre ficção e não-ficção parecem ter se tornado, particularmente nas duas últimas décadas, o terreno artístico mais fértil no campo das letras. Estaríamos diante de uma tendência do romance contemporâneo a se basear na história (ou História) e na biografia (ou autobiografia)?
O fato ou personagem histórico, é verdade, tomaram de assalto muitos romances nacionais e estrangeiros — alguns deles de grande qualidade como ficção, pura e simplesmente. E é evidente certa obsessão de parte dos leitores — e, claro, a reboque deles, editoras e listas de best-sellers — por “histórias verdadeiras” ou “baseadas em fatos reais”.
Ao mesmo tempo, narrativas biográficas que se apresentam como tais, ou seja, o filão da chamada “biografia romanceada”, tão bem representado no Brasil por precursores como Ruy Castro e Fernando Morais, ao lado de muitos outros, também têm proporcionado um mais que farto banquete tanto para leitores quanto para editores e biógrafos. É inegável o interesse crescente por esse tipo de literatura, cada vez mais lucrativo na comparação com a ficção propriamente dita.
Por que essa preferência do público leitor pela não-ficção?
“Acredito que seja por existir uma identificação da não-ficção com a verdade, e portanto da ficção com a mentira. Isso se liga ao fenômeno do utilitarismo que se espera da leitura, ao sucesso da auto-ajuda. Ler não-ficção é visto como aprendizado, ler ficção como perda de tempo”, observa o escritor e jornalista Sérgio Rodrigues, responsável por um dos mais influentes blogs de literatura do país, o Todoprosa, e autor de Elza, a Garota (Nova Fronteira). Trata-se de um romance que usa a História — o episódio do assassinato de uma adolescente pela cúpula do Partido Comunista Brasileiro — para construir seu enredo. Mas Rodrigues é ardoroso defensor da ficção pela ficção: “Não acho que faça sentido usar a ficção como simples adorno de um relato não-ficcional. Por natureza, ela me parece um discurso mais forte, mais revelador e mais ousado.”
Lá fora, há quem diga, a mescla de ficção e não-ficção (pendendo para esta) já seria tendência, fomentada em particular por escritores de língua inglesa e caracterizada por um recurso do qual todos eles lançam mão em doses generosas — o de contar em seus livros as próprias experiências pessoais e, assim, obter recordes de vendagem. Best-sellers ao redor do planeta, esses autores abusariam, segundo seus críticos, de uma estratégia comum no mundo das celebridades, no qual a invasão da privacidade é a alma do negócio. Alguns até acabam desmascarados como falsificadores da própria história — ironia, já que todo escritor, por definição, é um “falsário”.
É verdade que existem afinidades entre Dave Eggers e Zadie Smith, Jonathan Safran Foer e Nick Hornby — alguns dos autores americanos e ingleses que tangenciam as próprias biografias (quando não mergulham nelas) ao criar ficção. Mas são escritores que se situam muito além dos clichês e escândalos desta nossa era do espetáculo. O fato de venderem tão bem quanto biografias e autobiografias — e há, nesse filão, material de gosto bastante duvidoso — pode até convidar a uma comparação. Má comparação, de todo modo.
Ao fundo, uma questão que parecia apaziguada (mas ainda faz o leitor de romances, teimosamente, parar na encruzilhada): a das marcas autobiográficas na ficção. Afinal, qual é o autor, na história do romance moderno, que não recorreu à própria história de vida? Faz mais de século e meio que Flaubert, a respeito de sua imortal personagem, afirmou: “Madame Bovary sou eu.”
Espírito da prosa
Para a literatura brasileira, há o fato inescapável de que o romance nacional mais aclamado — e, vale lembrar, mais vendido — dos últimos anos é, conforme o próprio autor, um relato “brutalmente autobiográfico”: O filho eterno, de Cristovão Tezza, escritor que, ao mesmo tempo, já se definiu como “um autor confessional, e não autobiográfico”. Exceto em O filho eterno.
Pensador da literatura tanto quanto romancista premiado — no meio do ano, lança um ensaio intitulado O espírito da prosa, que sai pela editora Civilização Brasileira, em que esmiúça essa e outras questões —, o autor catarinense refletiu sobre o tema num de vários textos que, escritos nos últimos anos, compõem o cerne do novo livro, embora totalmente reformulados e acrescidos de passagens mais pessoais (e, desta vez, verdadeiramente biográficas) sobre a formação do escritor.
“Na literatura, dada a impossibilidade essencial de autor biográfico e narrador (este entendido genericamente como qualquer conjunto de formas sintático-semânticas que criam a voz unitária de um objeto textual) serem as mesmas entidades, é preciso estabelecer diferenças. Ou, mais precisamente, graus de distância entre um e outro. Não é uma tarefa simples ou fácil”, escreveu com didatismo o, aliás, ex-professor Tezza, em ensaio de 2008.
Ainda sobre a distinção entre a biografia como tal e a ficção propriamente dita, arrematava: “Já na biografia [...] o elemento factual, a realidade, a verdade, qualquer nome que se dê à intenção inalienável de representar fielmente os fatos do mundo concreto é de fato o seu eixo regulador absoluto. Na biografia, autor e narrador coincidem ao estabelecer o elemento factual como o centro do texto.”
O recurso é exemplificado em O filho eterno: o personagem do pai de um menino que nasce com Síndrome de Down (experiência de uma vida inteira do próprio Tezza), jamais é nomeado — deixa de ser Cristovão para aparecer apenas como “ele”. Por outro lado, vários outros detalhes — como os títulos dos livros que esse personagem escreve e publica ao longo da narrativa ficcional, curiosamente os mesmos Trapo ou Juliano Pavollini escritos e publicados por Cristovão Tezza — coincidem com a, vamos dizer, vida real. Em outras palavras, ou melhor, nas palavras do autor, outra vez transmutado no ensaísta do livro que lançará em breve: “O elemento factual, ao entrar na moldura da ficção, perde o seu estatuto de realidade, a sua âncora diferencial, e passa a pertencer à família dos elementos ficcionais com exatamente o mesmo status; a cidade verdadeira e a cidade imaginária que por acaso apareçam num capítulo são ambas cidades ficcionais para os fins da representação romanesca do mundo.”
Resultado: quem por acaso tentou alguma vez, usando o restante da obra de Tezza como guia, seguir os passos de seus personagens pelas ruas da Curitiba ali descrita, certamente se perdeu.
Contemporâneos
A questão é saber se, assim como no conjunto da obra de Tezza, esse procedimento de injetar fatos, digamos, “comprováveis”, ou mesmo a própria história de vida, nos enredos de ficção, não passa de uma exceção ditada pelas circunstâncias — como passar uma vida escrevendo sem abordar o nascimento e a criação de um filho tão diferente, especial? — ou se, conforme nos perguntávamos antes, essa é uma tendência entre os escritores atuais.
Prossigamos, pois, nossa investigação, ainda na literatura brasileira, com dois contemporâneos da mesma estatura do autor de O filho eterno — mas que, à primeira vista, praticam o romance com filosofias diametralmente opostas.
O carioca Bernardo Carvalho é talvez, dentre seus pares atualmente em atividade, o mais bem-sucedido em tramar com o fato e a ficção, especialmente em livros como Nove Noites e Mongólia. Sobre o primeiro — mas o comentário parece valer para quase toda a obra mais recente de Carvalho –, a professora Celiza Soares, na coletânea de ensaios Alguma Prosa, afirma construir-se “num estilo que oscila entre o policial e o antropológico”, referindo-se ao enredo intrigante em torno do suicídio — documentado como real — de um antropólogo americano entre os índios brasileiros, nos anos 1930. A narrativa se desenrola a partir da investigação obsessiva do fato, nos dias atuais, por um narrador desconcertantemente parecido com o próprio autor. (Carvalho declarou ter se obrigado a inventar um protagonista com o qual jamais poderia ser confundido — o descendente de japoneses de O sol se põe em São Paulo — para que parassem de lhe perguntar sobre marcas autobiográficas ou “fatos reais” em seus livros. Mas sua pegada romanesca, exacerbadamente realista, ainda assim não mudou.).
Tome-se agora o que diz outro dos ensaios da coletânea Alguma Prosa, de autoria de Stefania Chiarelli a respeito das obras de Milton Hatoum: “Para muitos dos personagens do escritor amazonense, os livros propiciam um lar permanente, em contraponto aos deslocamentos físicos, psíquicos e culturais. A viagem-leitura, dessa maneira, evidencia de forma nítida as vivências desses indivíduos desterritorializados, marcados pelo trânsito entre culturas e idiomas.”
Hatoum cria, em seus livros, um universo singular em que, sem nunca parecer exótico ou regionalista, conta e reconta a história — quase uma fábula do Oriente — dos imigrantes libaneses (de quem de fato descende) na metrópole amazônica, Manaus. Como pano de fundo, em romances como Dois irmãos e Cinzas do Norte, o regime militar.
Em crônica recente no jornal O Estado de São Paulo, o escritor revela como, na juventude, terminou por abandonar as sessões de análise — afinal, outro método de autobiografia: “Busquei refúgio na leitura de ficção e poesia, e assim tentava espantar fantasmas e neuroses”, explicou Hatoum. A formulação é, repare-se, curiosamente parecida com a do ensaio crítico sobre sua obra citado há pouco. E prossegue ele: “Poucos anos depois, longe do Brasil e de seus generais, censores e torturadores, comecei a escrever meu primeiro romance e descobri um modo de ser menos infeliz, de mitigar o sofrimento e evitar o abismo da depressão. [...] tentei preencher as lacunas de silêncio com a linguagem escrita, essa autoanálise compulsiva, prazerosa e fantasiosa, que alguns chamam ficção” (o grifo é do autor deste texto). Deixa-nos, parece que de propósito, com a dúvida: mas o quanto é, de fato, ficção?
Origens do romance
A pergunta, claro, se coloca geração após geração — para ficar ainda nos brasileiros. Será coincidência que o personagem Pedro, de Passageiro do fim do dia, o premiadíssimo romance de Rubens Figueiredo, conte sua história durante um longo percurso no precário transporte público do Rio, do qual o autor (e professor na periferia da cidade) é ou foi assíduo usuário? O que significa que a menina que parte para os Estados Unidos em busca do pai, em Azul-Corvo, romance mais recente de Adriana Lisboa, se demore em descrições cinestésicas das paisagens espaçosas do Colorado, onde a autora está radicada há alguns anos? Por que Luiz Ruffato, na série de romances sobre o proletariado brasileiro que intitulou Inferno Provisório, se dedica a retratar sua Cataguases natal?
E até mesmo a mais nova literatura brasileira — surgida neste pouco mais de uma década do atual milênio — poderia ser questionada a respeito: André Sant’anna delirou numa UTI logo antes de compor, em O paraíso é bem bacana, os fluxos de consciência de um jogador de futebol brasileiro, Mané, que vira terrorista na Alemanha e está à beira da morte num hospital; Michel Laub, torcedor declarado do Grêmio de Porto Alegre, lembra bem daquele Grenal (real) durante o qual os irmãos protagonistas de O segundo tempo têm de se haver com a separação dos pais; e Daniel Galera, em Mãos de cavalo, não economiza referências à própria adolescência — ou seria apenas uma adolescência típica de quem cresceu no final dos anos 1980, início dos 1990, a do personagem Hermano?
Mas, aqui, como em Milton Hatoum ou até em Bernardo Carvalho, as semelhanças entre autores e narradores são sutis — e provavelmente passam despercebidas de uma maioria de leitores que, mais interessada (ainda bem) na história que está lendo, não se dará ao trabalho de perscrutar a biografia dos escritores em busca de uma suposta gênese autobiográfica das obras.
Um caso diferente é quando o nome de um personagem — não raro o protagonista, nesses casos — é o mesmo do autor. Aí só mesmo o leitor muito distraído, ou aquele tão voraz que nem se deu ao trabalho de passar os olhos pela capa antes de ir à primeira página, deixará de ficar intrigado com a coincidência: afinal, esse cara da história é o mesmo que assina a obra e cuja foto aparece aqui, na orelha do livro?
Ainda nos anos 1980, o romance que catapultou um então quase adolescente Marcelo Rubens Paiva à fama como escritor, Feliz ano velho, contava a história de certo Marcelo, jovem universitário que, num passeio com amigos, mergulha numa cachoeira para dali sair paraplégico. No mesmo tipo de confusão pode acabar o leitor de Quase-memória (título, aliás, bastante elucidativo, ao qual o autor acrescentou um confesso “quase-romance” como subtítulo), em que Carlos Heitor Cony, com nome próprio, recupera em instantâneos — feito tecesse um painel de belas crônicas — a relação com o pai, também designado pelo nome que teve na vida real, Ernesto. É um romance, digamos, refundador da literatura brasileira, já nos anos 1990 e por um autor veterano — que, além disso, dá mais uma volta ao parafuso da autobiografia na ficção.
E até no recentíssimo O vício do amor, de Mario Sabino, encontra-se um narrador que se fantasia com o nome do autor — embora, farsesco em vez do lírico Cony de Quase-memória, em seguida desdiga o que acabara de afirmar, inventando-se outros nomes. (Mas uma foto de Mario Sabino na orelha, debaixo de um arco romano que é parte importante do cenário ficcional, torna a provocar o leitor.) O expediente, nesse mesmo registro de farsa, também já foi usado por Marcelo Mirisola, por exemplo.
É possível recorrer às origens do romance para, enfim, elucidar a questão: nesse que é o mais nobre dos gêneros literários deve funcionar o princípio da identificação com um igual, mas na forma do seguinte paradoxo: embora a literatura moderna se ocupe de personagens individualizados, muito bem caracterizados, com consciências e percursos intransferíveis, a experiência de qualquer indivíduo real, por outro lado, de nada lhe serve — daí o fato de a simples confissão quase sempre redundar em má ficção. O grande personagem de romance é aquele que, em sua trajetória única, vive as experiências de todos e de nenhum de nós ao mesmo tempo.
Ao trabalhar no limite da associação entre o que conta o narrador/personagem e a própria biografia é que, de novo paradoxalmente, alguns escritores se mostram mais ficcionistas que outros.
Christian Schwartz é jornalista, professor universitário e tradutor. Já verteu para o português obras de Philip Roth, Sam Shepard e Lou Reed. Vive em Curitiba (PR).
Ilustração: DW Ribatsk