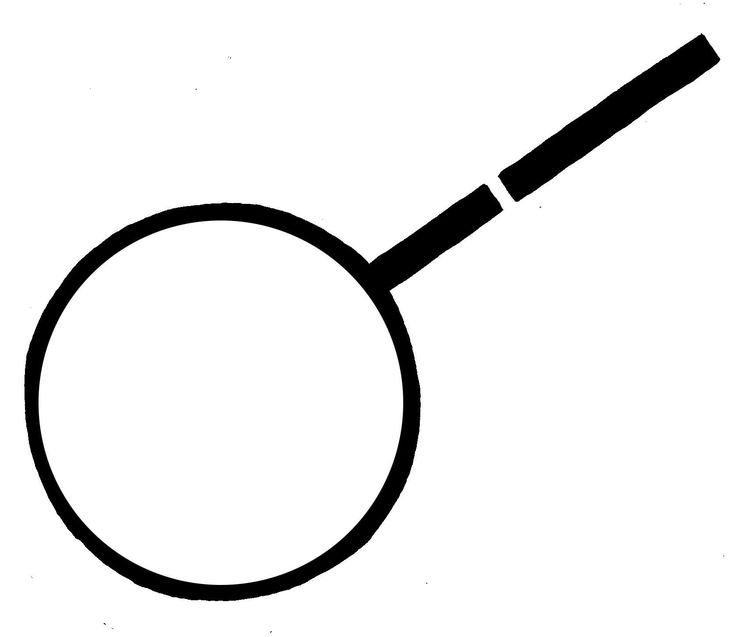Especial Capa: Existe uma literatura policial brasileira?
Autor de romances policiais e organizador da antologia Crime feito em casa — contos policiais brasileiros,
Flávio Moreira da Costa traça um panorama do gênero no país, desde os precursores até os autores contemporâneos
Flávio Moreira da Costa
Para falar da literatura policial brasileira de hoje, preciso falar antes da literatura policial brasileira de ontem. Afinal, acredito que o futuro da literatura policial, como aliás, de qualquer literatura, está no seu passado.
O policial brasileiro existiu ou existe? Vamos supor que sim. Incipiente ainda, e muito em forma de contos, gênero em que predominou durante décadas, se não até hoje, como registra minha antologia Crime feito em casa — contos policiais brasileiros (2005). À época consegui rastrear cerca de 35 contos, dentro de uma perspectiva histórica. Vamos alinhar aqui alguns deles, dentro desta perspectiva.
Na primeira parte — o início do início —, que chamei de “(Bons) antecedentes”, selecionei quatro contos, respectivamente, “O enfermeiro”, de Machado de Assis, “A mágoa que rala”, de Lima Barreto, “A aventura de Rosendo Moura”, de João do Rio, e “O crime”, de Olavo Bilac. Nenhum deles é o que se poderia chamar hoje — e ontem mesmo nem assim se chamavam — de contos policiais: são precursores. Tem, cada um deles, um traço, uma tendência, uma “levada”, como diriam os músicos, do que viria a se desenvolver no gênero policial.
A presença mais contestada, por uma crítica, pelo menos, foi a de “O enfermeiro”. Que Machado de Assis tenha sido um leitor pioneiro de Edgar Allan Poe, é coisa sabida de todos. Escrevi na pequena introdução ao conto que ele “sempre surpreendente, nos revela aqui uma personagem — o enfermeiro —, uma situação e um clima que parecem saídos, ao mesmo tempo, de um relato de Poe misturado a um filme classe B, em direção conjunta de Roger Corman e [Alfred] Hitchcock. O conto tem um andamento e um clima bastante noir — aliás, bem avant la lettre.” Já o conto de Lima Barreto, “A mágoa que rala”, não permite contestação: escrito a partir de um crime comum ocorrido numa idílica Lagoa Rodrigues de Freitas, Lima se antecede a uma tendência quase majoritária de literatura (e do cinema) policial até hoje: a de desenvolver o enredo em cima de um faits divers escondido entre as páginas dos jornais. Dificilmente, no começo do século XX, algum beletrista pensaria sequer em se utilizar de uma notícia policial para escrever suas histórias. Para não nos alongarmos, o conto de João do Rio situa-se na fronteira com o conto de horror, à moda dos escritores decandentistas da Belle Époque francesa, como um Jean Lorrain. Já a história de Olavo Bilac, é um conto criminal — narrativa que sempre antecedeu a literatura policial —, lidando com problemas de culpa e consciência, como acontece (e sem comparações, que seriam desproporcionais) em Crime e Castigo, de Dostoiévski.
E assim chegamos à década de 1920, do século passado.
E um nome se impõe aqui como pioneiro indiscutível: Medeiros e Albuquerque, um antigo membro da Academia Brasileira de Letras, hoje esquecido. Um modelo internacional já se impunha na mal iniciada literatura policial. Aliás, dois: Conan Doyle e Sherlock Holmes, criador e criatura, que levaram o gênero de detetive à categoria de literatura de massa, ou às listas de best-sellers — se existissem listas à época. Era uma febre a leitura deste detetive cocainômano e cerebral, ajudado pelo médico e amigo dr. Watson. Pois, acometido por essa febre, Medeiros e Albuquerque, que vivera na desvairada Paris da Belle Époque, quando se deixou contaminar pelos livros de Conan Doyle, escreveu a primeira coletânea de contos policiais da nossa literatura. Adivinhem o título... Se eu fosse Sherlock Holmes. A verdade, e ele já o diz no título, é que Medeiros não era Conan Doyle, mas seus contos ainda subsistem, como fenômeno da época, e bem mereceriam uma reedição. Essa posição de livro único de contos policiais, manteve-se até o surgimento de Luiz Lopes Coelho, outro pioneiro, quase três décadas depois, autor de A morte no envelope, O homem que matava quadros e A ideia de matar Belina. A erudição de Otto Maria Carpeaux não o impediu de saudá-lo como bom contista do gênero. Lopes Coelho criou um detetive à brasileira, o Dr. Leite.
Mas Medeiros e Albuquerque, no seu entusiasmo, aliciou e arregimentou cúmplices à sua volta para juntos, numa espécie de “quadrilha de escribas”, publicarem um folhetim policial na imprensa carioca. Compunham essa “quadrilha do bem” seus colegas de Academia Brasileira de Letras Coelho Neto, Afrânio Peixoto e Viriato Correia que, juntamente com o mentor intelectual do delito, Medeiros e Albuquerque, perpetuaram o que seria o primeiro romance policial brasileiro: deram-lhe o título de Mystério, com o devido ipsilone da época. Não escolheram um dentre eles para dar o acabamento final ao texto. Curiosamente, cada um assinava o capítulo escrito, e assim a insustentável leveza do Mystério ficou insustentável demais na estrutura romanesca e não se sustentou no ar. Mesmo assim, Mystério teve três edições em forma de livro, com uma venda surpreendente para a época — e mesmo para hoje — de dez mil exemplares.
(Esta experiência de autoria coletiva seria retomada anos depois, com Os mistérios de M.M., com outros “comparsas”, aliciados desta vez por João Condé: Lúcio Cardoso, Raquel de Queiróz, Jorge Amado, José Conde, Antonio Callado e... Guimarães Rosa, que aliás, começou publicando contos policiais na revista O Cruzeiro).
O que se sustenta no ar da literatura policial brasileira, ainda iniciante, é a obra do paulista Marcos Rey. Escritor profissional numa época em que viver de literatura no Brasil era coisa de dois a três autores, Rey nunca se envergonhou de escrever literatura popular, pelo contrário, fazia-o com gosto, habilidade e um bom domínio técnico. Mesmo embutindo as marcas da geração norte-americana dos anos 1930 — Hammett, Chandler, mas também Goodis e Horace McCoy —, o escritor paulista abrasileirou a narrativa de mistério — não parecia, como outros, ser um americano escrevendo em português. Vejam como ele apresenta seu detetive no conto “O último cuba-libre”: “Durante o dia Adão Flores era um gordo como qualquer outro. Sua atividade e seu charme começavam depois das 22 horas e às vezes até mais tarde. Então era visto levando seus 120 quilos às boates, a bistrôs e inferninhos da cidade (...) Com o tempo Adão Flores adquiriu outra profissão, paralela à de empresário da noite, a de detetive particular, mas sem placa na porta, atividade restrita apenas a cenários noturnos e pessoas conhecidas.” O detalhe de “sem placa na porta” parece anunciar Ed Mort, o personagem satírico de Luís Fernando Verissimo. Ocorre que Marcos Rey levou o gênero a milhares de jovens; ele foi um best-seller com suas duas dezenas de livros juvenis, de grande potencial de adoção escolar, com tiragens em escala de milhões.
Creio que já deu para perceber que não é unitária ou contínua — nem poderia sê-lo — a evolução da literatura policial brasileira, razão pela qual precisamos pular de tendência a tendência, seguir esta ou aquela pista, a fim de desenhar um pouco do mosaico que a constitui.
Assim, nos anos 60/70 surgiu entre nós uma espécie de ciclo do romance-reportagem, que muitas vezes se confundem com o gênero policial. Por razões cronológicas que talvez justifiquem a autocitação, meu livro Cosa Nostra – Eu vi a Máfia de perto, depois reeditado como A perseguição, saiu em 1973, classificado como “reportagem de ficção”, foi o primeiro de uma longa lista. Só depois, com livros de José Louzeiro, Aguinaldo Silva e outros, nossa imprensa começou a falar em “romances-reportagens”.
Foi uma espécie de mini ciclo, que teve repercussão, inclusive de vendas. E pelo menos dois ou três pontos dignos de se destacar vamos encontrar em livros como Araceli, meu amor, Lúcio Flávio — passageiro da agonia e Pixote, todos de José Louzeiro, para ficarmos no autor de maior destaque dessa contraparte do romance policial, além da passagem do conto para o romance como meio de expressão. Em primeiro lugar, a opção por assuntos brasileiros e da atualidade (o faits divers alimentando a ficção), em plena ditadura brasileira; depois, o exercício do profissionalismo, em contraste com o eterno amadorismo da nossa literatura, no que foi ajudado pelas versões cinematográficas desses livros. Títulos, por sua vez, que unem jornalismo à ideia de retratos da sociedade dos velhos romances realistas ou naturalistas, com vigor narrativo e ficção policial. Havia, como houve, leitores para eles.
Na mesma época, os anos 1960, surgia um contista que “mostrou-se interiormente livre para erguer um modo de ver e ser, de criar um estilo inconfundível”, nas palavras do crítico gaúcho — e meu professor de literatura na adolescência — Carlos Jorge Appel. O crítico falava de Rubem Fonseca, que escreveu uma série de livros magistrais, como Os prisioneiros (1963), A coleira do cão (1965), Lúcia McCartney (1967), Feliz ano novo (1975), O cobrador (1979) e os romances A grande arte (1983) e Bufo & Spallanzani (1986).
Rubem Fonseca chegou para confundir. Confundir as insustentáveis fronteiras de literaturas menores e literaturas maiores, de gêneros e subgêneros, confundir o comodismo teórico e classificatório das nossas universidades ou academias, confundir a separação entre literatura de massa e literatura de elite, o bom-mocismo estético da realidade cruel que nos envolve cotidianamente. Confundindo, ele nos renova: não se pode dizer que Rubem Fonseca seja um autor policial ou um grande escritor: ele é as duas coisas. A sombra do noir e do hard-boiled está presente em vários contos do autor, mas é a conhecida narrativa chamada “Mandrake” que se impõe quase que como um paradigma do gênero, ou dos rumos que o gênero tomou depois de Hammett e Chandler. “Mandrake”, aliás, é paradigma e propositalmente pastiche de Raymond Chandler/Philip Marlowe, criador e criatura. O próprio narrador deixa isso claro ao se referir, no final, a dois títulos de Chandler: O longo adeus e O grande sono.
Mas é nos romances, em particular em A grande arte e Bufo & Spallanzani, que Rubem Fonseca traça sua marca divisória na literatura policial brasileira, unindo e misturando a grande literatura com a “pequena literatura”, com a literatura popular, derrubando o muro de Berlim que separa, ou separava, boas intenções de boas realizações, “literatura” de “subliteratura” — e coloco aqui aspas nas duas palavras. É certo que esse muro já havia caído lá fora, desde Simenon (louvado por André Gide), passando pelos americanos do ramo, e até de William Faulkner, com seu romance Intruder in the dust, no qual mistura o assassinato de um branco por num camponês negro, heranças da Guerra de Secessão, com técnicas sofisticadas de stream of consciensness. Além de Allan Robbe-Grillet, que recria em seu romance de estreia A gun for fire, de Graham Greene. Mas o que importa aqui é o nosso contexto, e se Fonseca nos confunde, é porque ele nos sacode, balança nossas idées reçus, nossas certezas e preconceitos. Difícil dizer, depois dele, que não existe uma literatura policial brasileira, muito menos que ela se restrinja ao conceito difuso e velado de “subliteratura”.
É boa literatura policial que vem fazendo uma ou mais gerações depois de Rubem Fonseca. Alguns nomes para prestarmos atenção: Alfredo Garcia-Roza, com seu detetive Epinosa, morador do Bairro Peixoto — como Maigret, de Simenon, na Avenue Richard-Lenoir e arredores da Bastilha —, já fazendo carreira internacional; Marçal Aquino, que promove o abrasileiramento do gênero, retomando nesse sentido Marcos Rey; Tony Bellotto, mostrando o lado noir do rock, ou o lado rock and roll do romance noir; e ainda discípulos de Rubem Fonseca, como Patrícia Melo. Além dos novos autores surgindo: Tabajara Ruas, Joaquim Nogueira, Braz Chediak — o cineasta, estreando em 2011 como Cortina de sangue. E mais virão, pois o futuro da literatura policial brasileira está no passado, e no presente da literatura como um todo. Sobretudo, na tendência mundial/editorial de valorização do gênero.
A literatura de mistério, que começou quase como sinônimo de literatura anglo-saxã, já vem fazendo sua globalização há pelos menos 50 anos. Não se trata de nenhuma teoria literária especulativa: é também uma questão de mercado. Sem um mercado nacional e internacional, portanto sem uma profissionalização editorial e autoral, não haveria, nem haverá, a literatura de mistério ou policial. E ela não seria tão rica, nem estaria espalhada pelo mundo como está hoje. Seria o caso de lembrar que a maioria dos países têm bons, excelentes — e mesmo ruins, por que não?— autores policiais. Dos países escandinavos, passando pela Espanha, Itália, Grécia, Japão, Cuba, Rússia e África do Sul, há muitos autores policiais espalhados pelo globo. Vale lembrar também da nossa vizinha Argentina, que chegou antes de nós ao gênero, graças a leitores, diretores de coleções e tradutores como Jorge Luis Borges, Bioy Casares e Rodolfo Walsh, ainda nas décadas de 40/50.
Não seria justo dizer que nós estamos no mesmo patamar desta globalização do imaginário policial. Mas depois de um longo e lento começo, como tentei mostrar aqui, e que de certa forma resultou nos livros de Rubem Fonseca, já podemos dizer que “yes, nós podemos”. Talvez o sentido secreto do título de Fonseca, O cobrador, seja este: precisamos nos cobrar, nós, escritores, editores e leitores. As duas coleções do gênero que existem entre nós, da Record e da Companhia das Letras (duas, em contraste com quase cinquenta na França, por exemplo), publicam majoritariamente romances traduzidos. Em 2000, meu livro Modelo para morrer foi uma espécie de corpo estranho na Coleção Negra, da Record, entre dezenas de títulos estrangeiros.
Já é um bom começo. Falta o meio e o fim. Falta o enredo. Mais ação. Mais talentos?
Faltam mais cadáveres iniciais — em contraponto à nossa realidade, onde eles abundam —, mais investigações, mais detetives e leitores, mais, enfim, literatura, fora de divisões e de preconceitos. O filósofo Hegel escreveu que o problema da História é a história do problema. Problema ou mistério, tanto faz: o mistério desta história é a história desses mistérios.
Ainda no século XIX, o poeta Rimbaud anunciava a nossa época: “Voici le temps des assassins!” Só faltou falar em Fernandinho Beira-Mar, nas quadrilhas do Rio e de Brasília, nos tiranos como Kadhafi. Sim, crime e poder, como mostrou Hans Magnus Ensenberger.
Crime e castigo? Nem sempre.
É esta, me parece, a insustentável leveza do mistério. Ou será que não tem mistério? Nem leveza?
Flávio Moreira da Costa é escritor, autor de As armas e os barões e O equilibrista do arame farpado (1997). Várias vezes premiado, organizou três dezenas de antologias de sucesso, como Os cem melhores contos de humor, Melhores contos fantásticos e Contos de amor e desamor. O texto aqui publicado foi escrito originalmente para uma conferência realizada na Academia Brasileira de Letras, em abril de 2011. Flávio Moreira da Costa vive no Rio de Janeiro (RJ).
Flávio Moreira da Costa
Para falar da literatura policial brasileira de hoje, preciso falar antes da literatura policial brasileira de ontem. Afinal, acredito que o futuro da literatura policial, como aliás, de qualquer literatura, está no seu passado.
O policial brasileiro existiu ou existe? Vamos supor que sim. Incipiente ainda, e muito em forma de contos, gênero em que predominou durante décadas, se não até hoje, como registra minha antologia Crime feito em casa — contos policiais brasileiros (2005). À época consegui rastrear cerca de 35 contos, dentro de uma perspectiva histórica. Vamos alinhar aqui alguns deles, dentro desta perspectiva.
Na primeira parte — o início do início —, que chamei de “(Bons) antecedentes”, selecionei quatro contos, respectivamente, “O enfermeiro”, de Machado de Assis, “A mágoa que rala”, de Lima Barreto, “A aventura de Rosendo Moura”, de João do Rio, e “O crime”, de Olavo Bilac. Nenhum deles é o que se poderia chamar hoje — e ontem mesmo nem assim se chamavam — de contos policiais: são precursores. Tem, cada um deles, um traço, uma tendência, uma “levada”, como diriam os músicos, do que viria a se desenvolver no gênero policial.
A presença mais contestada, por uma crítica, pelo menos, foi a de “O enfermeiro”. Que Machado de Assis tenha sido um leitor pioneiro de Edgar Allan Poe, é coisa sabida de todos. Escrevi na pequena introdução ao conto que ele “sempre surpreendente, nos revela aqui uma personagem — o enfermeiro —, uma situação e um clima que parecem saídos, ao mesmo tempo, de um relato de Poe misturado a um filme classe B, em direção conjunta de Roger Corman e [Alfred] Hitchcock. O conto tem um andamento e um clima bastante noir — aliás, bem avant la lettre.” Já o conto de Lima Barreto, “A mágoa que rala”, não permite contestação: escrito a partir de um crime comum ocorrido numa idílica Lagoa Rodrigues de Freitas, Lima se antecede a uma tendência quase majoritária de literatura (e do cinema) policial até hoje: a de desenvolver o enredo em cima de um faits divers escondido entre as páginas dos jornais. Dificilmente, no começo do século XX, algum beletrista pensaria sequer em se utilizar de uma notícia policial para escrever suas histórias. Para não nos alongarmos, o conto de João do Rio situa-se na fronteira com o conto de horror, à moda dos escritores decandentistas da Belle Époque francesa, como um Jean Lorrain. Já a história de Olavo Bilac, é um conto criminal — narrativa que sempre antecedeu a literatura policial —, lidando com problemas de culpa e consciência, como acontece (e sem comparações, que seriam desproporcionais) em Crime e Castigo, de Dostoiévski.
E assim chegamos à década de 1920, do século passado.
E um nome se impõe aqui como pioneiro indiscutível: Medeiros e Albuquerque, um antigo membro da Academia Brasileira de Letras, hoje esquecido. Um modelo internacional já se impunha na mal iniciada literatura policial. Aliás, dois: Conan Doyle e Sherlock Holmes, criador e criatura, que levaram o gênero de detetive à categoria de literatura de massa, ou às listas de best-sellers — se existissem listas à época. Era uma febre a leitura deste detetive cocainômano e cerebral, ajudado pelo médico e amigo dr. Watson. Pois, acometido por essa febre, Medeiros e Albuquerque, que vivera na desvairada Paris da Belle Époque, quando se deixou contaminar pelos livros de Conan Doyle, escreveu a primeira coletânea de contos policiais da nossa literatura. Adivinhem o título... Se eu fosse Sherlock Holmes. A verdade, e ele já o diz no título, é que Medeiros não era Conan Doyle, mas seus contos ainda subsistem, como fenômeno da época, e bem mereceriam uma reedição. Essa posição de livro único de contos policiais, manteve-se até o surgimento de Luiz Lopes Coelho, outro pioneiro, quase três décadas depois, autor de A morte no envelope, O homem que matava quadros e A ideia de matar Belina. A erudição de Otto Maria Carpeaux não o impediu de saudá-lo como bom contista do gênero. Lopes Coelho criou um detetive à brasileira, o Dr. Leite.
Mas Medeiros e Albuquerque, no seu entusiasmo, aliciou e arregimentou cúmplices à sua volta para juntos, numa espécie de “quadrilha de escribas”, publicarem um folhetim policial na imprensa carioca. Compunham essa “quadrilha do bem” seus colegas de Academia Brasileira de Letras Coelho Neto, Afrânio Peixoto e Viriato Correia que, juntamente com o mentor intelectual do delito, Medeiros e Albuquerque, perpetuaram o que seria o primeiro romance policial brasileiro: deram-lhe o título de Mystério, com o devido ipsilone da época. Não escolheram um dentre eles para dar o acabamento final ao texto. Curiosamente, cada um assinava o capítulo escrito, e assim a insustentável leveza do Mystério ficou insustentável demais na estrutura romanesca e não se sustentou no ar. Mesmo assim, Mystério teve três edições em forma de livro, com uma venda surpreendente para a época — e mesmo para hoje — de dez mil exemplares.
(Esta experiência de autoria coletiva seria retomada anos depois, com Os mistérios de M.M., com outros “comparsas”, aliciados desta vez por João Condé: Lúcio Cardoso, Raquel de Queiróz, Jorge Amado, José Conde, Antonio Callado e... Guimarães Rosa, que aliás, começou publicando contos policiais na revista O Cruzeiro).
O que se sustenta no ar da literatura policial brasileira, ainda iniciante, é a obra do paulista Marcos Rey. Escritor profissional numa época em que viver de literatura no Brasil era coisa de dois a três autores, Rey nunca se envergonhou de escrever literatura popular, pelo contrário, fazia-o com gosto, habilidade e um bom domínio técnico. Mesmo embutindo as marcas da geração norte-americana dos anos 1930 — Hammett, Chandler, mas também Goodis e Horace McCoy —, o escritor paulista abrasileirou a narrativa de mistério — não parecia, como outros, ser um americano escrevendo em português. Vejam como ele apresenta seu detetive no conto “O último cuba-libre”: “Durante o dia Adão Flores era um gordo como qualquer outro. Sua atividade e seu charme começavam depois das 22 horas e às vezes até mais tarde. Então era visto levando seus 120 quilos às boates, a bistrôs e inferninhos da cidade (...) Com o tempo Adão Flores adquiriu outra profissão, paralela à de empresário da noite, a de detetive particular, mas sem placa na porta, atividade restrita apenas a cenários noturnos e pessoas conhecidas.” O detalhe de “sem placa na porta” parece anunciar Ed Mort, o personagem satírico de Luís Fernando Verissimo. Ocorre que Marcos Rey levou o gênero a milhares de jovens; ele foi um best-seller com suas duas dezenas de livros juvenis, de grande potencial de adoção escolar, com tiragens em escala de milhões.
Creio que já deu para perceber que não é unitária ou contínua — nem poderia sê-lo — a evolução da literatura policial brasileira, razão pela qual precisamos pular de tendência a tendência, seguir esta ou aquela pista, a fim de desenhar um pouco do mosaico que a constitui.
Assim, nos anos 60/70 surgiu entre nós uma espécie de ciclo do romance-reportagem, que muitas vezes se confundem com o gênero policial. Por razões cronológicas que talvez justifiquem a autocitação, meu livro Cosa Nostra – Eu vi a Máfia de perto, depois reeditado como A perseguição, saiu em 1973, classificado como “reportagem de ficção”, foi o primeiro de uma longa lista. Só depois, com livros de José Louzeiro, Aguinaldo Silva e outros, nossa imprensa começou a falar em “romances-reportagens”.
Foi uma espécie de mini ciclo, que teve repercussão, inclusive de vendas. E pelo menos dois ou três pontos dignos de se destacar vamos encontrar em livros como Araceli, meu amor, Lúcio Flávio — passageiro da agonia e Pixote, todos de José Louzeiro, para ficarmos no autor de maior destaque dessa contraparte do romance policial, além da passagem do conto para o romance como meio de expressão. Em primeiro lugar, a opção por assuntos brasileiros e da atualidade (o faits divers alimentando a ficção), em plena ditadura brasileira; depois, o exercício do profissionalismo, em contraste com o eterno amadorismo da nossa literatura, no que foi ajudado pelas versões cinematográficas desses livros. Títulos, por sua vez, que unem jornalismo à ideia de retratos da sociedade dos velhos romances realistas ou naturalistas, com vigor narrativo e ficção policial. Havia, como houve, leitores para eles.
Na mesma época, os anos 1960, surgia um contista que “mostrou-se interiormente livre para erguer um modo de ver e ser, de criar um estilo inconfundível”, nas palavras do crítico gaúcho — e meu professor de literatura na adolescência — Carlos Jorge Appel. O crítico falava de Rubem Fonseca, que escreveu uma série de livros magistrais, como Os prisioneiros (1963), A coleira do cão (1965), Lúcia McCartney (1967), Feliz ano novo (1975), O cobrador (1979) e os romances A grande arte (1983) e Bufo & Spallanzani (1986).
Rubem Fonseca chegou para confundir. Confundir as insustentáveis fronteiras de literaturas menores e literaturas maiores, de gêneros e subgêneros, confundir o comodismo teórico e classificatório das nossas universidades ou academias, confundir a separação entre literatura de massa e literatura de elite, o bom-mocismo estético da realidade cruel que nos envolve cotidianamente. Confundindo, ele nos renova: não se pode dizer que Rubem Fonseca seja um autor policial ou um grande escritor: ele é as duas coisas. A sombra do noir e do hard-boiled está presente em vários contos do autor, mas é a conhecida narrativa chamada “Mandrake” que se impõe quase que como um paradigma do gênero, ou dos rumos que o gênero tomou depois de Hammett e Chandler. “Mandrake”, aliás, é paradigma e propositalmente pastiche de Raymond Chandler/Philip Marlowe, criador e criatura. O próprio narrador deixa isso claro ao se referir, no final, a dois títulos de Chandler: O longo adeus e O grande sono.
Mas é nos romances, em particular em A grande arte e Bufo & Spallanzani, que Rubem Fonseca traça sua marca divisória na literatura policial brasileira, unindo e misturando a grande literatura com a “pequena literatura”, com a literatura popular, derrubando o muro de Berlim que separa, ou separava, boas intenções de boas realizações, “literatura” de “subliteratura” — e coloco aqui aspas nas duas palavras. É certo que esse muro já havia caído lá fora, desde Simenon (louvado por André Gide), passando pelos americanos do ramo, e até de William Faulkner, com seu romance Intruder in the dust, no qual mistura o assassinato de um branco por num camponês negro, heranças da Guerra de Secessão, com técnicas sofisticadas de stream of consciensness. Além de Allan Robbe-Grillet, que recria em seu romance de estreia A gun for fire, de Graham Greene. Mas o que importa aqui é o nosso contexto, e se Fonseca nos confunde, é porque ele nos sacode, balança nossas idées reçus, nossas certezas e preconceitos. Difícil dizer, depois dele, que não existe uma literatura policial brasileira, muito menos que ela se restrinja ao conceito difuso e velado de “subliteratura”.
É boa literatura policial que vem fazendo uma ou mais gerações depois de Rubem Fonseca. Alguns nomes para prestarmos atenção: Alfredo Garcia-Roza, com seu detetive Epinosa, morador do Bairro Peixoto — como Maigret, de Simenon, na Avenue Richard-Lenoir e arredores da Bastilha —, já fazendo carreira internacional; Marçal Aquino, que promove o abrasileiramento do gênero, retomando nesse sentido Marcos Rey; Tony Bellotto, mostrando o lado noir do rock, ou o lado rock and roll do romance noir; e ainda discípulos de Rubem Fonseca, como Patrícia Melo. Além dos novos autores surgindo: Tabajara Ruas, Joaquim Nogueira, Braz Chediak — o cineasta, estreando em 2011 como Cortina de sangue. E mais virão, pois o futuro da literatura policial brasileira está no passado, e no presente da literatura como um todo. Sobretudo, na tendência mundial/editorial de valorização do gênero.
A literatura de mistério, que começou quase como sinônimo de literatura anglo-saxã, já vem fazendo sua globalização há pelos menos 50 anos. Não se trata de nenhuma teoria literária especulativa: é também uma questão de mercado. Sem um mercado nacional e internacional, portanto sem uma profissionalização editorial e autoral, não haveria, nem haverá, a literatura de mistério ou policial. E ela não seria tão rica, nem estaria espalhada pelo mundo como está hoje. Seria o caso de lembrar que a maioria dos países têm bons, excelentes — e mesmo ruins, por que não?— autores policiais. Dos países escandinavos, passando pela Espanha, Itália, Grécia, Japão, Cuba, Rússia e África do Sul, há muitos autores policiais espalhados pelo globo. Vale lembrar também da nossa vizinha Argentina, que chegou antes de nós ao gênero, graças a leitores, diretores de coleções e tradutores como Jorge Luis Borges, Bioy Casares e Rodolfo Walsh, ainda nas décadas de 40/50.
Não seria justo dizer que nós estamos no mesmo patamar desta globalização do imaginário policial. Mas depois de um longo e lento começo, como tentei mostrar aqui, e que de certa forma resultou nos livros de Rubem Fonseca, já podemos dizer que “yes, nós podemos”. Talvez o sentido secreto do título de Fonseca, O cobrador, seja este: precisamos nos cobrar, nós, escritores, editores e leitores. As duas coleções do gênero que existem entre nós, da Record e da Companhia das Letras (duas, em contraste com quase cinquenta na França, por exemplo), publicam majoritariamente romances traduzidos. Em 2000, meu livro Modelo para morrer foi uma espécie de corpo estranho na Coleção Negra, da Record, entre dezenas de títulos estrangeiros.
Já é um bom começo. Falta o meio e o fim. Falta o enredo. Mais ação. Mais talentos?
Faltam mais cadáveres iniciais — em contraponto à nossa realidade, onde eles abundam —, mais investigações, mais detetives e leitores, mais, enfim, literatura, fora de divisões e de preconceitos. O filósofo Hegel escreveu que o problema da História é a história do problema. Problema ou mistério, tanto faz: o mistério desta história é a história desses mistérios.
Ainda no século XIX, o poeta Rimbaud anunciava a nossa época: “Voici le temps des assassins!” Só faltou falar em Fernandinho Beira-Mar, nas quadrilhas do Rio e de Brasília, nos tiranos como Kadhafi. Sim, crime e poder, como mostrou Hans Magnus Ensenberger.
Crime e castigo? Nem sempre.
É esta, me parece, a insustentável leveza do mistério. Ou será que não tem mistério? Nem leveza?
Flávio Moreira da Costa é escritor, autor de As armas e os barões e O equilibrista do arame farpado (1997). Várias vezes premiado, organizou três dezenas de antologias de sucesso, como Os cem melhores contos de humor, Melhores contos fantásticos e Contos de amor e desamor. O texto aqui publicado foi escrito originalmente para uma conferência realizada na Academia Brasileira de Letras, em abril de 2011. Flávio Moreira da Costa vive no Rio de Janeiro (RJ).