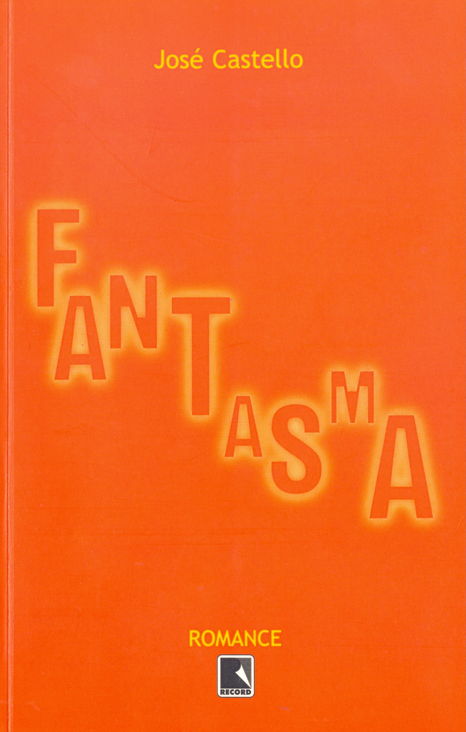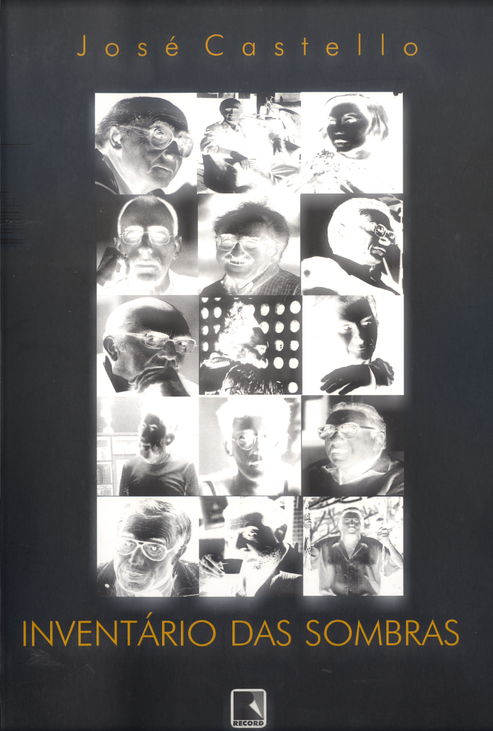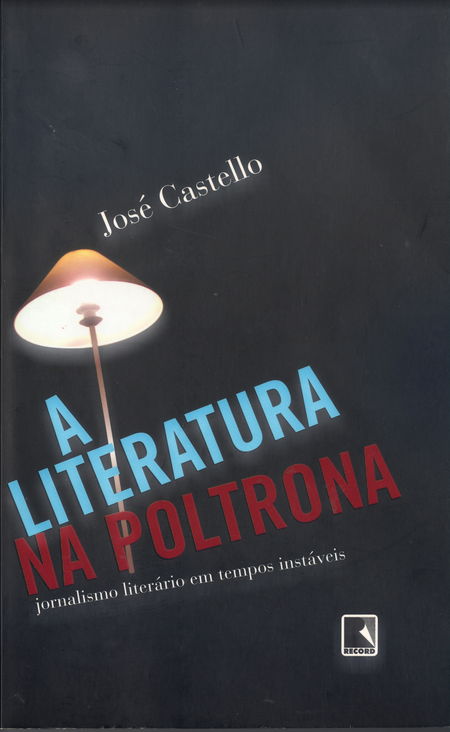Entrevista: José Castello
“O escritor precisa reinventar a literatura”
José Castello, que em 2011 venceu o prêmio Jabuti com o romance Ribamar, diz que está cada vez mais interessado em trabalhar nas fronteiras dos gêneros literários
Luiz Rebinski Junior
No começo dos anos 1990, o carioca José Castello, depois de uma carreira bem-sucedida no jornalismo impresso, resolveu que se dedicaria à sua grande paixão: a literatura. A decisão logo se confirmaria acertada, quando em 1994, o escritor ganhou o prêmio Jabuti por sua biografia de Vinícius de Moraes, O poeta da paixão. “O prêmio para meu primeiro livro foi uma espécie de sinal, um aviso de que eu não devia recuar, devia prosseguir no caminho da literatura”, diz Castello. Em 2011, outro Jabuti volta às mãos do escritor, dessa vez para reafirmar a crença de Castello em sua carreira como romancista.
O prêmio por Ribamar (2010), um romance que trata da relação de Castello com seu pai, também serviu para que o escritor encontrasse sua “voz literária”, como costuma dizer. Ao fundir diversos gêneros literários — da crônica à crítica literária — em um livro de ficção, o escritor encontrou a trilha pela qual deverá seguir no futuro. “Gosto muito de trabalhar nas fronteiras, de escrever à beira do abismo.” Tal “estilo” de narrar, no entanto, vem sendo burilado há décadas. Castello já vinha experimentando essa fusão de gêneros em livros de viés crítico, como A literatura na poltrona (2007) e, principalmente, Inventário das sombras (1999), livro que se equilibra entre o perfil e a crítica literária.
Radicado desde 1994 em Curitiba, José Castello já trabalhou nos principais meios de comunicação do país. Além de sua coluna semanal no caderno Prosa & Verso, do jornal O Globo, é colaborador de diversos meios de comunicação, como o jornal Valor Econômico e a revista Bravo!. Na entrevista que segue, Castello fala de jornalismo, leitura e crítica literária. Também revela que terá um 2012 agitado, com diversos projetos: um ensaio sobre o nascimento de escritores, a sair pela Companhia das Letras; uma série de “retratos” de escritores que fará para o jornal Valor Econômico; e seu terceiro romance, que tem como nome provisório Ninguém.
Castello, no começou dos anos 1990 você ganhou um prêmio Jabuti por O poeta da paixão, a biografia de Vinícius de Moraes (1993). Quase vinte anos depois, você recebe o prêmio por Ribamar, um livro de ficção e bastante pessoal. O Jabuti por Ribamar, um romance, tem mais importância pessoal e profissional para você?
Os dois prêmios são igualmente importantes. O Jabuti para O poeta da paixão foi um prêmio para meu primeiro livro. Uma espécie de sinal, um aviso de que eu não devia recuar, devia prosseguir no caminho da literatura. Um prêmio que me deu muita força, que quebrou minha insegurança de iniciante — apesar de eu já ter, naquele momento, 40 anos. O Jabuti para Ribamar, aos 60 anos de idade, tem um significado parecido: dez anos depois de lançar Fantasma, meu primeiro romance — um livro que, eu penso, não foi muito bem compreendido, talvez nem por mim —, este prêmio pelo meu segundo romance me diz que, sim, o caminho é esse, devo seguir em frente na via da ficção. E vou seguir, não há mais volta.
Você tem dito que está, cada vez mais, interessado na fusão de gêneros literários que marca a construção de Ribamar, onde você mistura memórias, ensaio e até crítica literária em um texto de ficção. Acha que com Ribamar você encontrou definitivamente sua voz?
Creio que sim, que encontrei, com uma clareza que desconhecia, o que desejo fazer. Gosto muito de trabalhar nas fronteiras, de escrever à beira do abismo. Os gêneros literários dogmáticos, com suas regras, suas proibições, seus modelos, me incomodam e desagradam. Creio que tiveram sua importância, mas hoje eles engessam os escritores. Tiveram seu sentido até o século XIX, mas o século XX os exterminou. No século XXI, temos que procurar outros caminhos. Escrever, mais do que nunca, se torna uma invenção. A cada livro, o escritor precisa reinventar a literatura. Agora é assim, e isso é muito bom para a literatura, porque lhe dá energia, a empurra para frente, lhe dá vida.
Fantasma, seu primeiro romance, apesar de trazer a marca indelével de seu texto, é bastante diferente de Ribamar no que refere à forma. Qual a diferença do romancista de Fantasma para o de Ribamar?
Como já disse, acredito que, a cada novo livro, o escritor deve se reinventar. O José que escreveu Fantasma não é o mesmo José que escreveu Ribamar. Então, como seria possível conservar a mesma ideia de ficção? A ficção, para mim, se torna cada vez mais ampla. Penso, mesmo, que ela é uma espécie de cola do mundo — é ela que nos mantém vivos e inteiros. É ela que preenche nossos buracos, nossos vazios, nossa ignorância e fraquezas. É ela que dá sentido a nossas vidas. E não falo só da ficção praticada nos romances, ou nos contos. Creio que toda a realidade está impregnada de ficção. Que nossa vida cotidiana é, em grande parte, ficção. Inventamos projetos, princípios, ideais, laços afetivos, maneiras de ser, estilos, tudo isso para viver. Viver não é fácil. Mas, sem a ficção, se torna impossível.
Inventário das sombras e A literatura na poltrona são dois livros bastante queridos pelos leitores. Em ambos, você mistura jornalismo com critica literária, ensaio e crônica. Você pretende voltar a esse tipo de texto em livro? Aliás, sente falta de entrevistar escritores, como fazia quando era repórter?
Sim, no momento estou trabalhando em um ensaio sobre o nascimento dos escritores, já contratado pela Companhia das Letras. Não é um ensaio clássico: escrevo-o na primeira pessoa, ele me traz muitas lembranças pessoais, é, digamos, um ensaio muito íntimo. Embora trate da literatura — mais especificamente, de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, o primeiro romance que li na vida, aos 11 anos de idade, e parta dele para pensar como nasce um escritor. Você vê: a base do ensaio já é uma experiência pessoal. De novo, repetindo o que fiz em Ribamar, pratico uma “escrita íntima” — mas que resulta em um livro completamente diferente. É isso, aliás, o que faço em minhas colunas no Prosa & Verso, de O Globo — que costumam chamar de crítica literária. Não sei se faço crítica literária. Atravesso um livro como um aventureiro que atravessa um deserto. No meio do caminho, o cara esbarra em um tesouro — não “O” tesouro, com maiúscula, mas seu tesouro pessoal, aquele que estava ali para que ele (e mais ninguém) o encontrasse. Então o que escrevo? Escrevo o relato dessa travessia, dessa aventura e desse encontro. É o que faço em minha coluna e é o que chamam de crítica literária. Se é mesmo crítica literária, é muito diferente da praticada nas universidades, e também na imprensa. Mas é a que sei fazer, é a que gosto de fazer. Quanto às entrevistas com os escritores, devo retomá-las a partir de fevereiro para o suplemento EU&, do jornal Valor Econômico, de que sou colaborador. Escreverei não bem entrevistas, mas retratos. Não tanto retratos clássicos, que pretendem esgotar a figura do entrevistado, mas instantâneos — retrato de um escritor no presente. É esse o título que sugeri, aliás, para a série: “Instantâneos”.
Na crítica literária, ou resenha, o objetivo é sempre falar de um livro ou escritor, nunca sobre si mesmo. Mas não acha que esse tipo de texto pode revelar mais sobre o resenhista do que sobre o resenhado? Acha que o leitor procura, também, essa revelação nesse tipo de texto?
É claro que a crítica sempre revela muito a respeito de seu autor. Não penso só em dados biográficos, em eventos de vida pessoal, mas em maneiras de observar o mundo, em um estilo pessoal, que revela — desnuda — suas escolhas. Se o crítico opta por uma linha teórica, e não outra, eis aí, desde já, uma escolha, eis aí, desde já, algo em que ele fala de si. A maneira de escrever, as ficções e poemas que escolhe para estudar, as referências teóricas, tudo isso acaba desnudando um crítico — ainda que ele se julgue protegido (como a maioria se julga) pela armadura acadêmica. Quando leio Kafka e escrevo sobre Kafka, estou escrevendo não tanto sobre Kafka, mas sobre a minha maneira de ler Kafka, de observá-lo, de interpretá-lo, sobre o modo como suas ficções batem em mim, me abalam, me perturbam, sobre as perguntas e dúvidas que elas me oferecem.
Seus textos críticos trazem um tom bastante pessoal. As pessoas costumam dizer que, hoje, no Brasil, não se faz mais crítica literária, mas sim resenha. Nesse tipo de comentário fica explícito o tom pejorativo. Os textos sobre literatura nos jornais de 30 ou 20 anos atrás eram melhores do que os de hoje?
Respondo com uma frase que é o lema do Salgueiro, a escola de samba do Rio: nem melhor, nem pior, apenas diferente. Cada tempo produz seus estilos, suas estratégias, suas obsessões. Não gosto muito de comparar as coisas, prefiro apreciar suas singularidades. E essa é minha posição quando escrevo sobre literatura. Sobre literatura? Sempre que escrevo sobre literatura, como já disse, escrevo um pouco, também, e mesmo que não queira isso, sobre mim. Um escritor não se separa de seus textos. O mais “científico” dos textos guarda, sempre, uma visada, vestígios, um estilo pessoal. No Seminário Internacional de Crítica Literária, do Itau Cultural, realizado este mês [dezembro de 2011] em São Paulo, afirmei que a crítica literária é, ela também, um gênero de ficção. Afirmei e reafirmo — apesar do incômodo que minha declaração provocou entre alguns professores presentes. Há muito de invenção na crítica. Há muito de pessoal. Existem escolhas, descartes, repulsas, paixões, obsessões — tudo isso entra em cena na mais “fria” das críticas. Você pode não ver diretamente, na primeira olhada, mas essas coisas estão lá, e são decisivas. O próprio Eu, não devemos esquecer disso, é uma forma de ficção! Quando digo que sou isso e sou aquilo, mas não sou tal ou qual coisa, estou “inventando” meu próprio retrato, estou falando de minhas ilusões, falando da imagem parcial (e interior) que tenho de mim. Portanto: estou trabalhando com ficção também.
Nos anos 1990, você foi editor do Ideias, o caderno de livros do Jornal do Brasil que deixou saudade em muitos leitores. Por que acha que o suplemente foi tão marcante? E hoje, com a crise dos meios impressos, acha que existem ou podem existir experiências interessantes?
A marca do Ideias era não ter uma posição, mas abrigar posições. Partíamos, sempre, de uma perspectiva pluralista. Cada vez me interesso menos por publicações culturais que têm uma posição fixa, dogmática, parcial em relação ao mundo, e o observam sempre da mesma perspectiva. Acredito, ao contrário, que o jornalismo é diferença, é pluralidade, é choque de opiniões (todas igualmente legítimas) e foi assim que editei tanto o Ideias/Livros como o Ideias/Ensaios. Neste, eu convidava pensadores da igreja católica para debater com intelectuais da extrema esquerda, com anarquistas, com niilistas. Ambos tinham o mesmo espaço, a mesma dignidade, mereciam o mesmo respeito do caderno. Creio que esse foi o ponto forte do Ideias: uma aposta na diferença, na pluralidade, no diálogo. E uma forte luta contra o dogma, o monólogo e as ideias prontas. Imprensa é diálogo, é lugar de encontro, lugar de diferenças, e não de uma fortaleza em que um grupo se fecha em torno de uma única ideia.
A Cosac Naify acaba de lançar a primeira edição de Guerra e Paz, do escritor Leon Tolstói, com tradução direto do russo. O livro tem mais de duas mil páginas. Quem é o leitor desse tipo de livro hoje, uma época marcada pela fragmentação, onde as pessoas parecem não ter tempo para nada?
Concordo que não são muitos os leitores que, hoje, têm forças, tempo, interesse intelectual, disponibilidade para enfrentar livros como Guerra e Paz, Dom Quixote ou a Divina Comédia. Ou, exemplo talvez extremo, Em busca do tempo perdido, o sete tomos de Proust. Livros imensos, que exigem muito tempo e concentração, que exigem, de fato, uma grande paixão pela leitura. Vivemos em tempos fragmentados, em que se valoriza a rapidez, a superficialidade, a objetividade, o pragmatismo (a tal relação custo-benefício). Para que “serve” ler Guerra e Paz — um leitor contemporâneo pode se perguntar. Talvez seja melhor assistir a um filme inspirado no livro, ou mesmo ler uma versão em quadrinhos, ou um resumo na internet... Eis um perigoso engano! Acredito imensamente na potência da literatura no século em que vivemos. Num momento em que tudo nos leva para fora, e para a rapidez, e para as imagens e gráficos, tudo se torna veloz e superficial, a literatura se torna um reduto preciso de introspecção, de silêncio, de diálogo interior, de lentidão. São coisas que se tornam cada vez mais raras e, por isso mesmo, mais preciosas. Basta ler Guerra e paz e o leitor entenderá isso.
O poeta espanhol Juan Ramon Jimenez disse certa vez que a literatura é a arte de uma “imensa minoria”. É uma missão bastante difícil fazer com que um ato tão transformador, mas bastante pessoal, se torne um sentimento coletivo?
Essas coisas não se planejam, nem se controlam. A não ser que pensemos nos fabricantes de best-sellers... Veja o caso de Clarice Lispector, que hoje — 35 anos depois de sua morte — vive um verdadeiro “boom”. Por que se lê cada vez mais Clarice? Não porque ela tenha seguido fórmulas eficazes, ou planejado um “estilo popular”, sido uma escritora “que sabia o que fazia”. Ao contrário! Clarice escrevia em plena cegueira e falava diretamente ao coração de seus leitores. Sua ficção é absolutamente “íntima”: ela dialoga todo tempo com o leitor. Não para lhe dar lições de vida, ou para transmitir ensinamentos, mas para dividir com eles as perguntas, intermináveis perguntas, que tanto a atormentavam. Clarice é uma escritora “verdadeira”, não porque diga A Verdade (com maiúsculas), mas porque escreveu para dizer, de forma direta e até escandalosa, a sua verdade singular. O leitor não é bobo: ele sabe, perfeitamente, quando um escritor está fazendo gênero, copiando os clássicos, ou dando lição de moral. O leitor, o bom leitor, é aquele que faz uma conexão íntima com o livro. A crítica canadense Claire Varin fala na “leitura telepática”. Afirma que só através dela é possível ler uma escritora como Clarice. O que é a “leitura telepática”? É aquela em que o leitor, em vez de se identificar com personagens, ou de ler “para aprender”, etc., consegue se colocar no lugar do escritor. Como diz Claire: quando consegue isso, o leitor, de certo modo, é, ele também, “autor” do livro que lê. E isso é verdade sempre: um livro é sempre um livro diferente na mente de cada leitor. É na mente do leitor singular, de cada leitor diferente, que um livro existe.
Você ministra cursos de jornalismo cultural há algum tempo. Qual a sua percepção dos estudantes de jornalismo hoje? Em geral, são pessoas com boa formação, preparadas para escrever sobre cultura?
Infelizmente, não. Claro, temos sempre as exceções. Mas a impressão que tenho é a de que a universidade não está conseguindo dar conta do preparo das novas gerações de jornalismo. Talvez por dogmatismo, por apego a um estilo de ensino burocrático, por distanciamento excessivo da realidade, não sei dizer. Mas o fato é que isso está acontecendo. E o problema não está nos estudantes. No laboratório de jornalismo cultural que ministro no projeto “Rumos Jornalismo Cultural”, do Itau Cultural, por exemplo — projeto que farei, em 2012, pela terceira vez —, os estudantes chegam cheios de vontade de aprender, cheios de coragem para se lançar na experiência direta do real. Sim, o jornalismo, mesmo o cultural, exige coragem. Exige disposição para se defrontar com o desconhecido e o estranho, para fazer perguntas que não têm respostas, para enfrentar personagens enigmáticos e situações desestabilizadoras. Sinto uma grande força nos estudantes. Mas é bom deixar claro: não sou um inimigo da universidade! Ao contrário: sempre digo que, em 500 anos de história, a instituição mais importante criada no Brasil é a Universidade de São Paulo. Agora, é preciso ter a coragem de encarar os fatos: as faculdades de jornalismo não estão conseguindo preparar os jornalistas. Os bons jornalistas que temos, e são muitos, se formam sozinhos, por si mesmos, na prática diária das redações, na mais absoluta solidão. É preocupante, muito preocupante, e as faculdades de jornalismo deviam ter a coragem de ser questionar, de se interrogar a respeito de seu papel social, de se transformar.
Depois de Ribamar, virão novos romances? Tem algo engatilhado?
Sim, há quase dez anos rascunho em cadernos um terceiro romance. Ele tem o título provisório de Ninguém. Mas os romances não surgem quando queremos. Eu comecei a rascunhá-lo antes do Ribamar e, no entanto, o Ribamar se impôs e me veio primeiro. Não mandamos na escrita de ficção. Creio que na escrita em geral. Gosto muito da célebre frase de Clarice Lispector, que sempre repito: “Não sou eu que escrevo, são meus livros que me escrevem”. Vejo os escritores como “cavalos” em que as ficções se incorporam. É preciso estar atento, é preciso saber ouvir, saber o momento em que uma ficção pede para nascer. São experiências muito íntimas, e um tanto inexplicáveis. No entanto, nada têm de sobrenaturais, são absolutamente humanas. Não, não acredito em Musas, nem em Espíritos, ou em Anjos... Tudo isso vem de nós mesmos. E por isso escrever ficção é tão difícil, e por isso também é uma espécie fascinante de aventura. A ficção não é um ofício — como a carpintaria — mas uma experiência. Não é algo que você possa fazer “distanciadamente”. A literatura é uma travessia, que você, ou faz de corpo inteiro, ou não faz.
Luiz Rebinski Junior
No começo dos anos 1990, o carioca José Castello, depois de uma carreira bem-sucedida no jornalismo impresso, resolveu que se dedicaria à sua grande paixão: a literatura. A decisão logo se confirmaria acertada, quando em 1994, o escritor ganhou o prêmio Jabuti por sua biografia de Vinícius de Moraes, O poeta da paixão. “O prêmio para meu primeiro livro foi uma espécie de sinal, um aviso de que eu não devia recuar, devia prosseguir no caminho da literatura”, diz Castello. Em 2011, outro Jabuti volta às mãos do escritor, dessa vez para reafirmar a crença de Castello em sua carreira como romancista.
O prêmio por Ribamar (2010), um romance que trata da relação de Castello com seu pai, também serviu para que o escritor encontrasse sua “voz literária”, como costuma dizer. Ao fundir diversos gêneros literários — da crônica à crítica literária — em um livro de ficção, o escritor encontrou a trilha pela qual deverá seguir no futuro. “Gosto muito de trabalhar nas fronteiras, de escrever à beira do abismo.” Tal “estilo” de narrar, no entanto, vem sendo burilado há décadas. Castello já vinha experimentando essa fusão de gêneros em livros de viés crítico, como A literatura na poltrona (2007) e, principalmente, Inventário das sombras (1999), livro que se equilibra entre o perfil e a crítica literária.
Radicado desde 1994 em Curitiba, José Castello já trabalhou nos principais meios de comunicação do país. Além de sua coluna semanal no caderno Prosa & Verso, do jornal O Globo, é colaborador de diversos meios de comunicação, como o jornal Valor Econômico e a revista Bravo!. Na entrevista que segue, Castello fala de jornalismo, leitura e crítica literária. Também revela que terá um 2012 agitado, com diversos projetos: um ensaio sobre o nascimento de escritores, a sair pela Companhia das Letras; uma série de “retratos” de escritores que fará para o jornal Valor Econômico; e seu terceiro romance, que tem como nome provisório Ninguém.
Castello, no começou dos anos 1990 você ganhou um prêmio Jabuti por O poeta da paixão, a biografia de Vinícius de Moraes (1993). Quase vinte anos depois, você recebe o prêmio por Ribamar, um livro de ficção e bastante pessoal. O Jabuti por Ribamar, um romance, tem mais importância pessoal e profissional para você?
Os dois prêmios são igualmente importantes. O Jabuti para O poeta da paixão foi um prêmio para meu primeiro livro. Uma espécie de sinal, um aviso de que eu não devia recuar, devia prosseguir no caminho da literatura. Um prêmio que me deu muita força, que quebrou minha insegurança de iniciante — apesar de eu já ter, naquele momento, 40 anos. O Jabuti para Ribamar, aos 60 anos de idade, tem um significado parecido: dez anos depois de lançar Fantasma, meu primeiro romance — um livro que, eu penso, não foi muito bem compreendido, talvez nem por mim —, este prêmio pelo meu segundo romance me diz que, sim, o caminho é esse, devo seguir em frente na via da ficção. E vou seguir, não há mais volta.
Você tem dito que está, cada vez mais, interessado na fusão de gêneros literários que marca a construção de Ribamar, onde você mistura memórias, ensaio e até crítica literária em um texto de ficção. Acha que com Ribamar você encontrou definitivamente sua voz?
Creio que sim, que encontrei, com uma clareza que desconhecia, o que desejo fazer. Gosto muito de trabalhar nas fronteiras, de escrever à beira do abismo. Os gêneros literários dogmáticos, com suas regras, suas proibições, seus modelos, me incomodam e desagradam. Creio que tiveram sua importância, mas hoje eles engessam os escritores. Tiveram seu sentido até o século XIX, mas o século XX os exterminou. No século XXI, temos que procurar outros caminhos. Escrever, mais do que nunca, se torna uma invenção. A cada livro, o escritor precisa reinventar a literatura. Agora é assim, e isso é muito bom para a literatura, porque lhe dá energia, a empurra para frente, lhe dá vida.
Fantasma, seu primeiro romance, apesar de trazer a marca indelével de seu texto, é bastante diferente de Ribamar no que refere à forma. Qual a diferença do romancista de Fantasma para o de Ribamar?
Como já disse, acredito que, a cada novo livro, o escritor deve se reinventar. O José que escreveu Fantasma não é o mesmo José que escreveu Ribamar. Então, como seria possível conservar a mesma ideia de ficção? A ficção, para mim, se torna cada vez mais ampla. Penso, mesmo, que ela é uma espécie de cola do mundo — é ela que nos mantém vivos e inteiros. É ela que preenche nossos buracos, nossos vazios, nossa ignorância e fraquezas. É ela que dá sentido a nossas vidas. E não falo só da ficção praticada nos romances, ou nos contos. Creio que toda a realidade está impregnada de ficção. Que nossa vida cotidiana é, em grande parte, ficção. Inventamos projetos, princípios, ideais, laços afetivos, maneiras de ser, estilos, tudo isso para viver. Viver não é fácil. Mas, sem a ficção, se torna impossível.
Inventário das sombras e A literatura na poltrona são dois livros bastante queridos pelos leitores. Em ambos, você mistura jornalismo com critica literária, ensaio e crônica. Você pretende voltar a esse tipo de texto em livro? Aliás, sente falta de entrevistar escritores, como fazia quando era repórter?
Sim, no momento estou trabalhando em um ensaio sobre o nascimento dos escritores, já contratado pela Companhia das Letras. Não é um ensaio clássico: escrevo-o na primeira pessoa, ele me traz muitas lembranças pessoais, é, digamos, um ensaio muito íntimo. Embora trate da literatura — mais especificamente, de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, o primeiro romance que li na vida, aos 11 anos de idade, e parta dele para pensar como nasce um escritor. Você vê: a base do ensaio já é uma experiência pessoal. De novo, repetindo o que fiz em Ribamar, pratico uma “escrita íntima” — mas que resulta em um livro completamente diferente. É isso, aliás, o que faço em minhas colunas no Prosa & Verso, de O Globo — que costumam chamar de crítica literária. Não sei se faço crítica literária. Atravesso um livro como um aventureiro que atravessa um deserto. No meio do caminho, o cara esbarra em um tesouro — não “O” tesouro, com maiúscula, mas seu tesouro pessoal, aquele que estava ali para que ele (e mais ninguém) o encontrasse. Então o que escrevo? Escrevo o relato dessa travessia, dessa aventura e desse encontro. É o que faço em minha coluna e é o que chamam de crítica literária. Se é mesmo crítica literária, é muito diferente da praticada nas universidades, e também na imprensa. Mas é a que sei fazer, é a que gosto de fazer. Quanto às entrevistas com os escritores, devo retomá-las a partir de fevereiro para o suplemento EU&, do jornal Valor Econômico, de que sou colaborador. Escreverei não bem entrevistas, mas retratos. Não tanto retratos clássicos, que pretendem esgotar a figura do entrevistado, mas instantâneos — retrato de um escritor no presente. É esse o título que sugeri, aliás, para a série: “Instantâneos”.
Na crítica literária, ou resenha, o objetivo é sempre falar de um livro ou escritor, nunca sobre si mesmo. Mas não acha que esse tipo de texto pode revelar mais sobre o resenhista do que sobre o resenhado? Acha que o leitor procura, também, essa revelação nesse tipo de texto?
É claro que a crítica sempre revela muito a respeito de seu autor. Não penso só em dados biográficos, em eventos de vida pessoal, mas em maneiras de observar o mundo, em um estilo pessoal, que revela — desnuda — suas escolhas. Se o crítico opta por uma linha teórica, e não outra, eis aí, desde já, uma escolha, eis aí, desde já, algo em que ele fala de si. A maneira de escrever, as ficções e poemas que escolhe para estudar, as referências teóricas, tudo isso acaba desnudando um crítico — ainda que ele se julgue protegido (como a maioria se julga) pela armadura acadêmica. Quando leio Kafka e escrevo sobre Kafka, estou escrevendo não tanto sobre Kafka, mas sobre a minha maneira de ler Kafka, de observá-lo, de interpretá-lo, sobre o modo como suas ficções batem em mim, me abalam, me perturbam, sobre as perguntas e dúvidas que elas me oferecem.
Seus textos críticos trazem um tom bastante pessoal. As pessoas costumam dizer que, hoje, no Brasil, não se faz mais crítica literária, mas sim resenha. Nesse tipo de comentário fica explícito o tom pejorativo. Os textos sobre literatura nos jornais de 30 ou 20 anos atrás eram melhores do que os de hoje?
Respondo com uma frase que é o lema do Salgueiro, a escola de samba do Rio: nem melhor, nem pior, apenas diferente. Cada tempo produz seus estilos, suas estratégias, suas obsessões. Não gosto muito de comparar as coisas, prefiro apreciar suas singularidades. E essa é minha posição quando escrevo sobre literatura. Sobre literatura? Sempre que escrevo sobre literatura, como já disse, escrevo um pouco, também, e mesmo que não queira isso, sobre mim. Um escritor não se separa de seus textos. O mais “científico” dos textos guarda, sempre, uma visada, vestígios, um estilo pessoal. No Seminário Internacional de Crítica Literária, do Itau Cultural, realizado este mês [dezembro de 2011] em São Paulo, afirmei que a crítica literária é, ela também, um gênero de ficção. Afirmei e reafirmo — apesar do incômodo que minha declaração provocou entre alguns professores presentes. Há muito de invenção na crítica. Há muito de pessoal. Existem escolhas, descartes, repulsas, paixões, obsessões — tudo isso entra em cena na mais “fria” das críticas. Você pode não ver diretamente, na primeira olhada, mas essas coisas estão lá, e são decisivas. O próprio Eu, não devemos esquecer disso, é uma forma de ficção! Quando digo que sou isso e sou aquilo, mas não sou tal ou qual coisa, estou “inventando” meu próprio retrato, estou falando de minhas ilusões, falando da imagem parcial (e interior) que tenho de mim. Portanto: estou trabalhando com ficção também.
Nos anos 1990, você foi editor do Ideias, o caderno de livros do Jornal do Brasil que deixou saudade em muitos leitores. Por que acha que o suplemente foi tão marcante? E hoje, com a crise dos meios impressos, acha que existem ou podem existir experiências interessantes?
A marca do Ideias era não ter uma posição, mas abrigar posições. Partíamos, sempre, de uma perspectiva pluralista. Cada vez me interesso menos por publicações culturais que têm uma posição fixa, dogmática, parcial em relação ao mundo, e o observam sempre da mesma perspectiva. Acredito, ao contrário, que o jornalismo é diferença, é pluralidade, é choque de opiniões (todas igualmente legítimas) e foi assim que editei tanto o Ideias/Livros como o Ideias/Ensaios. Neste, eu convidava pensadores da igreja católica para debater com intelectuais da extrema esquerda, com anarquistas, com niilistas. Ambos tinham o mesmo espaço, a mesma dignidade, mereciam o mesmo respeito do caderno. Creio que esse foi o ponto forte do Ideias: uma aposta na diferença, na pluralidade, no diálogo. E uma forte luta contra o dogma, o monólogo e as ideias prontas. Imprensa é diálogo, é lugar de encontro, lugar de diferenças, e não de uma fortaleza em que um grupo se fecha em torno de uma única ideia.
A Cosac Naify acaba de lançar a primeira edição de Guerra e Paz, do escritor Leon Tolstói, com tradução direto do russo. O livro tem mais de duas mil páginas. Quem é o leitor desse tipo de livro hoje, uma época marcada pela fragmentação, onde as pessoas parecem não ter tempo para nada?
Concordo que não são muitos os leitores que, hoje, têm forças, tempo, interesse intelectual, disponibilidade para enfrentar livros como Guerra e Paz, Dom Quixote ou a Divina Comédia. Ou, exemplo talvez extremo, Em busca do tempo perdido, o sete tomos de Proust. Livros imensos, que exigem muito tempo e concentração, que exigem, de fato, uma grande paixão pela leitura. Vivemos em tempos fragmentados, em que se valoriza a rapidez, a superficialidade, a objetividade, o pragmatismo (a tal relação custo-benefício). Para que “serve” ler Guerra e Paz — um leitor contemporâneo pode se perguntar. Talvez seja melhor assistir a um filme inspirado no livro, ou mesmo ler uma versão em quadrinhos, ou um resumo na internet... Eis um perigoso engano! Acredito imensamente na potência da literatura no século em que vivemos. Num momento em que tudo nos leva para fora, e para a rapidez, e para as imagens e gráficos, tudo se torna veloz e superficial, a literatura se torna um reduto preciso de introspecção, de silêncio, de diálogo interior, de lentidão. São coisas que se tornam cada vez mais raras e, por isso mesmo, mais preciosas. Basta ler Guerra e paz e o leitor entenderá isso.
O poeta espanhol Juan Ramon Jimenez disse certa vez que a literatura é a arte de uma “imensa minoria”. É uma missão bastante difícil fazer com que um ato tão transformador, mas bastante pessoal, se torne um sentimento coletivo?
Essas coisas não se planejam, nem se controlam. A não ser que pensemos nos fabricantes de best-sellers... Veja o caso de Clarice Lispector, que hoje — 35 anos depois de sua morte — vive um verdadeiro “boom”. Por que se lê cada vez mais Clarice? Não porque ela tenha seguido fórmulas eficazes, ou planejado um “estilo popular”, sido uma escritora “que sabia o que fazia”. Ao contrário! Clarice escrevia em plena cegueira e falava diretamente ao coração de seus leitores. Sua ficção é absolutamente “íntima”: ela dialoga todo tempo com o leitor. Não para lhe dar lições de vida, ou para transmitir ensinamentos, mas para dividir com eles as perguntas, intermináveis perguntas, que tanto a atormentavam. Clarice é uma escritora “verdadeira”, não porque diga A Verdade (com maiúsculas), mas porque escreveu para dizer, de forma direta e até escandalosa, a sua verdade singular. O leitor não é bobo: ele sabe, perfeitamente, quando um escritor está fazendo gênero, copiando os clássicos, ou dando lição de moral. O leitor, o bom leitor, é aquele que faz uma conexão íntima com o livro. A crítica canadense Claire Varin fala na “leitura telepática”. Afirma que só através dela é possível ler uma escritora como Clarice. O que é a “leitura telepática”? É aquela em que o leitor, em vez de se identificar com personagens, ou de ler “para aprender”, etc., consegue se colocar no lugar do escritor. Como diz Claire: quando consegue isso, o leitor, de certo modo, é, ele também, “autor” do livro que lê. E isso é verdade sempre: um livro é sempre um livro diferente na mente de cada leitor. É na mente do leitor singular, de cada leitor diferente, que um livro existe.
Você ministra cursos de jornalismo cultural há algum tempo. Qual a sua percepção dos estudantes de jornalismo hoje? Em geral, são pessoas com boa formação, preparadas para escrever sobre cultura?
Infelizmente, não. Claro, temos sempre as exceções. Mas a impressão que tenho é a de que a universidade não está conseguindo dar conta do preparo das novas gerações de jornalismo. Talvez por dogmatismo, por apego a um estilo de ensino burocrático, por distanciamento excessivo da realidade, não sei dizer. Mas o fato é que isso está acontecendo. E o problema não está nos estudantes. No laboratório de jornalismo cultural que ministro no projeto “Rumos Jornalismo Cultural”, do Itau Cultural, por exemplo — projeto que farei, em 2012, pela terceira vez —, os estudantes chegam cheios de vontade de aprender, cheios de coragem para se lançar na experiência direta do real. Sim, o jornalismo, mesmo o cultural, exige coragem. Exige disposição para se defrontar com o desconhecido e o estranho, para fazer perguntas que não têm respostas, para enfrentar personagens enigmáticos e situações desestabilizadoras. Sinto uma grande força nos estudantes. Mas é bom deixar claro: não sou um inimigo da universidade! Ao contrário: sempre digo que, em 500 anos de história, a instituição mais importante criada no Brasil é a Universidade de São Paulo. Agora, é preciso ter a coragem de encarar os fatos: as faculdades de jornalismo não estão conseguindo preparar os jornalistas. Os bons jornalistas que temos, e são muitos, se formam sozinhos, por si mesmos, na prática diária das redações, na mais absoluta solidão. É preocupante, muito preocupante, e as faculdades de jornalismo deviam ter a coragem de ser questionar, de se interrogar a respeito de seu papel social, de se transformar.
Depois de Ribamar, virão novos romances? Tem algo engatilhado?
Sim, há quase dez anos rascunho em cadernos um terceiro romance. Ele tem o título provisório de Ninguém. Mas os romances não surgem quando queremos. Eu comecei a rascunhá-lo antes do Ribamar e, no entanto, o Ribamar se impôs e me veio primeiro. Não mandamos na escrita de ficção. Creio que na escrita em geral. Gosto muito da célebre frase de Clarice Lispector, que sempre repito: “Não sou eu que escrevo, são meus livros que me escrevem”. Vejo os escritores como “cavalos” em que as ficções se incorporam. É preciso estar atento, é preciso saber ouvir, saber o momento em que uma ficção pede para nascer. São experiências muito íntimas, e um tanto inexplicáveis. No entanto, nada têm de sobrenaturais, são absolutamente humanas. Não, não acredito em Musas, nem em Espíritos, ou em Anjos... Tudo isso vem de nós mesmos. E por isso escrever ficção é tão difícil, e por isso também é uma espécie fascinante de aventura. A ficção não é um ofício — como a carpintaria — mas uma experiência. Não é algo que você possa fazer “distanciadamente”. A literatura é uma travessia, que você, ou faz de corpo inteiro, ou não faz.