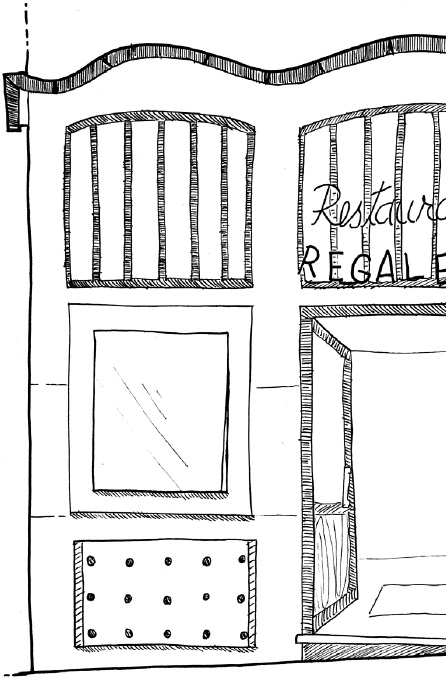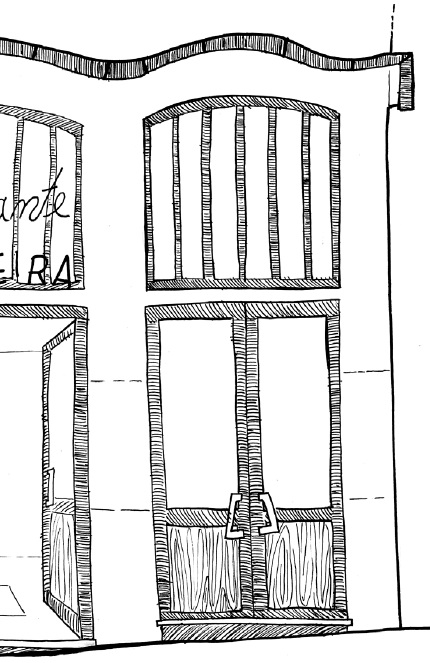Conto | Antônio Torres
O PORTO BEBIDO E REVIVIDO
Ilustrações: Bianca Franco
Esta história começa na “Regaleira”, na rua Bonjardim, numa noite de verão do ano de 1965. Personagens à mesa: o Sr. Coelho, um homem elegante, empertigado, calvo e poderoso; um irmão dele — talvez se chamasse José —, de aparência modesta, como se a sua falta de capricho na maneira de vestir-se fosse uma estratégia, para não ofuscar o brilho do outro, notoriamente mais importante e vaidoso; os demais, num grupo de seis pessoas, eram da mesma família, moças e rapazes que pareciam só ter olhos e ouvidos para o digníssimo cavalheiro que, naturalmente, iria pagar a conta.
Havia, porém, um corpo estranho nesse quadro familiar: um brasileiro de 24 anos, recém-chegado de São Paulo, para trabalhar como redator de uma agência de publicidade em Lisboa, chamada Belarte, uma empresa que, como o seu dono, tinha a sua origem no Porto, onde mantinha a sua sede ou casamatriz. O Sr. Coelho — eis o homem —, achou que era pelo Porto mesmo que o brasileiro faria o seu batismo de fogo. Os dois, o patrão e o empregado, chegaram por via aérea, no final de uma bela tarde de domingo. Quando o avião começou a descer, o Sr. Coelho fez o brasileiro olhar pela janela, dizendo-lhe: “O senhor está a chegar a uma cidade de heróis.” Ao dizer isso, esboçou um sorriso, não apenas satisfeito por haver produzido uma frase de impacto (não fora ele o dono de uma agência de publicidade), mas por estar prestes a pôr os pés no chão onde havia nascido. Em seguida, tirou do bolso um espelhinho e um pente. Mirou-se no espelho, que segurava com a mão esquerda e, com a direita, ajeitou cuidadosamente os cabelos que ainda lhe restavam, nas laterais da cabeça. Voltou a sorrir. O brasileiro achou que era bom trabalhar para um homem feliz, que, com toda a certeza, devia se considerar um herói, por ser um filho do Porto. Só não entendia porque esse homem tão feliz o chamava de “senhor”. Que infelicidade! No Brasil, isto era uma consideração para com os mais velhos ou uma formalidade para com os superiores hierárquicos. Lá não era costume chamar-se um jovem de “senhor”. Tratando-o assim, o Sr. Coelho fazia-o sentir-se um ancião, aos 24 anos.
Em terra, uma caravana os aguardava. O irmão do Sr. Coelho parecia indócil, ao perguntar, várias vezes, pelo brazuca, que se sentiu uma ave exótica ao ser chamado desta maneira. Mas logo percebeu o tom afetuoso do tratamento. Foi recebido com efusivos votos de boas- vindas. Nada mal, para começar.
Do aeroporto seguiram todospara o Grande Hotel do Império, na Praça da Batalha. O Sr. Coelho e o seu redator importado de São Paulo subiram aos seus quartos, que ficavam lado a lado, lá deixaram as suas malas e voltaram imediatamente ao saguão, para juntarem-se novamente à comitiva e seguirem com ela até à “Regaleira”, onde o brasileiro seria batizado com vinho verde na sua opípara primeira noite no Porto.
A mesa regalava-se a cada garrafa comandada pelo Sr. Coelho. “Embriagai- vos! De vinho, de poesia ou de virtudes!”, pensava o brasileiro, já um leitor de Charles Baudelaire. Mas o irnão do Sr. Coelho tinha pensamentos mais prosaicos. Queria saber se era verdade que os papagaios do Brasil falavam. Ao ser informado que alguns até cantavam o Hino Nacional, ele entrou em êxtase, como se acabasse de ouvir a coisa mais extraordinária que alguém já tivesse lhe contado. E, revirando os olhos, com o enlevo de uma criança, confessou o maior sonho de sua vida: “Ah, gostava muito de ter um papagaio. E dos mais faladores!”
O brasileiro, embora sensibilizado com o desejo do seu afável interlocutor, o senhor portuense que o recebera tão efusivamente, temeu pelo rumo da conversa. E não sem razão. Não demorou muito para o irmão do Sr. Coelho dar a cartada definitiva, ao perguntar se ele por acaso tinha prestígio suficiente no Brasil para mandar vir de lá um papagaio. E agora? Papagaio! (No Brasil, essa exclamação significava: Caraças!). Como sair dessa, sem deixá-lo desapontado? A situação não era das mais fáceis, até porque o homem era irmão do patrão. Naquele momento ele, o brasileiro, deu voltas à cabeça. Finalmente entendia a razão da ansiedade daquele que tanto havia perguntado, no aeroporto, se o brazuca viera, e de todos os salamaleques da recepção. mTudo por um papagaio!
— Temos problemas em relação a isso — disse o brasileiro.
— A fiscalização da Sociedade Protetora dos Animais é muito rigorosa com a saída de aves e pássaros do Brasil. Há uma lei que proibe isto.
Ufa! Foi duro dar essa resposta àquele que tanto sonhava ter um papagaio.
O homem murchou. E emudeceu, num deplorável estado de desilusão. Não seria de estranhar se, mais tarde, na calada da noite, ele viesse a dizer para o irmão que a vinda do brasileiro não tinha valido a pena. Uma providencial voz feminina quebrou o silêncio, que já se tornava tenebroso:
— Tem piada! Ele é brasileiro mas não se parece com os outros.
— Como assim?
— Ele não tem os cabelos encaracolados como os outros.
O estranhamento tinha a sua razão de ser. De brasileiros ela só conhecia os jogadores que atuavam no Futebol Clube do Porto, a cada temporada, pelo visto todos negros. Ele aproveitou a oportunidade para esclarecer que seu país era multifacetado, multiracial, multicultural, multitudo. O Sr. Coelho, que o ouvia com atenção e interesse, de repente se deu conta de que algo errado acontecera à mesa: o brasileiro havia deixado muita comida em seu prato. Num tom de voz exasperado, perguntou:
— Por que o senhor come tão pouco? É para não perder a elegância?
O brasileiro assustou-se com a pergunta, para a qual não tinha uma resposta convincente. Distraira se com a conversa, com o vinho, com o brande depois do café... sabia lá por quê! Ou, vai ver, a “Regaleira” o deixara com saudades de um bar paulistano chamado “Baiúca”, onde, àquelas horas, o Zimbo Trio podia estar tocando: “Esta noite / quando eu vi Nanã / vi a minha deusa / ao luar...” E onde, no fim da madrugada, o último pianista tocaria “Round about midnight”, a música dos músicos,a trilha sonora das noites das cidades grandes, São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York, Paris. Qual seria a música do Porto?, ele se perguntava, enquanto a voz do Sr. Coelho interferia em seus pensamentos, superpondo-se aos sons transatlânticos que vinham em camadas, na sua memória auditiva — o piano, a bateria, o contrabaixo, Tom Jobim e Baden Powell, o sax de John Coltrane, o trompete de Miles Davis.
— Imagine se coméssemos tão pouco como o senhor! Compoderíamos ter dado um Dom Afonso Henriques, aquele que, com uma única mão, sustentava uma espada de oitenta quilos?! — disse-lhe o Sr. Coelho, visivelmente contrariado.
Todos riram às bandeiras despregadas, como se o patrão tivesse contado uma anedota impagável. E quem é doido de não rir de anedota contada por um patrão? O brasileiro também riu. Aquela história de Dom Afonso sustentar uma espada de 80 quilos, com uma única mão, tinha piada, sim senhor. Não disse, mas pensou: “Caro Sr. Coelho: vim aqui para escrever os seus anúncios. E não para levantar espadas”.
E assim terminou a primeira noite dos meus I5 dias no Porto, daquela vez. Houve outras. A penúltima durou 1 ano e 6 meses. E cá estou novamente.
2.
28 de Janeiro de 2000.
O brasileiro voltou e já está à porta da “Regaleira”, depois de um bordejo de reconhecimento da cidade, capitaneado pelo professor Arnaldo Saraiva, que o levou primeiramente a revê-la de cima, para a reconstituição de sua memória visual, como num feixe de imagens do tempo a ser reconquistado. Tudo como dantes: há 35 anos também não faltou quem o levasse a contemplá- la das alturas, no outro lado do rio. É vendo-a de cima que se percebe que esta cidade foi uma fortaleza que não facilitava a entrada dos seus invasores d’antanho. Percebe-se mais: que o seu casario, tão esplendidamente fotogênico, sobe a encosta na mais perfeita harmonia, como se cada casa tivesse sido montada por um artesão, que depois a encaixou à mão, tomando todo o cuidado para não destoar dos demais, que por sua vez haviam-se desempenhado com o mesmo critério e rigor. É de cima que se vê melhor o quanto o rio é baixo: suas águas ficam muito aquém das ribanceiras. Foi lá de cima, de um deslumbrante posto de observação, que, por um breve momento, tentei rever a mim mesmo, ou, pelo menos, um pedaço da minha juventude, quando perambulava no sobe- e-desce do lado histórico da cidade, que tanto fez parte da história de um pedestre anônimo, sem eira nem beira, no entanto a sonhar todos os sonhos do mundo, e que a um só se resumiam: tornar- se um escritor.
E nisto o Porto não me negou fogo, nas noites e dias gelados de seus longos invernos, nas suas chuvas de granizo a chicotear-me a cara, nos seus nevoeiros a fazer-me andar às cegas, nos seus verões de São Martinho em pleno novembro, quando a cidade sombria multicoloria-se, levando todos às tascas, na mais fantástica e compreensível das comemorações, em homenagem àquele que, por um período que em geral durava três dias, governava o Porto, fazendo jus a seu epíteto de astro-rei.
Havia sol também nessa tarde de Janeiro. Um sol esmaecido a produzir um efeito especial sobre o colorido das pontes, monumentos, paredes, portas e janelas. Como as águas do rio, tudo se doura, sob a luz tênue do entardecer. Suaviza-se a cidade granítica, que um dia a mim pareceu ter gerado homens empedernidos, que, subconscientemeute, viviam a levantar espadas de 80 quilos, e com uma única mão! Ora viva: este brasileiro tem que reconhecer a sua dívida de gratidão para com esta cidade que um dia lhe pareceu de pedra até a alma, naqueles idos dos 60, nos estertores do reinado de Dom António de Oliveira Salazar, diga-se. Como no título de Alexandre O’Neill, “Feira Cabisbaixa”,os homens aqui pareciam viver encastelados num círculo de desesperança, a darem voltas em torno da sua melancolia, como em todo o país. Nestas circunstâncias, espaço e tempo, o Porto franqueou-me um laboratório para o meu processo criativo: aqui encontrei o cenário e os personagens de um romance chamado Os homens dos pés redondos. São estes personagens e este cenário o que tento reencontrar agora, ao chegar à “Regaleira”, embora já sabendo que a cidade já não é a mesma de trinta e cinco anos atrás: repaginou-se, cedendo às pressões do inescapável destino da modernização, aqui, registre-se, encontrando soluções arquitetônicas surpreendentes, ao estabelecer um visível equilíbrio entre passado e presente, tradição e modernidade. Mas vamos à “Regaleira”, que, trinta e cinco anos depois, continua no mesmo lugar. Com a sua mesma porta escura e o mesmo cartazete nela afixado: “Tripas à moda do Porto.”
Lá dentro, porém, já não parece mais a mesma. Entro e paro. O balcão, onde o ator João Guedes — que moravaem Matosinhos — e eu bebíamos cerveja acompanhada de tremoços, às vezes contando com a alegria da presença da atriz Isabel de Castro, em temporada no Teatro Experimental do Porto, bem, o balcão da “Regaleira” parece mudado. Ficou maior e pior. Há agora um certo aspecto de decadência e vulgaridade num ambiente que antigamente assemelhava- se a um santuário, de tão intimista e aconchegante. No balcão, onde o João Guedes citava de memória trechos e mais trechos do Grande sertão: veredas, o romance monumental do brasileiro João Guimarães Rosa, para os seus amigos que aqui vinham reencontrá- lo sempre, o que há agora é tão somente um solitário leitor de um jornal desportivo. É uma noite de sexta-feira e, estranhamente, só uma mesa do restaurante está ocupada, por um casal de idade avançada. Pelo visto, a “Regaleira” já conheceu noites mais felizes. Saudades do Sr. Coelho e seus familiares. Muito mais ainda do João Guedes. Tempus fugit. Como na música do pianista norte- -americano Bud Powell.
Deixo a “Regaleira” e me ponho a andar. Vou até a esquina, à procura deuma tasca chamada Maria Rita. Ali, um desenhador chamado De Jesus, sempre com uma tesoura ao bolso e dizendo que iria enfiá-la na barriga do seu chefe, no dia seguinte, e o cabo Emílio, que toda noite contava a mesma história, na qual se via como um herói, quando, ao prestar serviço militar em Macau, deu um murro num tenente que lhe roubara a namorada, e fora posto num navio de volta, para amargar 5 anos de prisão — pois estes dois memoráveis personagens do Porto já não estão entornando um copo atrás do outro, na Maria Rita, pela simples razão de que aquela tasca não existe mais. E eles? Ainda estarão vivos? E o que fizeram ou fazem de si mesmos?
Vagueio pela Bonjardim em sentido contrário. Dou de cara com o luzidio edifício de 5 andares, que era um dos pilares do dinheiro do Porto. Ostentava na fachada um logotipo formado por 3 letras: BPM. Um artifício, que transformou uma casa bancária em “Banqueiros”. Era isso o que dizia o “B” do logotipo, fazendo-se passar por “Banco.” O PM significava Pinto de Magalhães, quem não sabe? Cá estou a ver o Sr. Afonso, um homem muito simples, de origem humilde, que começou como cambista de moedas na fronteira da Espanha, ao tempo da guerra: ele está atendendo a várias chamadas telefônicas ao mesmo tempo, do Brasil, de Paris, de Nova York. Ao seu lado, de pé, o seu genro Rodrigo segura-lhe os fones, fazendo as trocas de instante a instante, para que o sogro converse um bocadinho com um, depois com outro, volte àquele cuja conversa foi interrompida e assim vai. Bom e obediente rapaz, esse seu Rodrigo. Sogro e genro já não pertencem a este nosso mundo.
O BPM também já morreu, O seu edifício ostenta agora o logotipo de outro banco.
Logo por ali, na Sá da Bandeira, 56, último andar, ficava a Pali — Publicidade Artística Ltda. Laborei lá durante um ano e meio, trazido de Lisboa por um brasileiro, que por sua vez foi importado da Mac-Cann Erickson do Riode Janeiro pelo banqueiro Afonso Pinto de Magalhães. E assim o carioca Eugênio Lyra Filho transformou um departamento de publicidade em agência, e a agência em mais uma empresa do conglomerado BPM. O bom Lyra também já se foi, lá no Rio. E onde estariam os outros camaradas desse tempo, como o belga René Coomans e o velho Mário Frazão? Foi dele que ouvi uma sábia declaração, sacramentada por um brande: “Escuta-me, rapaz. Bom não é ser pai. Bom é ser avô. O pai reprime. O avô deixa o neto fazer o que quiser”. Ele acabava de ganhar um neto. Estava em estado de graça. Impossível recordar o Frazão sem um bocado de afeto.
Ninguém mais precisa me dizer que “A Brasileira” está fechada. Meninos, eu vi. Era em torno dela que homens soturnos gravitavam, até ficarem de pés redondos. Mas o “Majestic” continua vivo e ainda aqui, com toda asua majestade, na rua de Santa Catarina, onde morei, lá mais para cima, dividindo um apartamento com o ator Luiz Alberto. Lembranças de um médico chamado Jorge Tunhas, que aqui lia um livro atrás do outro, enquanto aguardava ser chamado para a guerra. Uma noite, à véspera do embarque, tomou um pifa daqueles! Saiu urrando pelas ruas. Urros lancinantes, como uma fera ferida.O horror da guerra. O “Majestic” me recorda também uma moça que, nos fins de tarde, entre um café e outro, me ensinava inglês. No “Majestic” começo a eitura do Primeiro de Janeiro pelo expediente. Quero ver se o Manuel Dias ainda está lá e se já é o seu Diretor de Redação, Editor-Chefe, qualquer coisa assim.Importante! Lembro-me dele como um gajo esperto, rápido, criativo e... bom de copo! Se talento vale alguma coisa neste mundo, Manuel Dias já deve ser o dono do Primeiro de Janeiro. Decepção: o nome dele sequer figura no expediente. Deixo o jornal de lado. Não tem Manuel Dias? Não vai ter este leitor.
Falta-me coragem para subir a rua de Santa Catarina até o prédio onde morei. Saudades do Sr. Soares, o zelador. Ele adorava uma bagaceira, que bebia escondido da dona Angelina, nos fundos de uma pequena mercearia, no outro lado da rua. Depois da terceira dose, puxava a carteira do bolso e dela retirava um retrato de dona Angelina quando jovem: “Ela é bonita, não é?” — dizia, embevecido. Não dava para discordar dele. Mesmo entrada em anos, dona Angelina continuava uma mulher muito bonita. Todo domingo, religiosamente, ele assava um bacalhau, que cobria com imensas rodelas de cebola. E eu que não fizesse a desfeita de faltar ao seu almoço, servido sempre na sua pequena área de serviço. Jamais alguém neste mundo assou um bacalhau tão bom quanto o do Sr.Soares. Uma noite, dona Angelina me chamou à sua casa. Ele estava de cama e queria que eu fosse visitá-lo. Fui imediatamente. Sentei- me ao seu lado, perguntando se queria que chamasse um médico. Disse que não. Já estava entupido de remédios. De pé no quarto, dona Angelina reclamava: o marido não podia continuar bebendo do jeito que bebia, diariamente. Pediu- -me para lhe dar uns conselhos, enfim, que o fizesse parar de beber. Enquanto ela saía resmungando, o Sr. Soares ordenou- me que levasse a mão por debaixo da cama, depressa, antes que a sua mulher voltasse. Obedeci-lhe. E fiz a caça ao tesouro escondido. Entreguei-lhe a garrafa. Com uma sofreguidão infantil, o Sr, Soares destampou-a e sorveu um trago. Depois estalou os beiços e sorriu, contente da vida.
Ao se recuperar da doença, procurou- me para dizer que dona Angelina o havia proibido de beber. Estava muito infeliz por causa disso, numa desolação de dar dó. Dei-lhe uma cópia da chave do meu apartamento, dizendo-lhe que quando sentisse vontade de um copo, era só ir lá e procurar um garrafão que estava na cozinha. Seus olhos brilharam. Ele voltava a ser uma alma deste mundo. Eu não podia negar esse favor ao homem que fizera de tudo para impedir os moradores — todos os moradores! — de me expulsarem do prédio, por causa da música que eu ouvia e de uma festa que promovi, para as bailarinas e bailarinos da Gulbenkian, em apresentação na cidade. O Sr. Soares conseguiu impedir a minha expulsão com um argumento tirado da manga, como o jogador que puxa a última carta, ainda que seja um blefe: “O senhor doutor não conhece bem os seus inquilinos” , disse eleao proprietário do prédio, acrescentando: “Dia destes, às duas horas da manhã, uma moradora do segundo andar me acordou para fazer calar um cachorro que latia na rua. Isso é lá trabalho paraum zelador?” O Sr. Proprietário sorriu e respondeu-lle que podia ir-se, mas que recomendasse ao brasileiro para não mais fazer barulho. Estava farto de reclamações. Grande Sr. Soares. Nenhum advogado teria feito melhor. “A partir de agora, abaixe um pouco a música, senão vou ficar desmoralizado”, sentenciou o meu competentíssimo defensor.
No dia em que fui embora ele não apareceu. Dona Angelina chegou até a porta do edifício para um abraço de despedida. “E o Sr. Soares?” Ela então esclareceu que ele se recusara a se despedir de mim. Na verdade, estava de cama. Havia adoecido, ao saber que eu ia partir. Que porra. Ele doente e eu não iria estar mais ali, para caçar o tesouro debaixo da cama, o único remédio que seria capaz de curá-lo, junto com o meu afeto, quem sabe.
Recordações à mesa do Majestic, observando um cavalheiro de seus trinta e poucos anos, impecavelmente vestido, que pede café e água, depois abre o seu laptop, colocado sobre o sofá, e começa a trabalhar, como se estivesse em casa ou no seu escritório. De repente o seu celular toca. Ele leva a mão ao bolso, pega o aparelho e atende a ligação telefônica. Depois, recoloca o celular no bolso e volta à sua lida, em frente do computador. Passado algum tempo, desliga-o. Quando volto a observá- -lo, vejo que ele tem uma mão sobre o laptop e a outra está a mexer e remexer com a colherzinha no açucareiro, e a olhar fixamente para a parede de vidro na frente do café. Penso ter finalmente reencontrado um remanescente — ou herdeiro — dos homens dos pés redondos, por este olhar tão parado e penetrante, como se fosse furar a parede. Era uma cena típica da Brasileira. Mas as minhas recordações dizem menos respeito ao cidadão com todo o jeito de executivo da era yuppie, do que de amigos de um outro tempo: onde estará e o que faz hoje o publicitário Carlos Guimarães, que me deu guarida, enquanto eu procurava um lugar para morar? Foi na casa dele que eu vi, pela TV, o Brasil levar urna surra de Portugal, na Inglaterra, na Copa do Mundo de 1966, o ano do Euzébio. E o lisboeta Manuel Pena Costa, diretor da Manpower Portuguesa, ainda passa temporadas por aqui, na condução de seus negócios, e a sorver uma ginginha, depois do expediente, para espantar o frio? E a atriz Mirna Vaz, que papel andará desempenhando? A ex-Miss Objetiva de Portugal Lydia Franco terá voltado a apresentar-se aqui com o balé da Gulbenkian? Em que palco o Luiz Alberto será encontrado? E Isabel Ruth, teria voltado ao Porto, depois daquele ano em que atuou no filme Mudar de vida, de Paulo Rocha, rodado ali perto, em Furadouro-Ovar? E Paulinha Guedes, que conheci criança e se tornou uma bela atriz, alguma vez revisitou Matosinhos? O realizador de cinema José Fonseca e Costa ainda se lembrará que foi ele quem me trouxe de carro, num belo dia ensolarado, quando vim para morar, deixando-me na Brasileira, aos cuidados do Carlos Guimarães?
Essa peregrinação memorialística vai levar a uma noticia triste: amanhã o Manuel Dias nos informará, a mim e ao professor Saraiva, que o nosso grande amigo Alberto Sérgio, o bancário e jornalista esportivo, já não poderá mais, nunca mais, ser convidado para o almoço, como nos velhos tempos. Faz um ano que ele mudou-se do Porto para a cidade dos pés juntos. E assim, o meu Porto revivido não deixou também de ter uma nota de melancolia, como que saída de uma página de Scott Fitzgerald, num de seus textos mais candentes, intitulado Minha Cidade Perdida.
3.
O meu centro de gravitação no Porto era esse mesmo que é chamado de “cidade histórica.” Das sombras do BPM à rua de Santa Catarina, almoço e jantar no “Rei dos Fritos”, na Praça de São Lázaro, onde havia um reservado para a malta da Escola de Belas Artes, a do Teatro Experimental e este redactor. Ao final das refeições, uma moça chamada Izilda, filha do dono da casa, trazia as contas e um livro comprido, no qual cada um procurava o seu nome e anotava a sua despesa do dia, para pagar no fim do mês. Especialidades do “Rei dos Fritos”: tripas á moda do Porto (naturalmente) e papas de sarrabulho. Mas o cardápio era bem variado. Ali comia- -se a gosto, fartamenle, e barato. E ainda com a vantagem do “pendura”. Depois do almoço, café com brande no “Belas Artes”, na outra ponta da Praça de São Lázaro. Quando o dinheiro dava, íamos ao “Chez Lapin”, na Ribeira, agora o point da moda, da “muvuca”, com todas as incoveniências disto, não certamente para os negócios.
Fora deste polígono, fico perdido, ainda mais agora, com as mudanças que a cidade sofreu, principalmente para além do seu perímetro histórico. Talvez precisasse morar mais um ano e meio no Porto, para adaptar-me às exigências que a contemporaneidade lhe impôs, e aceitá- las sem traumas, como o fazem seus habitantes, com um indisfarçável orgulho. A questão é simples e compreensível: se revivi o seu lado antigo e pouco ou nada vivi o novo, é porque foi no Porto histórico que tive uma história. Seja como for, “Biba o Puerto, carago!!!”
Antônio Torres nasceu em 1940, em Junco (BA). Estreou na literatura em 1972, com o romance Um cão uivando para a lua. Em 1976, publicou Essa terra, seu maior sucesso, que já foi traduzido para o francês, espanhol, italiano, alemão, hebraico e holandês. Também é autor de Balada da infância perdida, Os homens de pés redondos, Meu querido canibal, entre outros livros. Em 1998, foi condecorado pelo governo francês com o Chevalier des Arts et des Lettres. O escritor é membro da Academia Brasileira de Letras (ABL) desde 2014. Torres vive em Itaipava, distrito de Petrópolis (RJ).