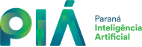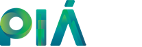SÉRIE ESPECIAL | Mulheres contra a ditadura 22/10/2024 - 17:06
"Aprender a escutar talvez seja a melhor forma de esperançar"
por Carlitos Marinho
Almira Maciel, professora e militante histórica do Movimento Negro Unificado (MNU), diz que é necessário ir à rua e escutar o que o povo tem a dizer, mesmo quando o que for escutado possa não agradar aos ouvidos. O “esperançar” de Paulo Freire ao qual Almira se refere é a esperança com criticidade, como sempre teve ao longo de seus 77 anos de vida. Crítica desde criança, já foi tachada de “mal educada” por questionar a Ditadura Militar a um advogado amigo da família.
A luta de Almira foi fundamental para as conquistas do MNU tanto no Paraná quanto no Brasil. Nos anos de 1992 e 1993, Almira participou da articulação nacional da Marcha do Tricentenário de Zumbi em Brasília, encontro marcante para a reconstrução de ideais de heróis nacionais. Também foi uma das articuladoras da Comissão de Sindicalistas contra a Discriminação Racial da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e comandou a Secretaria de Combate ao Racismo do Partido dos Trabalhadores (PT) do Paraná no final dos anos 90.
Sua militância se expandiu nacionalmente, envolvendo-se com a organização de debates sobre reparações e a denúncia de crimes de lesa humanidade na Conferência de Durban em 2001. A partir de sua relevância nacional, coordenou o Encontro de Educadores Negros e Negras do Paraná entre 2005 e 2008, um marco na luta contra o racismo no estado, que contou com a participação de figuras importantes como Vanda Machado, Helena Theodoro, Jorge Nascimento, Baba Diba e Yá Carmen Holanda.
Também realizou pesquisa acadêmica sobre as mulheres negras escravizadas em Curitiba no século XIX com o título “Você sabe fazer renda eu te alugo pra ganhar!”, orientada pelo professor Luís Geraldo Silva. A monografia desfaz a falsa ideia de que na cidade de Curitiba, não havia negros. Confira abaixo o relato e as reflexões de Almira, que de um jeito muito particular, coloca o dedo na ferida sobre o que ela bem entender.
“Minha mãe era uma pessoa... como é que eu posso dizer? Ela defendia algumas coisas, né?”
Eu nasci no litoral paranaense, em Paranaguá, porém fui embora cedo de lá, ainda bebê, quando meu pai foi transferido para São Paulo. Sou a filha mais velha de uma família de quatro irmãos do primeiro casamento do meu pai. Eu vim para Curitiba quando já tinha oito anos de idade.
Tive um contexto familiar que favorecia o debate político. Pelo menos o interesse. Amigos dos meus pais que iam lá em casa, que tinham outras ideias. Enfim, a gente convivia com essa realidade. Minha mãe era uma pessoa... como é que eu posso dizer? Ela defendia algumas coisas, né? Defendia a greve e era professora. Cresci um pouco nesse ambiente. Ainda criança, mas já observava.
“O diretor mudou algumas coisas no uniforme e a disciplina se tornou extremamente rígida”
Mas só fui me inteirar do processo político e do que significava tudo isso mais tarde. Estava concluindo o ginásio quando a ditadura estava se instaurando. Porque no ginásio, ainda com 13 anos, só percebi a mudança quando trocaram a direção, quando esse regime já estava querendo se instaurar. Hoje eu faço essa relação.
O diretor mudou algumas coisas no uniforme e a disciplina se tornou extremamente rígida. Horrível. Horrível, horrível. E isso foi em 1962, quando houve uma reforma na educação. Ele inclusive mudou os nossos sapatos. Era obrigatório usar um sapato que era mandado fabricar. Era um sapato horrível. Hoje eu chamo aquilo de coturno. Ele não era alto como um coturno, era baixinho, tipo sapato masculino, como a gente chamava na época. Era muito duro, machucava o pé e era amarrado. Então virou uma coisa muito, muito intensa. Eu não gostava daquilo, reclamava, enfim.
Minha e eu dizíamos que era como se fosse um quartel. A gente já questionava isso. Então a disciplina, que sempre foi rígida no Instituto, ficou ainda mais intensa nesse período.
“Lá se reuniam alguns estudantes universitários, e eles tinham uma conversa interessante”
Mas só mais tarde eu fui fazer as associações. No magistério, promoviam jogos universitários e a gente ia, nos sábados à tarde, para algum clube ou para alguma escola. Eu nunca fui afeita a participar desses jogos, mas comecei a perceber que lá se reuniam alguns estudantes universitários, e que eles tinham uma conversa interessante. Comecei a prestar atenção nas conversas deles. Já era a União Nacional dos Estudantes (UNE) e a União Paranaense dos Estudantes Secundaristas (UPES).
Adolescência, hoje em dia, é uma coisa que parece naturalizada, mas no meu tempo não se falava muito nessa questão. Eu era mais uma jovem estudante, e logo seria adulta. Então, aos meus 14, 15, 16 anos, os trotes que os universitários faziam para os calouros eram bem comuns. Eles faziam muitas críticas ao Brasil. Críticas políticas, uma série de coisas e isso me chamava muito a atenção. Eu gostava de ver aquilo, porque a gente começava a ter outro olhar a respeito da realidade do país.
“Me lembro do meu irmão chegar em casa e contar que alguns amigos haviam desaparecido”
Em 1968, dois anos depois do falecimento da minha mãe em 1966, o meu pai casou-se novamente e fomos morar no centro, na Galeria Andrade, perto do Correio, ali onde hoje é a Estação Central. Ali os trotes começaram a ser reprimidos em 1968. Então veio o AI-5. Com o novo Ato Institucional, a polícia começou a bater nos estudantes. A violência era terrível.
Eu me lembro de ter feito um comentário em casa, vendo aquilo de longe, aquele absurdo, aquela barbaridade. Porque aí eu já não me aproximava tanto dos trotes. A gente tinha um pouco de medo, é claro. Meu pai começou a nos alertar: "Cuidado com o que vocês estão dizendo, cuidado com o que vocês estão fazendo." Me lembro do meu irmão, que fazia cursinho para a universidade, chegar em casa e contar que alguns amigos haviam desaparecido depois de panfletarem no final da aula. Nunca mais se soube deles. Não sei se a família soube, tudo isso aconteceu em pleno 68.
“Eu fiquei muito mal vista pela família da minha madrasta, principalmente, porque questionei um advogado”
Lembro que fiz uma crítica dentro de casa contra aquela violência. Um amigo da irmã da minha madrasta estava lá. Ele era advogado, e eu, sem saber, fiz a crítica em alto e bom tom. Ele disse: "Não, veja bem, eles estão dizendo coisas que não deveriam dizer." Enfim, defendeu a agressão aos estudantes. Eu falei: "Escute o que você está dizendo. Está falando que é certo agredir quem está mostrando para a população o que está acontecendo?"
Eu tinha noção do golpe naquela época, claro. Era 68, ou 69, e o golpe tinha acontecido em 64. Eram quatro anos de violência explícita. E ele me chamou a atenção. Era mais velho. E quem era eu? Uma jovem de 18 anos que "não sabia nada da vida", segundo ele. Mas eu questionei! Fui para o debate. Com pouca argumentação, mas fui.
Depois me chamaram a atenção de que aquilo não era jeito de responder o "doutor". Ele era doutor no quê? Doutor é quem defende uma tese, tem ela aprovada. Fiquei muito mal vista pela família da minha madrasta, principalmente, porque questionei um advogado. Enfim, comecei a me perceber como alguém meio "ríspida", até meio mal-educada, porque questionei esse advogado que defendia a agressão aos estudantes.
“Nós tínhamos reuniões mensais e semanais na Igreja de Xaxim”
Depois eu fiquei noiva e casei em 1969. Me distanciei um pouco dessas coisas. Olhava de longe. Não entrei para a militância nesse momento. As contradições da vida, né? Eu e meu esposo éramos oposição. Eu a ele e ele a mim. Como eu já era professora, acabei indo trabalhar. Minha filha nasceu em 1970. Então, me dediquei a cuidar dela e vivi aquele momento mais difícil.
Em 1973 eu vou morar num conjunto habitacional da Cohab, na Avenida Brasília. Naquele momento, surgem as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) e os padres vêm para conversar com a gente, eram da Teologia da Libertação. Num instante, eu estou envolvida. Nós tínhamos reuniões mensais e semanais na Igreja de Xaxim, ouvindo o Padre Miguel e aprendendo o que era aquela ditadura. As CEBs faziam formação política. Todo esse momento faz uma transformação na minha vida.
Um tempo depois eu começo a fazer algumas relações. A minha família é miscigenada. Tanto materna quanto paterna. No conjunto onde eu morava, comecei a perceber a presença de pessoas de origem não branca, certo? Aquilo me chama muita atenção. Eu tenho formação cristã pela família da minha mãe, mas a minha avó paterna era da umbanda.
“‘Por que você não está aqui com a gente para discutir a questão racial?’. Opa, tô indo. Já fui.”
Gostava muito de ir para a casa da minha avó. Ela colocava discos de pontos de umbanda na vitrola. Tento compreender “o que é isso?”, porque a formação nas CEBs não dava conta de explicar e eu percebo as diferenças na forma em que as pessoas se referiam a elas mesmas.
Então, em 1980, quando o Partido dos Trabalhadores (PT) nasceu, eu já tinha entendido o que era discriminação racial. Um companheiro chegou para mim e disse: "Mas você está fazendo o quê discutindo nesse grupo aí? Por que você não está aqui com a gente para discutir a questão racial?”. Opa, tô indo. Já fui.
Vou para o Movimento Negro. Participo num primeiro momento da Associação Cultural de Negritude e Ação Popular (ACNAP), em Curitiba. Eles eram agentes de pastoral, hoje são uma associação cultural. E dentro do PT, começamos a fazer esse debate, buscando conhecimento, aprofundando algumas questões, etc. Surge a possibilidade de ir para encontros nacionais. Aí eu conheço o Movimento Negro Unificado (MNU).
“Era um tempo que os skinheads¹ atacavam diretamente, enquanto andávamos pela rua”
A gente começa a articular e a ser articulado pelas lideranças. Eu me aproximei muito de Milton Barbosa, o Miltão. O MNU de Curitiba tem a mesma origem do MNU de São Paulo e do Rio de Janeiro: a luta contra a violência e o assassinato de trabalhadores negros. Em Curitiba, temos o Núcleo Carlos Adilson de Siqueira. Um trabalhador foi assassinado no Largo da Ordem quando estava desmontando o equipamento dele para ir para casa. Foi assassinado com um tiro à traição.
Nós fizemos um grande movimento. Exigimos justiça. Fomos às autoridades e até hoje está esquecido, nunca foi solucionado. Era um tempo em que os skinheads atacavam diretamente enquanto andávamos pela rua. Não que não façam mais isso, mas naquele momento foi extremamente violento e intenso esse processo.
A partir do MNU de Curitiba, começamos a organizar cursos de formação política. A Secretaria de Combate ao Racismo do PT do Paraná só surgiu em 1999. E foi uma articulação forte, com muita resistência. Mesmo entre nós, de origem negra, africana, há resistências. O processo de colonização fez isso conosco, não só em Curitiba, não só no Brasil. Então, em 1999, fui a primeira secretária de combate ao racismo do PT do Paraná.
“Em Curitiba a resistência era maior. Inclusive com a argumentação de que no Paraná não tinha negros”
Éramos questionados se não estávamos dividindo a luta de classes. Disseram que trabalhador é trabalhador e é explorado igual. Foi aí que buscamos na história trazer a diferença que existe entre a exploração do trabalhador, da trabalhadora, e o processo de racialização. O processo de discriminação racial imposto a nós, desde a nossa ancestralidade.
Em Curitiba a resistência era maior. Inclusive com a argumentação de que no Paraná não tinha negros. Nós fomos atrás dos dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e mostramos que o Paraná é o estado com maior percentual de negros e negras da Região Sul. Inclusive, só em 1995 que, após organizar e debater o tricentenário de Zumbi dos Palmares, nós fomos procurados pelos líderes do Quilombo do Paiol das Telhas. Dez Anos mais tarde, em 2005, foi criado o Grupo Clóvis Moura para mapear os quilombos do Paraná.
Ao trazer o debate para o presente, o momento demonstra o quanto precisamos estar articulados. É necessário articular novas formas de organização coletiva. O que nos resta frente ao genocídio? Então é um jogo de capoeira, né? Se dá um passo para frente e se dão dois para trás para se organizar e voltar.
“A criança é obrigada a cortar o cabelo. Ou então andar com ele bem amarrado”
Hoje as pessoas se apresentam com base na estética de origem afro. As pessoas fazem isso com tranquilidade. Um pouco mais de tranquilidade, quero dizer. Há algum tempo isso não ocorria. Ainda assim, vivemos momentos de extrema angústia ao sermos rejeitados pela nossa estética. Isso ocorre na escola, por exemplo, a criança é obrigada a cortar o cabelo, ou então andar com ele bem amarrado. Os praticantes das religiões de matriz africana são criticados e desrespeitados ao usarem suas indumentárias.
A Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) foi uma estratégia construída pelo movimento negro em 2003. Um passo para frente, sim, mas dois para trás. Por quê? Porque uma vez conquistada, acaba sendo alvo e passa a ser do interesse de ações que nem sempre contribuem para a luta antirracista.
Também não podemos deixar de citar a histórica conquista do movimento negro que foi a Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Neste ano, foi alterada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) que tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas brasileiras. E aí vêm os passos para trás, para implementação efetiva desta legislação, que deveria começar pelos centros de formação de educadores e professoras.
“A possibilidade, ainda que tênue, de reverter esse processo é…”
Como é que os quilombos estão ainda hoje no Brasil? Negam a sua unidade, impossibilitam o seu acesso aos bens públicos, educação, saúde, moradia e saneamento básico. Como é que os nossos centros sagrados, os nossos espaços sagrados violentados por incêndios, assassinatos das lideranças religiosas, como é que eles ainda resistiriam se não fosse a nossa força? E a nossa busca por reorganizar e construir uma outra história? Não é? Então, os avanços que existem acerca das questões raciais têm sido pensados, estruturados, elaborados e divulgados por esforço do movimento negro.
O mito da democracia racial foi uma luta nossa. Porque a democracia racial nunca existiu. A libertação da escravatura que reverencia ainda hoje, infelizmente, uma redentora, é uma farsa. Fomos nós que denunciamos. Nós que dissemos que o 13 de Maio é só um momento de denúncia, porque a nossa data com significado libertário e emancipatório é 20 de novembro, a data do assassinato de Zumbi dos Palmares, um dos líderes dessa luta. Ainda temos muito para fazer. Por isso eu falo. O futuro vem aí. As juventudes vem aí.
Contudo, a possibilidade, ainda que tênue, de reverter esse processo, é acreditar na importância do coletivo e observar como o imaginário popular foi penetrado pela ideia de que sofrer é bom. Porque o nosso mundo não é esse. No imaginário da população se concretizou o que hoje nós vemos nas manifestações religiosas. Como é que isso chegou ao ponto de intervir na política? Vemos o negacionismo dominando as inteligências negando a ciência, a vacina e a vida. Como as pessoas absorvem isso e ao mesmo tempo se sentem iluminadas pelo poder divino?
“Vamos esperançar, como disse o Paulo Freire”
Esse mundo binário transformou as pessoas nisto: ou isso ou aquilo. Ou é ou não é. Ou quer ou não quer. Eu acho que a única forma, talvez, é fortalecer a ideia e a importância da construção solidária e coletiva. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos começar a acreditar nela. Vamos começar a retomar a importância do estudo, da pesquisa, do conhecimento e esperançar, como disse o Paulo Freire. Esperançar é saber que é possível, sim, que nós estamos sendo alvo de depósito de mentiras, e nós aceitamos e acreditamos.
É preciso acreditar e ir às ruas para ouvir o que o povo tem a dizer. Não é porque fiz uma reunião ali que acabou o fascismo, o racismo, o machismo e a LGBTfobia. A primeira coisa que devemos fazer é descobrir o Brasil. Como é que nós vamos descobrir o Brasil? Quem descobriu o Brasil? Vamos começar a ouvir as pessoas e seus questionamentos e o que elas podem nos trazer. Quais são os questionamentos que nós temos para nós mesmos? Quais são os questionamentos que os grupos nos quais nós circulamos podem nos trazer? A partir das perguntas, que reflexões podem ser apontadas? Que estratégias podemos desenvolver e com que táticas podemos resistir?
Nós temos que ouvir as pessoas. Elas vão dizer tudo. Como é que nós vamos transformar esse tudo num projeto de sociedade? Aprender a escutar talvez seja a melhor forma de esperançar. Esperançar ouvindo. E na rua, o que é que esse povo está dizendo para a gente? Ouvir é uma das alternativas.
Carlitos Marinho (1997) nasceu em Mariluz, no Paraná. É jornalista na Secretaria de Estado da Cultura do Paraná e pesquisa Gestão Cultural no Programa de Pós-Graduação da Unespar.