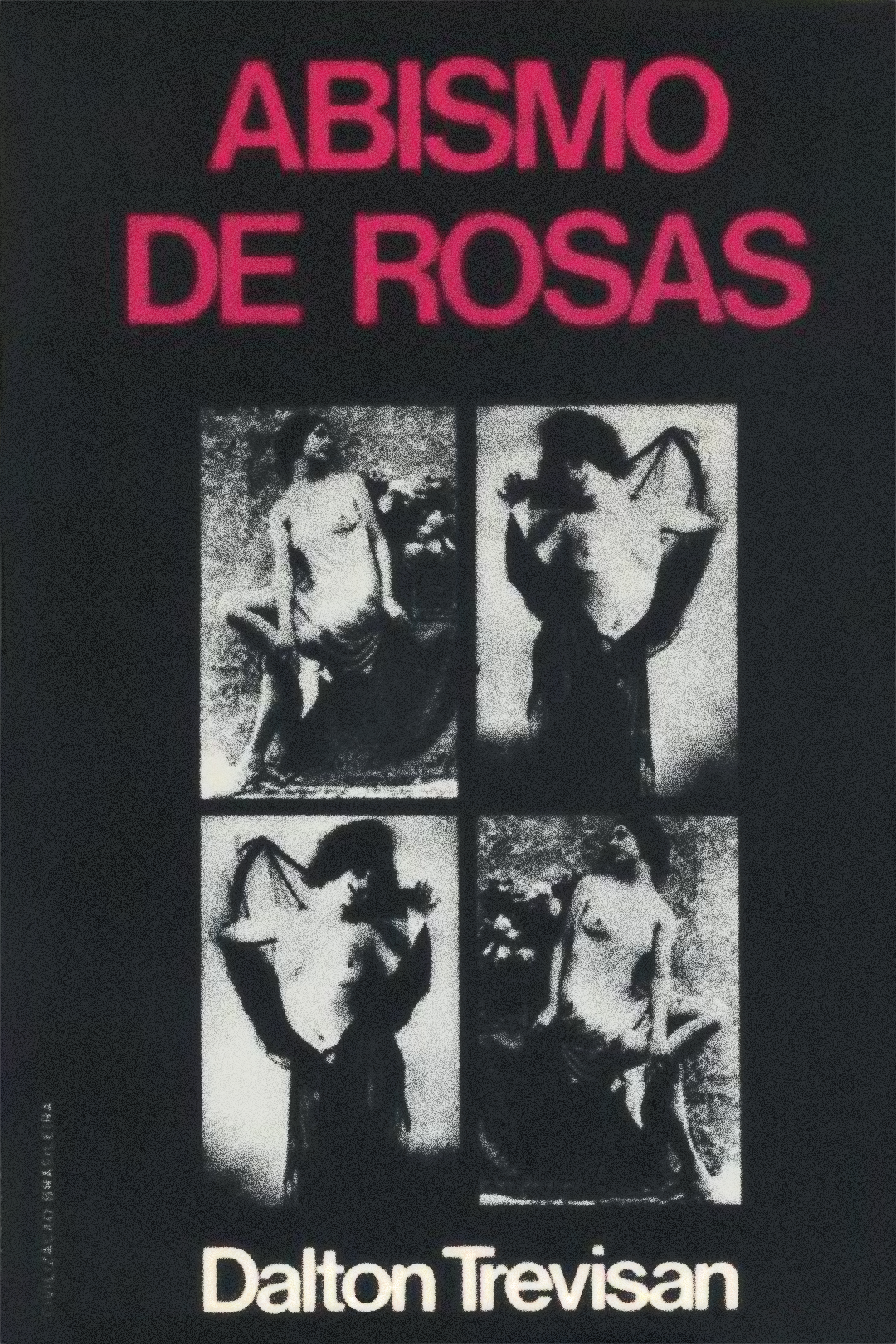PENSATA | Dalton partiu e o espetáculo é a sua obra 18/12/2024 - 16:28
por Luiz Felipe Leprevost
Naquela noite, diluviava em Curitiba. Os grupos de WhatsApp dos quais faço parte se puseram atormentados com a informação extraoficial de que ele tinha morrido. Algumas horas mais tarde, a confirmação se dava por meio de um print do Serviço Funerário da Prefeitura, anunciando o falecimento, listando seus dados — nome, idade, filiação, profissão — e divulgando onde ocorreria a cremação. Porém, mesmo em transição desse lado para o outro, ele ainda conseguiu fazer uma das suas e, poucos minutos depois, o documento oficial sumiu do site. Aventou-se, portanto, que fosse fake a notícia. Antes houvesse sido, todos preferíamos mil vezes que vivesse. Acontece que naquela noite, com todo o mistério que cercou sua partida, Dalton Trevisan escrevia seu último e mais engenhoso conto.
Houve quem tenha se incomodado com a vontade final do autor de não deixar que sua morte fosse transformada em espetáculo, possivelmente tendo proibido qualquer manifestação que fugisse ao controle do que determinara. Mas a verdade é que cada um morre como consegue. E mesmo
Dalton Trevisan que, sem dúvida, foi coerente consigo mesmo até o fim, acabaria deixando por aqui a “tsunâmica” repercussão no meio literário que sua morte provocou.
Minha personalidade é basicamente oposta a de Dalton, sou o excesso de calor humano, quase todo para fora. Daí que é claro que eu teria achado deveras lindo se a cidade pudesse ter-lhe prestado grande homenagem velando seu corpo no hall da Biblioteca Pública, lugar que tanto frequentou. Uma multidão de admiradores, leitores e fãs viria se despedir e diria: “ah você nem era tão assustador assim, Vampiro”. Mas não seria o Dalton que tão bem conhecemos mesmo sem o termos conhecido.
Idoso, precisando dos cuidados naturais que a idade exigia, somando-se a uma série de assaltos à sua casa na esquina das Ubaldino do Amaral com a Amintas de Barros, no Alto da Glória, em seus últimos anos o escritor passou a residir então no centro. O edifício São Bernardo, que fica praticamente ao lado da Biblioteca Pública, foi morada também para os escritores Helena Kolody, Alice Ruiz e Paulo Leminski (o que dá uma história interessante).
Sabemos que Dalton esteve lúcido até o fim. Trabalhou até os noventa e nove. Preparava as comemorações de seus cem anos que, de todo modo, acontecerá em profusão em 2025. Chegavam notícias de que estava feliz com a movimentação e atenção que sua obra voltara a suscitar, o que desmente um pouco a anedota replicada nas redes sociais de que Dalton, avesso a homenagens, morreu por se recusar que Curitiba e o Brasil viessem a celebrar seu centenário, frustrando a todos nós. Sempre respeitei, mas nunca comprei exatamente essa história de que Dalton era inacessível, acho apenas que ele era acessível com quem desejava ser e ponto. A lista das pessoas que mantiveram diálogo com ele por anos não é tão pequena assim. E ele tinha bons amigos.
O primeiro livro do Dalton que li foi Abismo de Rosas. Nunca mais parei. Desde o começo sabia que sua obra faria bem de perto acompanhamento especial em minha vida, fosse pelo exemplo máximo do gênio artístico, pela devoção ao trabalho constante, pela exigência estética e estilística, pela coragem para ser único e radical em sua escolha. Tantos anos depois, não lembro detalhes do Abismo de Rosas, mas sim de seu espírito maior, já que os contos do Dalton, vistos ao longo das décadas, são para mim um verdadeiro poema contínuo, um pulsante painel humano.
Quando olho, entre os tantos e inesgotáveis Daltons, saltam-me um pouco mais nítidos três deles, que são, obviamente, facetas de um mesmo e estão ligados estritamente à minha experiência.
O primeiro. Minha avó materna era amiga da esposa do Dalton. Elas se frequentavam. Dalton nunca ia. Meu avô julgava antipática a postura antissocial. Era, até certo ponto, transgressor se pensamos numa determinada Curitiba burguesa, classe-média de cinquenta, sessenta anos atrás, demasiado conservadora, em que (escândalo!) uma senhora cumpria certa agenda sem o esposo. Um modelo, um padrão, dentro da comunidade, era colocado em xeque. E é coerente com a vida íntima do Dalton da qual até hoje tivemos notícias. Pergunto quantos ali daquela roda liam sua literatura, compreendiam que sua postura também tinha a ver com a construção de uma obra artística exigente (exigente para ele antes de mais nada), quem compreendia que muitos de seus contos, justamente, saíam de poções que incluíam até mesmo os afetos que aqueles julgamentos todos provocavam?
O segundo. Penso na Curitiba pré Jaime Lerner. Eu era pequeno quando as transformações urbanas operadas por ele começaram. Minha memória conhece mais e melhor uma cidade, digamos, já mexida pelo Lerner. Mas algo da anterior se mantém em algum lugar do meu DNA. O segundo livro do Dalton que li foi a antologia (hoje um clássico) Em Busca de Curitiba Perdida. Ali há a dura acusação de Dalton sobre algo que forjasse uma cidade a partir de outra subterrânea, uma cidade, como ele escreveu, “merdosa”, “para inglês ver”. Há, portanto, em seu trabalho o cruzamento temporal de algumas Curitibas — a dos colonos com suas galinhas nos quintais e seus vinhos de garrafão, a classe média conservadora e por vezes perversa sendo engolidos pela urbe moderna dos políticos, arquitetos e publicitários. A obra trevisaniana está no vórtice e no vértice dessa pororoca temporal, inserida no ponto nevrálgico dessa interseção entre o antigo, o moderno e contemporâneo. Ele encara e vive as transformações, não há outra escolha para um artista de sua estatura. A cidade crescida, inevitavelmente, agora incorpora outras múltiplas e polimorfas modalidades de violência e (por que não?) de beleza.
O terceiro. O poeta do crack. Trágico e trash. O crime ao alcance de qualquer pessoa, do cidadão comum e inocente (será?) ou do mentecapto fora-da-lei. É na rua que Dalton encontra as vozes de seus bandidinhos viciados, de suas decadentes prostitutas de guetos. Até onde lembro, foi ele o primeiro escritor da cidade a enfiar em sua literatura de modo explícito e sintomático o exacerbado consumo de drogas dos nossos dias, seja pelos miseráveis, seja pelos homens de família. E as consequências físicas, psíquicas e, num âmbito mais amplo, sociais, que seguem disso. Primeiro o cidadão deixa de ser cidadão, depois o corpo deixa de responder ao mundo como corpo e é só um pobre-diabo a mais sobre o planeta do sem-sentido. O tráfico também não perdoa a dívida de ninguém. Nem o delegado corrupto perdoará. Foi Dalton quem primeiro nos disse: olhem para isso.
Se é que Dalton era mesmo um vampiro, talvez como um morcego ele tivesse olhos pequenos com visão muito sensível, o que o ajudava a enxergar o osso da vida, em condições totalmente escuras. Dalton parece que não tinha a visão nítida e colorida que os humanos têm, mas não precisava disso, via antes e mais fundo que todos os outros.
Luiz Felipe Leprevost é escritor e diretor da Biblioteca Pública do Paraná.