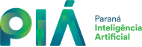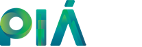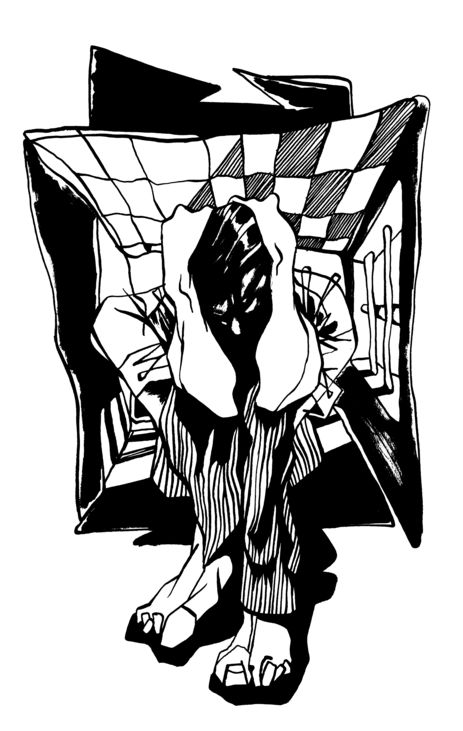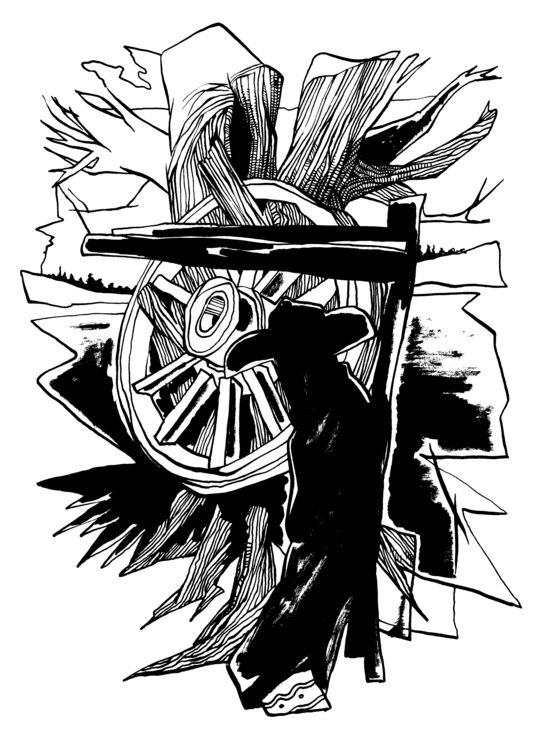Fora da cidade e do campo 04/08/2014 - 15:10
Na literatura, o regionalismo é um termo que divide opiniões dos estudiosos, seja porque, em alguns casos, reduz a dimensão da obra ou também pelo fato de que um livro ambientado em uma região não urbana pode ser universal
Marcio Renato dos Santos
Durante a década de 1980, Paulo Seben planejava escrever um romance, que teria o título Canto do lobo mudo da Auxiliadora. O lobo, do título, era uma alusão direta ao próprio autor, mais especificamente, a um alter ego dele. Auxiliadora é o nome do bairro onde ele morava em Porto Alegre. “Eu tinha o hábito de escrever poemas e de caminhar pelas ruas do bairro, e de toda a cidade, sozinho, de madrugada. É claro que eu falava disso”, conta Seben.
Um dia, ele perguntou a um professor do curso de Letras sobre a viabilidade da narrativa e a resposta não foi a mais animadora: “O professor disse que o livro não tinha interesse algum porque em Londres ou Paris ninguém tinha a menor ideia de que existia um bairro chamado Auxiliadora.” Seben reagiu: “Mas e Penny Lane, que é uma ruazinha que ninguém sabe onde fica?” — em referência a uma rua de Liverpool que empresta o nome a uma canção dos Beatles.
O episódio envolvendo Seben, atualmente professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), pode ser um ponto de partida para pensar o regionalismo literário. Há quem afirme que, literariamente, a discussão é pauta superada. Mas existem outras visões — leia a entrevista com João Claudio Arendt na página 30.
O professor de Literatura Brasileira da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) Marcus Soares explica que regionalismo pode ser entendido como um conceito relacionado a um tipo de literatura voltado à sedimentação e difusão das mais variadas representações e práticas culturais de determinada região, cujo limite geográfico é aceito por certa comunidade identificada com esses valores.
Para tornar a teorização mais compreensível, Soares cita como exemplo a obra de Simões Lopes Neto (1865-1916). “Ele sempre assumiu a tarefa de divulgar a cultura do Rio Grande do Sul. Bastaria lembrar o subtítulo dos Contos gauchescos (1912) que aparece na 1ª edição: ‘folclore regional’. Simões Lopes Neto recolheu cancioneiros e recontou lendas típicas, com uma linguagem bastante peculiar e, literariamente, bem construída, assegurando, assim, a circunscrição regional de sua obra”, afirma o professor da UERJ.
O uso da expressão regionalismo, de fato, provoca discussões. A coordenadora da pós-graduação em Letras da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-Minas), Marcia Marques de Morais, não gosta do termo. “Um bom texto literário não se fixa em uma determinada região. Ao contrário. O bom autor transcende uma região, ele constrói, elaborando conscientemente, um sabor regional”, diz Marcia, citando Guimarães Rosa como um autor que recriou um universo interiorano e, na análise dela e de outros professores, não pode ser classificado como escritor regionalista.
Alguns estudiosos têm urticária quando a expressão regionalismo literário é utilizada com a finalidade de diminuir uma obra. “É preciso ressaltar que, ao se falar em regionalismo, não se está, aqui, contrapondo de forma simplista o que, por ser regional, seria limitado e menor, enquanto o que seria universal, seria mais amplo”, observa a professora de Literatura Brasileira no Curso de Letras da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) Rita Felix Fortes. Ela chama a atenção para o legado dos autores brasileiros que produziram romance na década de 1930: “O romance de 30 [leia mais no texto de Luís Bueno na página 20] tem um forte traço regionalista, desde que este não seja entendido como simplista e redutor, mas que tem em diferentes regiões brasileiras seus mais relevantes e ora trágicos, ora encantadores aspectos.”
Há uma tendência, talvez até uma “norma”, comenta o professor da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) Paulo Bungart Neto, de se considerar regionalistas apenas elementos rurais, sertanejos e interioranos da produção literária brasileira. “Poderíamos dizer que um hipotético poeta paulistano, escrevendo sobre temas universais, como amor, ciúme e guerra, em um apartamento no centro de São Paulo, dificilmente poderia ser considerado regionalista, embora seja possível associar, por exemplo, sua obra ao ritmo e ao dia-a-dia da cidade, o que também não faria dele um escritor regionalista”, pondera Bungart Neto.
“Não se imagina como cenário para a ficção de Machado de Assis outra cidade que não seja o Rio de Janeiro ou para a obra de Dalton Trevisan uma metrópole que não seja Curitiba, mas não se convenciona atribuir a esses autores a função de ‘cronistas’ de sua região”, completa o professor da UFGD, questionando essa “quase verdade” que, de acordo com o senso comum, define como regionais obras ambientadas no sertão e, em tese, sugere que textos urbanos são universais.
O professor de Literatura Comparada da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) Paulo Nolasco acredita que o fato de uns poucos autores, em geral
moradores de grandes cidades, serem premiados e, devido a isso, empossados na “república das letras” e festejados na imprensa do Rio de Janeiro e São Paulo, acaba ofuscando vozes literárias de Estados periféricos. De acordo com Nolasco, nem sempre os autores que não fazem parte da “cartografia oficial do mapa literário brasileiro” são, necessariamente, regionais. Ele cita dois nomes do Mato Grosso do Sul que mereciam mais leitura: Hélio Serejo (1912-2007) e Hernâni Donato (1922-2012), “de notáveis representatividades, porém restritamente conhecidos e divulgados”.
O que, então, em hipótese nenhuma, é regionalismo? “Uma narrativa que se passa em Nova York”, diz, em tom de brincadeira, o professor de literatura Marcelo Frizon. No entendimento de Paulo Seben, da UFRGS, o que não é regional — de jeito nenhum — é a literatura. “Literatura regionalista é, no Brasil, tudo aquilo que não fala dos países estrangeiros ou do mundo urbano das cidades-pólo da economia e da política brasileira, ou seja, Rio de Janeiro e São Paulo, com uma concessão para o interior dos estados por elas capitaneados e para a origem de boa parte dos autores da literatura modernista, isto é, ‘carioco-paulista’. E regionalismo na literatura é isso com autoria de paulistas, cariocas e mineiros”, ironiza Seben.