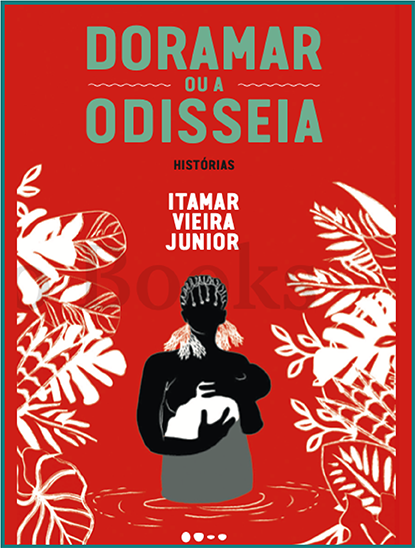Entrevista | Itamar Vieira Junior 28/06/2021 - 13:41
“Escrever é como subir no palco”
Luiz Felipe Cunha
Em 2020, o baiano Itamar Vieira Junior surpreendeu a comunidade literária com o sucesso de Torto Arado — romance de inspiração regionalista que pouco dialoga com a temática urbana marcante na produção contemporânea brasileira. Além de vencer prêmios importantes como Oceanos, Leya e Jabuti, a obra também foi um hit nas livrarias, com mais de 160 mil exemplares vendidos.
Mas o autor parece não ter sentido o peso das expectativas e acaba de lançar o aguardado segundo livro: Doramar ou a Odisseia, coleção com 12 contos que expandem o universo apresentado na obra anterior. Em entrevista concedida por telefone ao Cândido, Vieira Junior examina os motivos do êxito de Torto Arado, comenta o novo trabalho e reflete sobre seu processo de escrita.
Os seus dois livros recentes — Torto Arado e Doramar ou a Odisseia — foram lançados durante a pandemia. Ou seja: você ficou impedido de participar presencialmente de eventos literários, entrevistas, lançamentos, etc. Como é fazer sucesso em tempos de isolamento social?
A pandemia em si é uma grande calamidade que para mim afeta tudo. Sem contar que para nós, brasileiros, a doença veio com uma enorme crise política. Mas assim como em todas as emergências que a humanidade já passou ao longo da História, acho que houve um ganho, que foi a velocidade com que a ciência encontrou soluções para suprir essa calamidade, assim como a fabricação e disponibilização de vacinas. Isso aconteceu pela primeira vez na história das pandemias. Agora, falando especificamente sobre mim, vivendo esse momento que ainda estou tentando entender… Em 2019, passei o meu tempo de férias em Portugal, fazendo o lançamento do livro (Torto Arado) e participando de festivais. No Brasil, participava de eventos presencias nos fins de semana em feiras de livros. E, no começo do ano passado, fomos surpreendidos pela pandemia. Eu tinha um monte de viagens marcadas que tiveram de ser canceladas. Mas, assim como a ciência produziu vacinas em tempo recorde, a gente teve uma adaptação no ambiente virtual muito veloz e transformadora. Lembro que quando cancelaram as viagens, pensei: “Vou me dedicar à escrita”. Mas comecei a receber vários convites para eventos, aulas e palestras virtuais. Com a minha disponibilidade, pude conversar com muitos clubes de leitura — clubes que às vezes extrapolavam as barreiras nacionais. Mas não consigo avaliar se isso foi positivo para mim e para a circulação do livro. O importante é que não parou, daí vieram os prêmios no final do ano passado e acredito que isso impulsionou ainda mais o interesse dos leitores.
Você disse em entrevistas que não conhecia bem o processo de envio de originais para editoras. Então mandou o original de Torto Arado para o prêmio da editora Leya, em Portugal, e foi contemplado. E agora já está nas livrarias novamente com Doramar ou Odisseia, publicado pela Todavia. Qual foi a diferença do processo de publicação dos dois títulos?
Já existiam dois livros de contos antes de Torto Arado. O primeiro foi publicado através de um concurso regional. O outro, chamado A Oração do Carrasco, foi publicado por um edital da Secretária de Cultura da Bahia e chegou na final do prêmio Jabuti de 2018. Mas esse livro era uma edição quase artesanal de uma pequena editora local e não teve a circulação desejada. Durante esse período, escrevi Torto Arado, mas havia um problema: moro no Nordeste, fora do eixo Rio-SP, que é onde se concentram as principais editoras do país. Sem saber o que fazer com os originais, enviei de forma protocolar para o edital do Prêmio Leya em Portugal — embora estivesse reticente por ser uma premiação estrangeira e os últimos vencedores fossem portugueses. Tempos depois, recebi a notícia do prêmio. De repente, eu estava falando com vários jornais de Portugal e participando de eventos literários. No Brasil, isso despertou o interesse da Todavia, que acabou publicando o Torto Arado. Esses acontecimentos, de fato, mudaram a minha relação com o trabalho literário; eu, como escritor, me tornei mais profissional. Então, antes mesmo das premiações do Oceanos e Jabuti, minha editora e agente já tinham o interesse em fazer uma reedição dos meus contos. Como o processo de publicação de um livro é demorado, ficamos um ano trabalhando no projeto. Dessa vez pude contar com a experiência do editor Leandro Sarmatz, e juntos fizemos leituras e ajustes dos contos. Foi um trabalho bem interessante porque houve um interesse da editora em editar e publicar, ao contrário de antes, quando eu procurava formas de publicar os meus escritos.
Por que escolheu o conto Doramar ou Odisseia para dar nome ao livro? O que ele tem que engloba toda a obra?
Conversando com o editor, ele sugeriu que o título Doramar ou a Odisseia se comunica melhor com todas as histórias presentes no livro. E eu concordei. Esse é o bom de passar pelo processo de edição com um editor experiente, porque de fato o “Odisseia” no título remete ao espírito desses contos, onde os personagens se encontram solitários em algum momento e estão tentando transpor as adversidades que surgiram em suas vidas. Fez todo sentido para mim pensar dessa forma e vi que valia a pena acolher esse novo título.
O conto “A oração do carrasco”, incluído em Doramar ou a Odisseia, surpreende pelo final inesperado. Como surgiu a ideia para o texto?
A imaginação da gente é um terreno cheio de coisas que nem sequer conhecemos. E esse é um conto um tanto alegórico. A ideia do conto surgiu quando descobri que a prática dos carrascos oficias do governo existe no mundo de hoje, está documentada e em atividade. Não pude deixar de traçar um paralelo com as forças policiais de nosso Estado — não que toda força policial represente isso para as pessoas — que, em alguns momentos, atuam como carrascos. Mas, ainda assim, imprimi uma certa humanidade naqueles personagens: eles atuam, de forma crítica às vezes, e no fundo percebem que não é aquilo que desejam. É um conto experimental também, porque ali entra um pouco da história da humanidade e eu pude estabelecer um diálogo com o texto ensaístico de alguma forma, trazendo personagens como Joana D'arc, John Lennon, Malcom X e Martin Luher King para poder falar um pouco sobre esse sentimento que cerca essa história dos carrascos.
Qual é o seu conto preferido do livro?
É sempre difícil para um autor responder essa pergunta. Não tenho um preferido, mas lembro com muito afeto do conto “Alma”, porque ele nasceu de uma história para o qual eu não tinha uma resposta. Em 2009, por conta de uma viagem, conheci a história de uma mulher que havia sido escravizada — foram os descendentes dela de não sei qual geração que me contaram. O seu nome era Maria Rodrigues. Ela deixou o seu cativeiro em Salvador e andou 400 quilômetros a pé para encontrar um lugar onde pudesse se assentar, levantar uma casa e viver. Só isso, não há mais informações, nem documentos sobre Maria. E essa história ficou na minha mente até 2015, quando escrevi. Achava aquilo tão transgressor, fantástico e ao mesmo tempo, aterrador. Daí veio a ideia de contar como teria sido a vida dessa mulher. Claro que não é a mesma história, até porque os nomes são diferentes, mas foi nisso em que o conto se baseou. Acho que a ficção cumpre muito esse papel de emular e recriar realidades. Enquanto a história nos dá o fato, a literatura nos permite adentrar nas subjetividades dos personagens.
"Acho que a ficção cumpre muito esse papel de emular e recriar realidades. Enquanto a história nos dá o fato, a literatura nos permite adentrar nas subjetividades dos personagens."
A questão da escravidão brasileira aparece em dois contos: “Alma” e “O farol das almas”. Nesses textos, os personagens vão além dos limites de suas condições para conseguir liberdade — como numa espécie de reparação histórica. A literatura pode ser esse espaço de reparação?
A literatura pode possibilitar que a gente adentre uma nova narrativa. Fico pensando, por exemplo, nas narrativas oficiais que são as versões dos vencedores. Mas quando passamos a pesquisar arquivos e ler sobre os assuntos, isso muda. Por exemplo, durante muito tempo, o senso comum era de que a escravidão foi vivida de forma passiva pelos escravizados, mas quando se analisa os arquivos públicos da Bahia e se pesquisa os documentos, nota-se que existia muita violência entres os senhores de engenho e escravizados. Ou seja, a escravidão não foi pacífica, houve muito embate e luta. Aí talvez cabe aproximar a literatura desse sentimento, que é um sentimento do nosso tempo. Não é um sentimento de revanche, é um sentimento de compreender os processos por uma ótica mais honesta, incluindo todas as versões da história.
A questão indígena parece ser importante em seu trabalho. Dois contos do livro trazem essa temática: “O espírito aboni das coisas” e “O que queima”. Além disso, você é descendente de indígenas. O que podemos aprender com os povos originários brasileiros?
Além da questão da minha descendência, sou um grande admirador do pensamento e da cosmovisão indígena. Os povos originários habitam a América há mais de 40 ou 70 mil anos. E, já naquele tempo, existiam civilizações inteiras aqui com sistemas de engenharia, entre outras muitas coisas. Falo isso pensando nos Incas e nos Maias, mas não era diferente no Brasil. O nosso país tem mais de 200 etnias indígenas, com línguas e cosmovisões próprias. Somos colonizados, claro, e prevaleceu entre nós o racionalismo ocidental europeu. Mas há muita coisa para se aprender com os povos indígenas, como, por exemplo, suas filosofias e o modo como enxergam esse mundo. Não por acaso surgiram algumas lideranças indígenas, como o Ailton Krenak, que podem nos ensinar, por exemplo, a estabelecer uma relação mais equânime com a natureza, menos predatória. Se você visitar uma terra Yanomami ou Jarawara, como aparece no conto “O espírito aboni das coisas”, vai encontrar uma forma de vida preservada que caminha para a equanimidade. Não há ninguém mais importante, as árvores e os animais são tão importantes quanto o ser humano. Ninguém vai ferir ou prender um animal sem que haja necessidade.
A presença da mulher é muito forte tanto em Torto Arado quanto em Doramar ou a Odisseia. Qual o processo de construção dessas vozes femininas?
Muitos autores homens se debruçaram sobre personagens femininas; Jorge Amado é um exemplo. Não sei dizer exatamente por que isso acontece. Fico tentando buscar as respostas para isso. Existe uma história familiar, as mulheres da minha família sempre se comportaram como essas heroínas. Sabe quando você é criança e o seu pai representa a figura do herói? Eu percebia o mesmo em relação à minha mãe, minhas tias, avós. E achava paradoxal que em um mundo tão desigual e machista elas conseguissem ocupar posições de poder, seja nas famílias ou nas comunidades. Isso aparece em Torto Arado e em alguns contos de Doramar ou a Odisseia. Também cresci em uma cidade — Salvador — machista, mas que tem uma herança africana relevante, aportaram várias etnias, como os iorubás. Entre os iorubanos, a mulher tem um papel cosmológico interessante, principalmente em relação às religiões de matriz africana. Falando do candomblé, muitos dos terreiros de Salvador são, predominantemente, comandados por mulheres. E isso não é de agora, vem de uma tradição ancestral, o poder matriarcal é estudado dentro dessas etnias. Ou seja, cresci nesse ambiente complexo: havia muito machismo, as mulheres sofriam com a violência doméstica, mas, mesmo assim, reagiam de uma forma veemente. Isso ajudou na minha forma de ver o mundo.
Na epígrafe de Torto Arado você cita uma passagem do livro Lavoura Arcaica, de Raduan Nassar. Em Doramar ou a Odisseia também é possível encontrar referências claras à obra. O que Raduan significa para você? Já se encontraram, conversaram alguma vez?
Nunca falei com o Raduan, mas tenho vontade. Já me prometeram que quando a pandemia acabar, vão promover um encontro (risos). Espero que aconteça e que não seja nenhum sacrífico para ele, que é uma pessoa reservada — e eu compreendo muito isso. A influência do Raduan para a minha literatura e para mim como leitor foi fundamental. É um dos grandes nomes da nossa literatura. Ele tem uma obra pequena, mas fundamental. Nada que escreveu é desprezível, muito pelo contrário, seus livros continuam inspirando novos autores, e comigo não foi diferente. Nas aulas de escrita criativa, geralmente, fala-se muito que não é recomendado o uso de adjetivos, entre outras coisas. A escrita do Raduan me deu a possibilidade de pensar a literatura de uma maneira mais livre, longe das amarras que são propagadas entre os críticos e estudiosos. Ele usa muitos adjetivos, mas nada está sobrando no texto. São textos muito marcantes, muito bem construídos, estilisticamente falando.
Torto Arado, que tem inspiração na literatura regionalista da geração de 30, vai na contramão dos romances contemporâneos brasileiros, geralmente urbanos. A que você atribui o sucesso do livro no cenário atual?
Essa questão já apareceu e aparece quando me reúno com editores, tanto do Brasil quanto de Portugal. Para um escritor, é sempre difícil falar sobre sua obra. Podemos falar sobre o processo de criação, mas a gente nunca sabe o que faz o livro ser tão lido. O que posso falar é o que os leitores me dizem. E, quase sempre, vejo que há, por exemplo, uma saudade do campo e do ambiente rural, se não em si, nos seus pais e avós. O Brasil se industrializou e urbanizou muito rápido e, embora eu e você tenhamos nascidos num ambiente urbano, isso é recente. Mas isso já não vale para países como Alemanha, Itália, onde o livro vai ser publicado. Então fico com a resposta da minha editora em Portugal: numa entrevista ela disse que “naquela história há sentimentos universais, como desejo de liberdade, desejo de autonomia”. Talvez seja isso, são sentimentos que permeiam a história e transcendem a realidade, alcançando leitores em muitos lugares. E, de fato, nos romances contemporâneos há muitas histórias urbanas, os autores ali estão imprimindo um testemunho do seu tempo, mas a história não pode se resumir apenas a isso. Tive o privilégio de encontrar o campo na minha vida, no meu trabalho e na minha história ancestral. Tudo isso contribuiu.
O seu livro Torto Arado apresentou as festas do Jarê e os encantados para grande parte dos leitores [Trata-se de uma comemoração religiosa em que algumas pessoas incorporam entidades espirituais]. Religião à parte, você acredita que há uma semelhança na relação entre e escritor narrador, no sentido de que o narrador pode ser uma “entidade” que assume o posto do escritor? Ou você tem total domínio sobre sua escrita e o desenvolvimento das tramas?
Essa história do total domínio para mim não é fácil. Vejo pessoas, principalmente em ambientes de escrita criativa, dizendo que o autor assume o destino de seus personagens, que ele compreende tudo. Acho que há algo intangível nesse processo de escrita, de conhecimento, desenvolvimento e aprendizagem dos personagens. Isso falando do autor aprendendo com os personagens também, porque elas passam a ser entidades autônomas em algum momento da história. Às vezes você escreve uma história pensando no começo, meio e fim, e quando escreve percebe que não era nada daquilo. Ou seja, há vida de alguma forma. Gosto de imaginar a figura do autor como um ator: em algum momento, escrever é como subir no palco e interpretar a vida dos personagens.
"Gosto de imaginar a figura do autor como um ator: em algum momento, escrever é como subir no palco e interpretar a vida dos personagens."
Outra escritora que parece ter influência sobre o seu trabalho é Clarice Lispector. Você inclusive faz uma breve referência à crônica “Mineirinho”, da autora, no seu conto que dá título ao novo livro. Em uma entrevista à TV Cultura disponível na internet, o jornalista pergunta qual o papel do escritor, e ela diz que a função do escritor é “falar o menos possível”. No entanto, seus personagens em determinados momentos parecem adquirir uma consciência social exacerbada, como se o Itamar escritor e cidadão assumisse a narrativa e falasse o máximo possível. São contextos diferentes: Clarice viveu durante a ditadura enquanto agora estamos em uma democracia. Mas, no seu entendimento, qual é o papel do escritor brasileiro hoje?
Concordo com Clarice, acho que o escritor tem de falar o mínimo possível mesmo, a gente fala pela literatura. Claro que não me posso dar ao luxo de não falar, de não receber as pessoas ou não conceder entrevistas, soaria pedante. Não combina com meu perfil. Por isso eu falo, e às vezes acho que me tornei um tagarela insuportável (risos), nem eu me aguento. Muitas vezes temos agenda, a editora tem estratégias de divulgação — isso envolve a atividade pública do autor — e se a gente topa publicar, tudo isso está incluso. A não ser quando se trata de uma Elena Ferrante, que pode se dar ao luxo de nem aparecer. O ideal seria isso. De fato, acho que o escritor não tem nada interessante a falar, ele fala por sua obra e pelos seus escritos, não precisa se explicar, já está tudo ali. Mas não é assim na prática; temos que falar. E já que temos que falar, o escritor pode se posicionar, pode falar como cidadão e refletir sobre tudo — embora não seja possível refletir sobre tudo. Tenho consciência de uma verve sociológica que aparece nos meus textos, mas sei que meus personagens não são destituídos de uma função política. Em algum momento o texto vai entregar a visão de mundo que lhe é própria. Essa é a atividade do autor mesmo: entregar um testemunho de seu tempo. Às vezes é preferível que esse testemunho trate das condições da personagem, mas é inevitável afastá-lo da política.
Você está escrevendo um novo romance. Pode adiantar algum detalhe sobre o livro?
Não costumo falar porque está em processo e muita coisa pode mudar. Mas enquanto escrevia Torto Arado, tinha consciência de que eu não esgotaria essa temática da relação do homem com a terra porque teve muita coisa que ficou de fora. E ali percebi que a história se desdobraria — não significa que será uma continuação de Torto Arado. É uma história que se passa no ambiente urbano rural e conta a vida de uma comunidade que vive em torno de um mosteiro no século XVII, em terras que pertencem à Igreja. Não posso falar mais porque vou descobrindo a história enquanto escrevo. E sou um pouco supersticioso, acho que se falar muito pode dar errado.