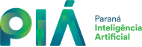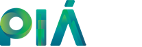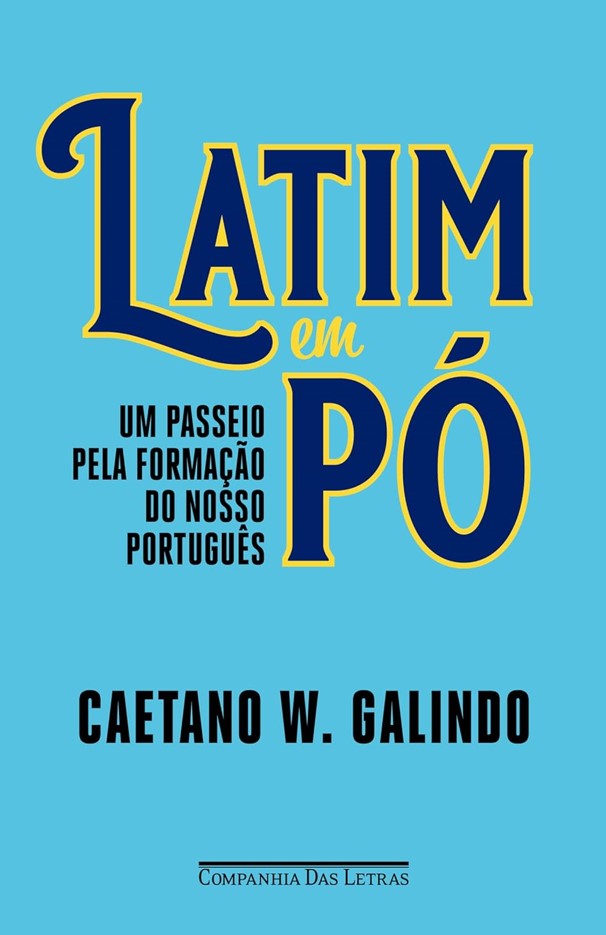ENTREVISTA | Caetano Galindo 19/12/2024 - 14:17
Língua em divergentes exatos
por Lucas de Lima
Além do Brasil, o português é língua oficial em nove países, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Macau (co-oficial junto ao mandarim) e Portugal. Ao considerar apenas isso, a língua parece, de forma social e política, unificada, sem limites culturais e de compreensão entre os falantes. Mas, com obviedade, na prática, isso não acontece. As limitações não permanecem restritas às linhas geográficas que dividem países, estados e cidades, mas “mergulham” em contextos muito mais complexos, passíveis às modificações culturais, e principalmente temporais, envoltas na materialidade das classes e na histórica dominação de povos. Quando Caetano Galindo, tradutor — com o título Ulysses, de James Joyce, em 2013, recebeu o Prêmio Jabuti — e docente do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Paraná (UFPR), escreveu Latim em Pó (2023), ele abraçou essa complexidade, tentando ir além dos tais limites da língua e, principalmente, das frequentes idealizações da língua portuguesa que tropeçam e se desmoronam em senso comum. “A língua portuguesa veio do Latim”, é uma das caixinhas em que prendemos o idioma, uma em que Galindo, não só no livro, mas em diversas entrevistas e aulas — segundo ele, Latim em pó é um apanhado das suas disciplinas — dissolve com mais profundidade. Se o português, como todas as línguas, pode frequentemente oferecer respostas, também levanta, ao mesmo tempo, muitos questionamentos. O Cândido também fez suas perguntas, respondidas por Caetano Galindo nesta edição do jornal.
Você disse, algumas vezes, que antes de sentar para escrever Latim em Pó buscou “falantes e opiniões díspares” da língua portuguesa. Temos diferentes formas de utilizar a língua na literatura, no ambiente acadêmico, no jornalismo, nas conversas pessoais com amigos ou em mensagens de WhatsApp. Foram disparidades como essas que lhe interessaram antes de iniciar a escrita?
Ao longo da vida e ao longo da carreira, sempre me interessou essa ideia de que o português brasileiro é muitos, o português paranaense é muitos e o português curitibano é muitos. E sempre me interessou buscar essa disparidade e esses choques. Tentar entender o que parece bom para um e ruim para outro, normal para alguém e absolutamente atípico para outra pessoa. Então, isso fez parte da operação toda, entre conceber e executar o livro. E também fez parte dos momentos iniciais daquele evento no Museu da Língua Portuguesa em que eu participei, que acabou virando o longa-metragem "A nossa pátria está onde somos amados" [de Felipe Hirsch, gravado em 2022]. Eu tomei contato com experiências ainda mais diferentes e isso me motivou bastante. Depois do livro escrito, houve um momento em que ele foi lido e comentado por muita gente — todas estão devidamente creditadas na seção de agradecimentos — e isso também foi muito importante para entender como esse livro seria recebido em lugares diferentes. Porque, além de tudo, além dessa questão geográfica que a gente sempre lembra, existe, como você lembrou já na pergunta, essa questão de que as situações geram usos de língua muito diferentes. No jornal, na academia, nas redes sociais, nas cartas pessoais e nos diários, em cada um desses lugares, a gente escreve um ou outro português. E eu queria muito que o livro circulasse fora de um mundo restrito, por exemplo, da universidade. Acho maravilhoso que ele esteja circulando na universidade, afinal de contas, é lá que eu vivo, mas eu queria que ele não tivesse essa limitação de gênero e de espaço, que ele fosse mais longe.
Algumas pessoas, muitas vezes, não recomendam a leitura de clássicos para iniciantes no mundo da literatura devido ao uso de palavras e construções de texto que, ao longo do tempo, foram “abandonadas” ou “substituídas”. Os clássicos, com a transformação natural da língua, podem ser prejudicados à medida que a língua se altera?
Tudo é uma questão de tempo. Se você pensar que o futuro é 2 mil anos, sim, eles devem se perder da realidade linguística dos falantes do mesmo idioma, isso se o mesmo idioma continuar existindo. Se o teu horizonte é de uma centena de anos, eles vão ficando marcados com o tempo. Uma, duas, três, quatro centenas. Eles vão ficando marcados, vão ficando antigos. Mas isso faz parte do envelhecimento da obra de arte. Exatamente como a Mona Lisa vai ficando suja e de vez em quando a gente vai lá e limpa, os clássicos literários vão envelhecendo, vão ficando marcados com as cicatrizes do tempo, e de vez em quando é feita uma nova edição, atualiza a ortografia, escreve um aparato novo, contextualiza algumas coisas, põe umas notas de rodapé e eles retornam. Não é só uma questão linguística, é uma questão literária bem ampla. Mas eu acho que a questão linguística às vezes é um pouco superestimada e um pouco fetichizada. Eu não acho, por exemplo, que seja um absurdo mexer, com consciência e elegância, num texto do século XIX, como Machado de Assis. A gente já faz isso, já troca o "dous" do Machado de Assis por "dois", já troca construções e ortografias do período dele para a nossa ortografia. A questão é saber onde parar, né? E às vezes isso é incensado pela mídia em um lado e atacado violentamente por outro. Mas a questão é muito mais complicada do que essa. Eu acho que os clássicos vão sim se afastando da realidade dos falantes de cada momento. E movimentos que permitam diminuir essa distância e permitam que as pessoas continuem acessando, são úteis para os próprios clássicos. Os autores querem ser lidos e as obras precisam ser lidas, então, eu acho que possibilitar isso não é necessariamente um problema.
Para você, os debates sobre a linguagem, que têm ganhado cada vez mais espaço, especialmente na internet, são “fascinantes”. Se sempre existiram indagações sobre o processo de transformação do português, seu fascínio se deve apenas ao fato de o tema estar sendo debatido neste século ou há algo novo nas discussões atuais que chama mais sua atenção?
Sempre me fascina. Eu sempre acho interessante observar esses processos de mudança de qualquer idioma e muito mais do meu idioma. Eu acho que hoje há coisas muito específicas, e há porque nós temos mais vozes na ágora. Tem mais gente dando opinião sobre qualquer coisa e a língua portuguesa não é uma exceção. Tem também um uso mais intenso da variedade escrita nas redes sociais. Há um espraiamento das noções de questionamento de autoridade: "Quem é que pode me dizer?", "Como eu devo fazer?", "Como eu não devo fazer?". Ao mesmo tempo em que vem a crença em autoridades autointituladas, como os influenciadores. Então, a coisa é nova. Como em todas as outras áreas, especialmente do debate público, tem muitos fatores novos em cena e a gente ainda não entendeu como todos vão funcionar. E vai levar algum tempo para entender. Mas me fascina observar, ao mesmo tempo que às vezes me frustra, me irrita e me choca ao ver o nível do debate e o fato de ter que continuar, renitentemente, desmontando mitos. Isso irrita, de vez em quando cansa, mas eu não deixo de achar fascinante esse fervilhar da discussão sobre línguas.
O livro vai e volta rompendo com ideias do senso comum, sendo a principal, e talvez a mais recorrente (às vezes apenas internalizada), a de que existe um português errado e outro correto. Essa última, em específico, é a ideia que mais te incomoda ouvir enquanto linguista?
Provavelmente é. É a pergunta e a ideia que mais irrita todo mundo na linguística. Nós somos todos fascinados pela infinita complexidade dos sistemas linguísticos, nós somos todos fascinados pelo fato de que esses sistemas são autogeridos, ou seja, é o próprio coletivo dos falantes que vai, com o passar do tempo, determinando o que se transforma em correto ou errado, em aceitável ou estigmatizado. Até que surge a escrita, até que surge a escola, até que surgem as redes sociais e, de repente, começa a ter esses “urubus” que ficam tentando forçar a língua em uma caixinha única de correção, que criam uma variedade linguística de prestígio literário e de circulação, que é necessária, que é importante e que é relevante para o funcionamento do idioma, mas que, no entanto, transformam essa manobra, que é uma manobra pragmática — os idiomas precisam dessa forma escolar para existir no meio cultural — numa manobra de base ética. E começam a dizer que todo o resto é feio, é vil e denota burrice. O erro é grotesco, muito mal intencionado, muito cruel e muito excludente. Isso é uma coisa que incomoda todos os linguistas. A gente não cansa de demonstrar o quanto a complexidade dos sistemas linguísticos é equiparável. A língua do povo ágrafo, que não sabe escrever, que transmite seu conhecimento oralmente há gerações e vive numa aldeiazinha, numa vila pequena e isolada de tudo, muitas vezes é muito mais complexa e sofisticada do que a língua do povo branco europeu "culto", que produz para a academia. Não é uma questão de melhor ou pior ou de mais complexo e menos complexo. Não tem nada a ver com isso. O que existe é que as línguas do Ocidente moderno passaram por esse processo de adaptação à escrita, que demandou a criação de uma variedade escolar literária que foi, num certo sentido, depurada a partir das variedades de uso entre as elites e que acabou ocupando um papel necessário na sociedade, mas que se transformou num carimbo de exclusão.
A pluralidade racial e étnica é uma característica da formação do Brasil, assim como do desenvolvimento do português. No entanto, o preconceito linguístico ainda é presente em diversos espaços. Por que você acha que ele persiste de forma tão arraigada? Não seria de se esperar que, em um território com tamanha diversidade, esse tipo de preconceito fosse menos recorrente?
O Brasil já foi decantado inúmeras vezes como o lugar em que a miscigenação obteve resultados positivos. E eu acho que em alguma medida, sim. Em alguns lugares, sim. No entanto, recentemente, temos voltado a investigar o quanto o racismo, a exclusão e o preconceito continuam embasando muito do que é o funcionamento político e a articulação da sociedade brasileira, nas microestruturas e nas macroestruturas. E isso não poderia ser diferente na língua. A língua é o mais ubíquo, o mais onipresente de todos os fenômenos culturais. Ela é o mais amplo, o mais penetrante, o mais profundo e o mais presente na superfície de todos os fenômenos políticos, sociais e culturais. Com isso, ela vai sempre representar um laboratório e uma arena especial para a investigação e as manifestações dessas questões. E a nossa sociedade é elitista, a nossa sociedade é preconceituosa, a nossa sociedade é excludente e essas coisas não poderiam passar ao largo da língua. Como eu digo no livro, não é à toa e não é uma grande surpresa quando a gente percebe que existe um conjunto de coisas no português brasileiro que tendem a ser tabuizadas, estigmatizadas, excluídas e marcadas como negativas, e a gente descobre que essas coisas são ligadas justamente à presença das línguas africanas ou indígenas originárias no português. Não é nenhuma surpresa perceber que a gente exclui aquilo que é não branco, não europeu e não, entre muitas aspas, da elite.
Em entrevista à Companhia das Letras, você ressaltou que a discussão sobre linguagem neutra é mais política do que científica. Na sua visão, esses dois aspectos — o político e o científico — se contrapõem ou caminham juntos na linguagem?
A ciência é uma linguagem de provas, testes, tentativas e erros. É um estabelecimento da versão mais acurada possível que explique os fatos. No horizonte, ela está preocupada com a verdade, embora ela admita que não vai chegar lá de imediato e se admita falível, renovável e passível de discussão. A política está muito longe disso. A política é o lugar onde se disputam vontades, desejos, espaços e o poder. Ela é muito mais retórica do que real, no sentido de disputar a verdade. Eu acho que são universos que frequentemente se contrapõem. A gente viu isso em discussões sobre vacinas, sobre contágio e sobre ideologia — essa que acabou se transformando em um tipo de palavra-chave, mesmo que frequentemente não se entenda como ela é usada e o que ela quer dizer. No caso da língua, isso muitas vezes vem à tona. O que é verdade científica, que deveria servir como argumento sólido para pautar, por exemplo, as decisões do Estado, acaba entrando em contraposição a discussões sociais e políticas um pouco mais baixas do que no nível do Estado. Nós, da linguística, sabemos e podemos provar certas coisas, a exemplo da complexidade e da nobreza das variedades populares dos idiomas, consideradas "erradas" pelo mundo, que vão contra certas questões que são politicamente relevantes e importantes. No caso, por exemplo, da discussão da linguagem neutra ou das linguagens inclusivas, existe um pouco essa contraposição. A questão científica básica por trás disso é que não existe, objetiva e necessariamente, uma ligação entre a expressão do gênero gramatical nos idiomas (aquilo que nas línguas indo-europeias e no português é a distinção entre masculino, feminino e neutro) e as relações de gênero, entre homens, mulheres e todas as outras construções possíveis na sociedade. Não existe uma relação biunívoca, tipo: “línguas que tratam o gênero morfológico assim, pertencem às sociedades que tratam o gênero biológico, cultural ou político assim”. Não existe isso, de nenhuma maneira. As coisas são muito mais complicadas. No entanto, a discussão pela valorização de formas inclusivas ou neutras de uso de linguagem, a famosa discussão do "todes", que acabou virando o símbolo de tudo isso, não é exatamente científica. Ela não quer provar essa verdade e não quer argumentar em favor dessa verdade. Ela quer forçar uma discussão, ela quer fazer a sociedade parar para pensar, ela quer gerar o debate. Como eu costumo dizer, os mais acirrados detratores da linguagem neutra e da linguagem inclusiva, a cada vez que atacam, já estão concedendo a vitória, porque a vitória desses movimentos é fazer o assunto ser discutido, fazer a sociedade lembrar que existem pessoas que não cabem neste e naquele molde e fazer a sociedade lembrar que a língua é a manifestação de certos preconceitos. E por mais que esse debate nunca chegue a uma conclusão, altere ou gere modificações no idioma, eu acho que, de fato, na sociedade sempre vai gerar, porque o debate aconteceu. Por isso é que eu digo que é um debate cujo lado político é mais importante do que o lado científico.
Nos últimos anos, uma das discussões na internet foi a crescente influência do português brasileiro em Portugal. A exposição à cultura brasileira levou crianças portuguesas a adotarem palavras e expressões típicas daqui, gerando reações mistas. Esse fenômeno pode ser considerado uma forma de dominação linguística (não intencional e não violenta) ou seria apenas um intercâmbio cultural do mundo digital?
Essa discussão tem muitas facetas. De um lado a gente vê o “gemido”, o “grito” dos portugueses, se sentindo “dominados”, sentindo a “vingança da colônia”, por assim dizer. Do outro lado a gente vê a manifestação pura e simples da superioridade numérica dos brasileiros, da presença maior dos brasileiros na cultura e na internet. Tem muito exagero nisso também, no “grito” do colonizador, que agora se sente “colonizado”. Mas é muito difícil traçar esse limite do que é mera influência cultural e do que é recolonização ou “vingança colonial”. O “Irmão do Jorel” [série animada de Juliano Enrico, co-produzida, desde 2014, pela Cartoon Network] é parte da diplomacia brasileira, parte da demarcação dos limites dos usuários, dos poderes e dos jogos de força da língua portuguesa em escala global. Eu não acho que haja um movimento cultural organizado de tomar o espaço dos portugueses e que isso deva ou precise acontecer. O que acontece é uma redistribuição de forças, de espaço, de poder, de política e de dinheiro, em que o Brasil vai ocupando um lugar que é seu de direito, por uma mera questão de peso numérico e cultural e que vai se refletindo de maneiras que vão sendo recebidas com mais ou menos tranquilidade em um ou noutro lugar.
Lucas de Lima (2001) nasceu em Curitiba. Formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), foi vencedor na 14ª edição do Prêmio Jovem Jornalista, do Instituto Vladimir Herzog, em 2022. É repórter no jornal Cândido