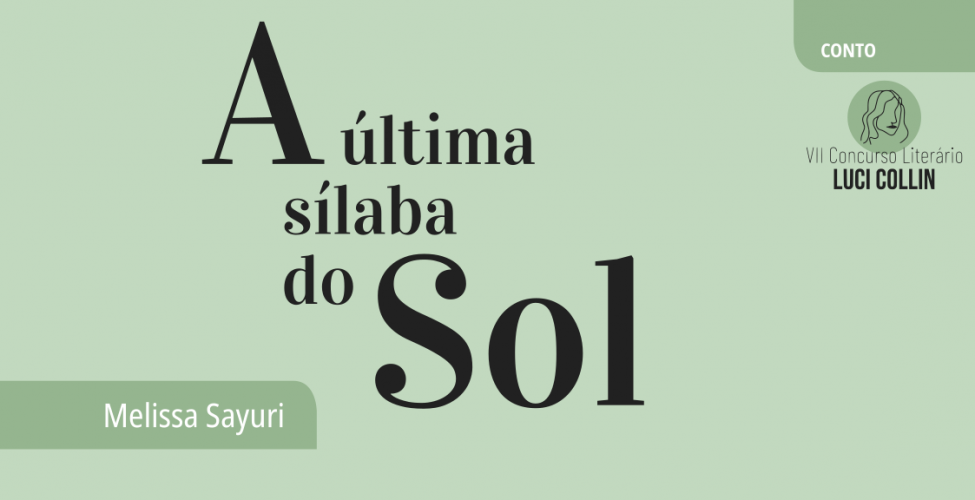VII CONCURSO LITERÁRIO LUCI COLLIN: CONTO | A última sílaba do sol 18/09/2025 - 12:51
Por Melissa Sayuri
Ela brotou da rachadura do viaduto como um segredo que o concreto não conseguiu engolir. Ninguém viu – ou ninguém quis ver – até o dia em que seu caule furou a pichação vermelha, esticando veios dourados que pareciam roubados da luz dos faróis. Uma planta sem nome, mas com voz: às madrugadas, quando a cidade tossia de fome, eu jurava ouvi-la falar na língua piscante dos semáforos. Suas pétalas eram finas como pele de recém-nascido, quase derretendo ao sol, e dentro delas corria um âmbar espesso – crepúsculo líquido, sol engarrafado em seiva.
Não era verde. Nem marrom. Seu caule tingia-se de um tom que oscilava entre dourado pálido e terra queimada, dependendo da inclinação do sol. À noite, quando as lâmpadas de LED dos postes simulavam um falso amanhecer, ela brilhava como os adesivos fosforescentes colados nos carros de som. Eu a descobri enquanto mapeava dialetos de rua para minha tese: a linguística dos esquecidos. Meu gravador capturava o português rachado dos camelôs, o pigarro dos ônibus, os neologismos que brotavam das bocas adolescentes como chiclete grudado na mesa. Mas ela era um grafema perdido, um hieróglifo vivo, uma sílaba que fugiu de um poema.
Ela se estendia, devagar, pelas frestas do viaduto, alastrando-se como uma raiz nervosa: subia pelos pilares de concreto, infiltrava-se nas juntas de dilatação, escalava as vigas metálicas até tingir de âmbar a ferrugem. Em semanas, já não era uma planta – era uma epidemia. O cheiro vinha como um grito. Era denso, acre, mistura de alho carbonizado com raiz de lótus em água parada – um odor que não pedia licença, entrava pelas narinas feito prego enferrujado.
Um menino de boné desfiado me mostrou como esmagar suas folhas contra o pulso. “Vira tatuagem de mentira”, disse, exibindo um desenho que lembrava kanjis escritos na embriaguez. Sua tia, registrada como Interlocutora 16 de minha pesquisa, observava a cena de trás da barraca de guiozas. Seus dedos nunca paravam — mesmo enquanto falava, as mãos amassavam a massa com movimentos que pareciam decifrar um arquivo de ausências.
Nas pregas da massa, seus dedos desenhavam a geografia de um corpo que atravessara oceanos para se tornar sombra em outra terra. As montanhas do Japão, reduzidas a rumores, os tambores dos festivais, agora apenas um zumbido nas têmporas. Ela modelava os guiozas como quem remenda a carne de uma língua dilacerada. “A planta-fantasma nasce onde morre a última palavra”, dizia, enquanto o shoyu escorria entre suas rugas, líquido amargo como a sílaba que seu pai engasgou ao trocar “frigideira” por “fureijira”.
Eu a via esculpir cada guioza como quem remenda um sudário para palavras aniquiladas. Suas mãos, calejadas de dobrar futuros, trabalhavam como se costurassem luto. A cada prega perfeita, ressuscitava um vocábulo morto: “saudade” que se desfez em migalhas entre alfândegas. O recheio não era só legumes e verduras — eram restos de memória, como os haikais que sua mãe suspirava ao dobrar roupas íntimas em lavanderias alheias. A saudade dissolveu-se no molho picante que escorria entre os dedos, líquido ardente como as lágrimas que sua mãe engoliu ao trocar suas paixões por aventais de faxina. Naquele momento, entendi: cozinhar era seu exorcismo. Cada massa selada, um feitiço contra o apagamento.
A demolição do viaduto não podia tardar. A planta de veias âmbar exalava o mesmo odor que consumira as panelas de sua mãe – um cheiro que se recusava a morrer na cozinha. Alastrava-se como fantasma sem endereço: impregnava camisas de seda, infiltrava-se nos estofamentos de couro dos ônibus 244, grudava até nas pálpebras dos bebês que choravam sob o asfalto quente.
Antes que a memória escorresse por seus dedos, a mãe tecia narrativas entre receitas e maldições. Dizia que o alho afugentava fantasmas, mas nunca contou como evitar que os próprios ossos se tornassem fantasmas. Para a filha, o viaduto tombado significaria mais que concreto em frangalhos: seria a extinção do último vestígio daquele vapor ácido que lhe queimava as narinas desde a infância – cheiro de rancor, de ossos cozidos em silêncio, de alfabeto desintegrando-se no fogo baixo.
Levei algumas semanas para entender. A planta não era exótica, era um sintoma. Um tumor linguístico brotando nas cicatrizes da metrópole, onde línguas haviam sido enterradas vivas, sua seiva dourada uma reação química ao luto não nomeado. Dela, nasciam folhas com formatos de lápides, onde se podia ler os átomos, os nomes dos mortos pela língua: Yoshida, Severino, Kwame. Nas noites insones, as perguntas me consumiam: quantas raízes se contorciam sob o concreto, sufocadas pelo “falar direito”?
A cidade, eu sabia, é um cemitério de sotaques, amores e tudo o que foge da neutralidade. Sob o concreto, jazem diálogos completos com perfurações de bala, línguas indígenas cujas raízes foram cortadas por enxadas coloniais, cantigas de ninar em iídiche que viraram pó nos pulmões das costureiras e poemas que ninguém soube traduzir, apenas chorar. A cidade, que apaga nomes como apagam pichações, não percebe que cada demolição é um parto. Sob o asfalto, as ervas daninhas escrevem em código de raiz o que nenhum idioma oficial ousa registrar — que morrer de saudade de si mesmo é a única língua materna que restou.
Quando as escavadeiras chegaram para demolir o viaduto fantasma, a planta começou a sangrar. Não metaforicamente. Sangrava como as veias de um corpo que a cidade julgou cadáver, mas que ainda guardava pulsos sob a dura superfície. O líquido, resina de memórias soterradas, escorria espesso, brilhante como óleo, mas cheirava a terra molhada após o primeiro temporal. Descia pelo caule em fios grudentos, misturando-se à água do bueiro, aquela que carregava bitucas de cigarro, restos de esmalte barato e os sonetos não escritos de quem dorme embaixo de pontes.
Os bulbos que não foram esmagados ficaram abandonados à sorte, oferecendo-se como sementes de um fracasso. Em minhas mãos, pulsavam como corações clandestinos, cada camada uma página rasgada de um diário nunca escrito: notas sobre tempestades de sal na plantação de café, sílabas perdidas embrulhadas em folhas de bananeira, histórias que respiravam por frestas, memórias sem dono, restos de um mundo que resistia em não morrer de todo — só em apodrecer, lentamente, até virar pó e rumor.
Seguindo uma lógica que só minha obsessão entendia, plantei-os em latas de achocolatado furadas e as pendurei na janela de meu estúdio. Três luas depois, as latas estavam cobertas por uma teia de brotos translúcidos. Nas folhas novas, vi desenhos que lembravam a caligrafia de cartas censuradas e manchas de um amarelo quase radioativo. Quando tocava neles, minha pele ardia como se estivesse apagando uma tatuagem a laser.
À noite, os bulbos emitiam um zumbido baixo, frequências que meus ouvidos captavam como ondas sonoras de línguas extintas. Eram músicas sem compasso, feitas para gargantas que não existiam mais. Reguei com água envelhecida em garrafas de cachaça e restos de chá preto fermentado. Não era suficiente. Era preciso regá-las com os delírios de quem ainda sonha na língua proibida.
Nos bolsos do meu moletom, habitam sementes em êxodo. Não são grãos, são testemunhas, guardando o pulsar de um útero linguístico, o último suspiro de um verbo banido. Inviscero-as nas cicatrizes do concreto — não planto, pratico necromancia urbana. Entre rachaduras de prédios que o capital devorou e reduziu a esqueleto, deposito promessas de insurreição verde. Sob pontes de línguas estilhaçadas, deixo sílabas que germinam em árabe, curdo, em urdimento de pátrias provisórias. Dentro de orelhões engasgados pelo silêncio — esses caixões de voz que ninguém mais habita —, escondo raízes que tecem fios telefônicos com as últimas palavras não ditas de um avô para a neta desaparecida.
Encontrei um galho insurgente escalando o muro de uma escola onde crianças bolivianas têm suas línguas cortadas por tesouras invisíveis. O galho, ignorante de fronteiras, balançava ao vento em aimará. Noutro dia, uma flor. Um único botão alaranjado desafiava a podridão ao lado do restaurante coreano carbonizado. Nas paredes, restavam palavras criminosas — “voltem pra sua selva” —, mas a flor, órfã de pátria, abria-se em coreano. Talvez fosse um verso. Ou um mapa. Cultivo sem esperança, pois cidades são máquinas de esquecer: trituram raízes, apagam dialetos, enfaixam feridas com asfalto quente. Mas insisto.
Às vezes vejo, nas palmas de minhas mãos, onde as sementes repousaram, marcas fosforescentes de uma batalha que nunca escolhi travar. Marcas de uma língua que o corpo ainda teima em falar, mesmo que a boca tenha aprendido a silenciar. Elas formam um ideograma que nenhum dicionário registra: o verbo permanecer, conjugado no futuro arcaico. A flor permanece sem nome. O luto da Interlocutora 16 também. E eu, humana transplantada em solo urbano, rego com lágrimas salgadas o que o cimento insiste em chamar de erva daninha.
—
Melissa Sayuri é graduada em Jornalismo pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e mestranda em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Desenvolve pesquisas no campo da Análise de Discurso, com ênfase em temas como migração, perigo amarelo e produção de sentidos durante a pandemia de covid-19. Venceu o 1º lugar na categoria conto no VII Concurso Literário Luci Collin, em 2025.