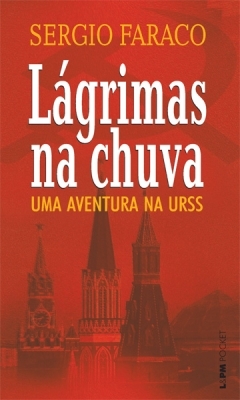Entrevista | Sergio Faraco
“Salvar alguém de alguma coisa”
O gaúcho Sergio Faraco fala sobre o conto, gênero que o consagrou com um dos mestres da ficção nacional, e de sua opção por deixar, há dez anos, a escrita literária.
Luiz Rebinski Junior e Marcio Renato dos Santos
Sergio Faraco poderia ser um personagem de Enrique Vila-Matas, autor espanhol fascinado por enredos metaliterários e criador de tipos estranhos, como suicidas que não conseguem morrer e escritores que param de escrever. Faraco, um dos maiores contistas brasileiros da segunda metade do século XX, deixou a escrita há dez anos. Nem ele mesmo sabe o motivo. Autor de histórias clássicas, como “Dançar tango em Porto Alegre”, diz simplesmente que já não consegue escrever bons contos, demonstrando uma autocrítica rara entre escritores, sempre ávidos a qualquer tipo de publicação.
Com mais de 40 anos de carreira e 20 livros publicados, seus Contos completos foram reunidos em um único volume pela editora gaúcha L&PM em 1995. Desde então, a antologia ganhou outras duas edições. O livro mapeia a trajetória de Faraco em todas as suas fases, desde os os contos “de fronteira”, em que a linguagem do Rio Grande profundo é marcante, até as histórias mais urbanas, onde a solidão é onipresente. Ou seja, trata-se de uma obra obrigatória para entender um autor essencial, mas que continua pouco conhecido fora de seu Estado.
Assim como nos contos de Faraco, a entrevista que segue é permeada por um tom de resignação, ainda que com um fiapo de esperança. “Certa vez eu disse que um escritor sempre pensa que vai salvar alguém de alguma coisa. Essa ideia talvez não sirva para outros escritores, mas serve para mim”, diz.
O autor também fala sobre a recepção de sua obra no exterior, em países como Uruguai e Itália, da experiência como tradutor e de suas memórias do período em que viveu na ex-União Soviética, entre 1963 e 1965, que resultou no livro Lágrimas na chuva.
Há quem diga que um conto pode ser definido como uma cena. O que o senhor acha da pensata? Afinal, os contos, diríamos, mais urbanos de Dançar tango em Porto Alegre apresentam ao leitor uma cena, a exemplo de “Um aceno na garoa”, que mostra um encontro na noite, e “Café Paris”, a respeito de um reencontro. O que acha da tese? Um conto, em sua essência, é a representação uma cena?
Imagino que se possa pensar que representa uma cena, mas uma cena que não seria parte de algo mais extenso e complexo, como no teatro, e fosse ela mesma essa totalidade, isto é, uma história que começa e se desenvolve até alcançar seu próprio epílogo. Na verdade, acho que essa questão depende do que se entende por cena.
A primeira parte de seus Contos completos traz histórias com uma dicção calcada no linguajar do gaúcho do Rio Grande profundo, digamos. Com muitos termos peculiares a essa região do Brasil, além de algumas palavras oriundas do espanhol, de países que fazem fronteira com o Estado. O senhor considera esse núcleo de sua obra como regionalista? E mais: esse tipo de literatura, de alguma forma, restringiu a recepção de sua obra fora do Rio Grande do Sul?
Meus relatos fronteiriços, geralmente, praticam os mesmos temas de outros cuja proveniência é urbana, mas é natural que haja diferenças na dicção do narrador ou das personagens. Um habitante da fronteira com Misiones não fala como um porto-alegrense, e o escritor tem de respeitar o que é típico da geografia em que se passa sua história. Se isso se chama regionalismo, bem, aí está algo que, para mim, nada significa. O que importa é a qualidade. Se o vinho é bom não precisa de rótulo, diz Rosalinda em “Como gostais”. Não sei se, por causa desse suposto regionalismo, houve restrições à minha ficção em outros lugares. Não me consta que tenha havido, por exemplo, com relação a Guimarães Rosa, Jorge Amado, Graciliano Ramos, Mário Palmério ou José Lins do Rego. De resto, os contos de fronteira são apenas uma parte do que escrevi. O menor curso de meus livros terá outras razões.
O “amor impossível”, em que pessoas são separadas por adversidades da vida cotidiana, é um tema bastante presente em seus contos, inclusive no livro de memórias de seu período russo, Lágrimas na chuva. O senhor concorda que esse talvez seja o grande tema de sua obra?
Não delibero sobre o tema, ele nasce com a história, ou deriva da história, quem sabe a cria, mas olhando para trás, para o que está feito e publicado, suponho que o que mais se mostra em minha ficção é a solidão e, ao mesmo tempo, a esperança de que essa infelicidade possa ser atenuada. Certa vez eu disse que um escritor sempre pensa que vai salvar alguém de alguma coisa. Essa ideia talvez não sirva para outros escritores, mas serve para mim.
O deslocamento do ser humano, que é um assunto comum a muitos escritores, também permeia sua obra. No seu caso, há ainda a questão de um certo isolamento do gaúcho em relação ao restante do país. Considera seus personagens outsiders? A questão da identidade gaúcha está inserida nesse contexto?
Os gaúchos diferimos um tanto dos brasileiros em geral, temos nossos traços, mas essa tipicidade não deve surpreender quem a constata. O Brasil é um crisol de identidades regionais, e o brasileiro não é um tipo, ou só passa a ser quando, no exterior, confunde-se brasileiro com carioca. Talvez um dos atributos do rio-grandense seja certo influxo platino, mas, veja só, fomos nós que defendemos a integridade do território brasileiro após a invasão espanhola de 1763, de modo que pertencermos ao Brasil foi uma opção, e dela nos orgulhamos. Movimentos separatistas houve muitos no país, sobretudo na Bahia, em pleno século XIX, e então não se admite que a Guerra dos Farrapos venha a ser o fermento de algum cisma. Se há de fato esse isolamento, é preciso buscar o móvel fora do Rio Grande. Costumo dizer que nós, aqui no Sul, consideramos o Brasil um país amigo, mas é só uma brincadeira, para implicar com quem não gosta de nós. E minha ficção não tem nada a ver com isso. Escrevo sobre os fronteiriços como Graciliano sobre os retirantes. Tudo é Brasil.
O leitor que lê apenas seu livro Dançar tango em Porto Alegre, que conquistou o Prêmio de Ficção 1999 da Academia Brasileira de Letras, encontra três partes e também três temáticas. Primeiro, os contos do interior. Depois, contos que mostram um olhar de criança que começa a conhecer o mundo, como em “A língua do cão chinês”. E, enfim, os contos que apresentam um certo olhar desencantado a respeito do amor, como “Café Paris” e inclusive no elogiado “Dançar tango em Porto Alegre”. Essa observação é pertinente? Em suas obras há essa repartição de temas?
Dançar tango em Porto Alegre é uma antologia que reedita a estrutura dos Contos completos, cuja primeira edição é de 1995. Como minha ficção parece provir de três vertentes, julguei apropriado reunir em cada parte os relatos que se assemelham. É uma conveniência menos literária do que editorial. Por outro lado, não creio que meus contos — ou sua maioria — possam sugerir desencanto em relação ao amor. Em “Dançar tango em Porto Alegre”, por exemplo, tenho a impressão, quase a certeza, de que esse sentimento surge como uma redenção para duas vidas destroçadas.
O senhor viveu na União Soviética entre 1963 e 1965 e apenas em 2002 publicou Lágrimas na chuva, um livro de memórias a respeito da experiência que, de acordo com o que está no relato, o marcou profundamente. Por que demorou tantos anos para escrever e publicar o livro que, a exemplo dos seus contos, traz capítulos breves e, cada um dos capítulos, se concentra praticamente em uma cena?
Dada a minha especialidade, pode ser que, nesse livro, cada capítulo funcione como um conto, ou talvez uma crônica. A diferença é que há uma sequência, trata-se de lembrar o que ocorreu, continuadamente, naquele período da minha vida. Demorei para escrever por mais de um motivo. Em 1965, pouco depois de voltar ao Brasil, fui preso, e enquanto estive na prisão os policiais forçaram a porta de meu apartamento e recolheram meus papéis, entre eles os primeiros rascunhos daquilo que, mais tarde, seria essa memória. Usaram aquelas páginas para me interrogar e então, durante certo tempo, elas me pareceram pouco menos que malditas. Também não escrevia porque não conseguia progredir. Os sentimentos ainda estavam muito vivos, e quando não devidamente elaborados eles conspiram contra a lucidez. Eu desejava escrever um livro que fosse verdadeiro, mas sem mágoas, sem rancores.
A sua obra, pelo menos nos anos mais recentes, é toda publicado pela L&PM. Alguns escritores e editores costumam dizer que o Rio Grande do Sul é auto-sustentável em relação à produção e consumo de literatura. O senhor concorda?
Não conheço as particularidades do mercado livreiro, mas consta que, por causa das inúmeras feiras de livros, organizadas até em municípios recém-emancipados, as edições de autores gaúchos se esgotam aqui mesmo. Há outras iniciativas, como o programa Autor Presente do Instituto Estadual do Livro, que leva o escritor a escolas da capital e do interior. Ignoro o que essas realizações representam em números, mas me lembro de algo revelador que ocorreu em 1997, na Feira do Livro de Porto Alegre. Autografaram suas obras dois afamados autores: Mario Vargas Llosa e Paulo Coelho. No entanto, o livro mais vendido da feira foi um romance de Luiz Antonio de Assis Brasil.
Sua obra tem mais ressonância no Rio Grande do Sul, território da L&PM, ou há leitores de sua ficção em todo o país?
Sim, meus livros têm mais leitores no Sul, embora a L&PM disponha de eficiente distribuição nacional. Há de contribuir para tal limitação o meu temperamento. Ao contrário do que habitualmente fazem os autores, não ajudo o editor. Não viajo para participar de eventos literários ou lançar livros, raramente dou entrevistas e isto quer dizer que minha ficção teria de ser extraordinária para se impor pela qualidade.
Nos últimos anos, a literatura saiu um pouco (não muito) do gueto. O mercado editorial melhorou, há um circuito de feiras no país e os processos de publicação ficaram facilitados, o que possibilitou o surgimento de novos escritores. O senhor está a par desse processo? Por que não frequenta muito o circuito literário do país?
Vejo que há mudanças, mas não as acompanho e não sei exatamente quais os seus benefícios. Imagino que os haja, decerto. Tenho uma vida discreta, retirada, e não gosto nem um pouco disso que se chama “circuito literário”. Não julgo necessário para a literatura que o escritor se exponha, ainda que hoje essa exposição seja comum.
E em relação aos novos escritores, tem acompanhado? Gosta de algum autor da nova geração? O que faz parte de suas leituras hoje em dia?
Minhas leituras são as de sempre, os clássicos e algum livro moderno que desperte minha curiosidade. Os jovens autores de hoje eu não conheço, nem mesmo lhes sei os nomes, exceto de alguns que vivem em Porto Alegre. Há tantas obras capitais que precisam ser lidas, uma vida não é bastante e então não sobra tempo para ler o que faz de bom a nova geração.
O senhor também escreveu um livro dedicado à sinuca, jogo do qual é praticante. Consegue fazer alguma conexão entre sinuca e literatura?
Jogo desde os 13 anos. Frequento os salões da cidade e também disponho de um salão em casa. João Antônio e Luiz Vilela, quando estiveram em Porto Alegre, vieram jogar comigo. Também jogou aqui em casa o Roberto Gomes. Tenho um conto sobre o snooker, “Saloon”, mas o jogo, convenhamos, é apenas uma distração, não exageremos seu papel.
P or que o senhor não publica mais ficção? Quando foi exatamente que escreveu seu último conto? E, aproveitando: desde quando escreve ficção? Durante quantos anos escreveu? Não pensa em voltar?
Não escrevo mais porque já não consigo escrever bons contos. Nos anos 1990, pouco a pouco fui parando, e depois perdi o interesse. Não me lembro de quando escrevi o último conto, terá sido antes da segunda edição dos Contos completos, que é de 2004. Nunca o publiquei, justamente por ser ruim. Às vezes me pergunto o porquê desse processo, se é consequência da idade, ou da pressão de outros interesses, ou de preocupações diversas. Bem, acho que, ao menos em parte — e já que precisamos de um culpado —, minha progressiva incapacidade seguiu passo a passo o ritmo em que eu fazia traduções. A tradução é um bom exercício para quem escreve, mas traduzi três dezenas de livros, na maioria obras de ficção. Não é pouco. Quem traduz precisa, por assim dizer, assumir o rosto do traduzido. Quem sabe não perdi o meu nesses embates.
Um de seus livros acaba de ser lançado no Uruguai (La dama del bar Nevada y outros cuentos). Como é a recepção de sua obra no exterior?
É o meu quarto livro no Uruguai. Como a edição é de 4.000 exemplares, presumo que, na opinião do editor, há leitores suficientes para que ela não lhe dê prejuízo. Neste ano, também sai uma coletânea na Itália. Há contos publicados em diversos países e idiomas, mas nada sei sobre a repercussão, se é que houve alguma.
Quem são os mestres do conto? Pode citar alguns e explicar quais os pontos de contato entre a literatura de seus possíveis mestres e a sua prosa?
O contista que mais admiro, entre outros óbvios, é Hemingway, o Hemingway de Nick Adams. Lembro-me de ter lido bons contos de um autor francês, Bernard Clavel (“O espião dos olhos verdes”), e de um norte-americano, Robert Sheckley, autor de “Inalterado por mãos humanas”, livro que me foi presenteado pelo Mario Quintana. Entre os brasileiros, meus preferidos são Lygia Fagundes Telles e Dalton Trevisan. Não vejo relação entre minhas leituras e o que escrevi. Se existe — e admito que possa existir —, nunca notei.
Assim como nos contos de Faraco, a entrevista que segue é permeada por um tom de resignação, ainda que com um fiapo de esperança. “Certa vez eu disse que um escritor sempre pensa que vai salvar alguém de alguma coisa. Essa ideia talvez não sirva para outros escritores, mas serve para mim”, diz.
O autor também fala sobre a recepção de sua obra no exterior, em países como Uruguai e Itália, da experiência como tradutor e de suas memórias do período em que viveu na ex-União Soviética, entre 1963 e 1965, que resultou no livro Lágrimas na chuva.
Há quem diga que um conto pode ser definido como uma cena. O que o senhor acha da pensata? Afinal, os contos, diríamos, mais urbanos de Dançar tango em Porto Alegre apresentam ao leitor uma cena, a exemplo de “Um aceno na garoa”, que mostra um encontro na noite, e “Café Paris”, a respeito de um reencontro. O que acha da tese? Um conto, em sua essência, é a representação uma cena?
Imagino que se possa pensar que representa uma cena, mas uma cena que não seria parte de algo mais extenso e complexo, como no teatro, e fosse ela mesma essa totalidade, isto é, uma história que começa e se desenvolve até alcançar seu próprio epílogo. Na verdade, acho que essa questão depende do que se entende por cena.
A primeira parte de seus Contos completos traz histórias com uma dicção calcada no linguajar do gaúcho do Rio Grande profundo, digamos. Com muitos termos peculiares a essa região do Brasil, além de algumas palavras oriundas do espanhol, de países que fazem fronteira com o Estado. O senhor considera esse núcleo de sua obra como regionalista? E mais: esse tipo de literatura, de alguma forma, restringiu a recepção de sua obra fora do Rio Grande do Sul?
Meus relatos fronteiriços, geralmente, praticam os mesmos temas de outros cuja proveniência é urbana, mas é natural que haja diferenças na dicção do narrador ou das personagens. Um habitante da fronteira com Misiones não fala como um porto-alegrense, e o escritor tem de respeitar o que é típico da geografia em que se passa sua história. Se isso se chama regionalismo, bem, aí está algo que, para mim, nada significa. O que importa é a qualidade. Se o vinho é bom não precisa de rótulo, diz Rosalinda em “Como gostais”. Não sei se, por causa desse suposto regionalismo, houve restrições à minha ficção em outros lugares. Não me consta que tenha havido, por exemplo, com relação a Guimarães Rosa, Jorge Amado, Graciliano Ramos, Mário Palmério ou José Lins do Rego. De resto, os contos de fronteira são apenas uma parte do que escrevi. O menor curso de meus livros terá outras razões.
O “amor impossível”, em que pessoas são separadas por adversidades da vida cotidiana, é um tema bastante presente em seus contos, inclusive no livro de memórias de seu período russo, Lágrimas na chuva. O senhor concorda que esse talvez seja o grande tema de sua obra?
Não delibero sobre o tema, ele nasce com a história, ou deriva da história, quem sabe a cria, mas olhando para trás, para o que está feito e publicado, suponho que o que mais se mostra em minha ficção é a solidão e, ao mesmo tempo, a esperança de que essa infelicidade possa ser atenuada. Certa vez eu disse que um escritor sempre pensa que vai salvar alguém de alguma coisa. Essa ideia talvez não sirva para outros escritores, mas serve para mim.
O deslocamento do ser humano, que é um assunto comum a muitos escritores, também permeia sua obra. No seu caso, há ainda a questão de um certo isolamento do gaúcho em relação ao restante do país. Considera seus personagens outsiders? A questão da identidade gaúcha está inserida nesse contexto?
Os gaúchos diferimos um tanto dos brasileiros em geral, temos nossos traços, mas essa tipicidade não deve surpreender quem a constata. O Brasil é um crisol de identidades regionais, e o brasileiro não é um tipo, ou só passa a ser quando, no exterior, confunde-se brasileiro com carioca. Talvez um dos atributos do rio-grandense seja certo influxo platino, mas, veja só, fomos nós que defendemos a integridade do território brasileiro após a invasão espanhola de 1763, de modo que pertencermos ao Brasil foi uma opção, e dela nos orgulhamos. Movimentos separatistas houve muitos no país, sobretudo na Bahia, em pleno século XIX, e então não se admite que a Guerra dos Farrapos venha a ser o fermento de algum cisma. Se há de fato esse isolamento, é preciso buscar o móvel fora do Rio Grande. Costumo dizer que nós, aqui no Sul, consideramos o Brasil um país amigo, mas é só uma brincadeira, para implicar com quem não gosta de nós. E minha ficção não tem nada a ver com isso. Escrevo sobre os fronteiriços como Graciliano sobre os retirantes. Tudo é Brasil.
O leitor que lê apenas seu livro Dançar tango em Porto Alegre, que conquistou o Prêmio de Ficção 1999 da Academia Brasileira de Letras, encontra três partes e também três temáticas. Primeiro, os contos do interior. Depois, contos que mostram um olhar de criança que começa a conhecer o mundo, como em “A língua do cão chinês”. E, enfim, os contos que apresentam um certo olhar desencantado a respeito do amor, como “Café Paris” e inclusive no elogiado “Dançar tango em Porto Alegre”. Essa observação é pertinente? Em suas obras há essa repartição de temas?
Dançar tango em Porto Alegre é uma antologia que reedita a estrutura dos Contos completos, cuja primeira edição é de 1995. Como minha ficção parece provir de três vertentes, julguei apropriado reunir em cada parte os relatos que se assemelham. É uma conveniência menos literária do que editorial. Por outro lado, não creio que meus contos — ou sua maioria — possam sugerir desencanto em relação ao amor. Em “Dançar tango em Porto Alegre”, por exemplo, tenho a impressão, quase a certeza, de que esse sentimento surge como uma redenção para duas vidas destroçadas.
O senhor viveu na União Soviética entre 1963 e 1965 e apenas em 2002 publicou Lágrimas na chuva, um livro de memórias a respeito da experiência que, de acordo com o que está no relato, o marcou profundamente. Por que demorou tantos anos para escrever e publicar o livro que, a exemplo dos seus contos, traz capítulos breves e, cada um dos capítulos, se concentra praticamente em uma cena?
Dada a minha especialidade, pode ser que, nesse livro, cada capítulo funcione como um conto, ou talvez uma crônica. A diferença é que há uma sequência, trata-se de lembrar o que ocorreu, continuadamente, naquele período da minha vida. Demorei para escrever por mais de um motivo. Em 1965, pouco depois de voltar ao Brasil, fui preso, e enquanto estive na prisão os policiais forçaram a porta de meu apartamento e recolheram meus papéis, entre eles os primeiros rascunhos daquilo que, mais tarde, seria essa memória. Usaram aquelas páginas para me interrogar e então, durante certo tempo, elas me pareceram pouco menos que malditas. Também não escrevia porque não conseguia progredir. Os sentimentos ainda estavam muito vivos, e quando não devidamente elaborados eles conspiram contra a lucidez. Eu desejava escrever um livro que fosse verdadeiro, mas sem mágoas, sem rancores.
A sua obra, pelo menos nos anos mais recentes, é toda publicado pela L&PM. Alguns escritores e editores costumam dizer que o Rio Grande do Sul é auto-sustentável em relação à produção e consumo de literatura. O senhor concorda?
Não conheço as particularidades do mercado livreiro, mas consta que, por causa das inúmeras feiras de livros, organizadas até em municípios recém-emancipados, as edições de autores gaúchos se esgotam aqui mesmo. Há outras iniciativas, como o programa Autor Presente do Instituto Estadual do Livro, que leva o escritor a escolas da capital e do interior. Ignoro o que essas realizações representam em números, mas me lembro de algo revelador que ocorreu em 1997, na Feira do Livro de Porto Alegre. Autografaram suas obras dois afamados autores: Mario Vargas Llosa e Paulo Coelho. No entanto, o livro mais vendido da feira foi um romance de Luiz Antonio de Assis Brasil.
Sua obra tem mais ressonância no Rio Grande do Sul, território da L&PM, ou há leitores de sua ficção em todo o país?
Sim, meus livros têm mais leitores no Sul, embora a L&PM disponha de eficiente distribuição nacional. Há de contribuir para tal limitação o meu temperamento. Ao contrário do que habitualmente fazem os autores, não ajudo o editor. Não viajo para participar de eventos literários ou lançar livros, raramente dou entrevistas e isto quer dizer que minha ficção teria de ser extraordinária para se impor pela qualidade.
Nos últimos anos, a literatura saiu um pouco (não muito) do gueto. O mercado editorial melhorou, há um circuito de feiras no país e os processos de publicação ficaram facilitados, o que possibilitou o surgimento de novos escritores. O senhor está a par desse processo? Por que não frequenta muito o circuito literário do país?
Vejo que há mudanças, mas não as acompanho e não sei exatamente quais os seus benefícios. Imagino que os haja, decerto. Tenho uma vida discreta, retirada, e não gosto nem um pouco disso que se chama “circuito literário”. Não julgo necessário para a literatura que o escritor se exponha, ainda que hoje essa exposição seja comum.
E em relação aos novos escritores, tem acompanhado? Gosta de algum autor da nova geração? O que faz parte de suas leituras hoje em dia?
Minhas leituras são as de sempre, os clássicos e algum livro moderno que desperte minha curiosidade. Os jovens autores de hoje eu não conheço, nem mesmo lhes sei os nomes, exceto de alguns que vivem em Porto Alegre. Há tantas obras capitais que precisam ser lidas, uma vida não é bastante e então não sobra tempo para ler o que faz de bom a nova geração.
O senhor também escreveu um livro dedicado à sinuca, jogo do qual é praticante. Consegue fazer alguma conexão entre sinuca e literatura?
Jogo desde os 13 anos. Frequento os salões da cidade e também disponho de um salão em casa. João Antônio e Luiz Vilela, quando estiveram em Porto Alegre, vieram jogar comigo. Também jogou aqui em casa o Roberto Gomes. Tenho um conto sobre o snooker, “Saloon”, mas o jogo, convenhamos, é apenas uma distração, não exageremos seu papel.
P or que o senhor não publica mais ficção? Quando foi exatamente que escreveu seu último conto? E, aproveitando: desde quando escreve ficção? Durante quantos anos escreveu? Não pensa em voltar?
Não escrevo mais porque já não consigo escrever bons contos. Nos anos 1990, pouco a pouco fui parando, e depois perdi o interesse. Não me lembro de quando escrevi o último conto, terá sido antes da segunda edição dos Contos completos, que é de 2004. Nunca o publiquei, justamente por ser ruim. Às vezes me pergunto o porquê desse processo, se é consequência da idade, ou da pressão de outros interesses, ou de preocupações diversas. Bem, acho que, ao menos em parte — e já que precisamos de um culpado —, minha progressiva incapacidade seguiu passo a passo o ritmo em que eu fazia traduções. A tradução é um bom exercício para quem escreve, mas traduzi três dezenas de livros, na maioria obras de ficção. Não é pouco. Quem traduz precisa, por assim dizer, assumir o rosto do traduzido. Quem sabe não perdi o meu nesses embates.
Um de seus livros acaba de ser lançado no Uruguai (La dama del bar Nevada y outros cuentos). Como é a recepção de sua obra no exterior?
É o meu quarto livro no Uruguai. Como a edição é de 4.000 exemplares, presumo que, na opinião do editor, há leitores suficientes para que ela não lhe dê prejuízo. Neste ano, também sai uma coletânea na Itália. Há contos publicados em diversos países e idiomas, mas nada sei sobre a repercussão, se é que houve alguma.
Quem são os mestres do conto? Pode citar alguns e explicar quais os pontos de contato entre a literatura de seus possíveis mestres e a sua prosa?
O contista que mais admiro, entre outros óbvios, é Hemingway, o Hemingway de Nick Adams. Lembro-me de ter lido bons contos de um autor francês, Bernard Clavel (“O espião dos olhos verdes”), e de um norte-americano, Robert Sheckley, autor de “Inalterado por mãos humanas”, livro que me foi presenteado pelo Mario Quintana. Entre os brasileiros, meus preferidos são Lygia Fagundes Telles e Dalton Trevisan. Não vejo relação entre minhas leituras e o que escrevi. Se existe — e admito que possa existir —, nunca notei.