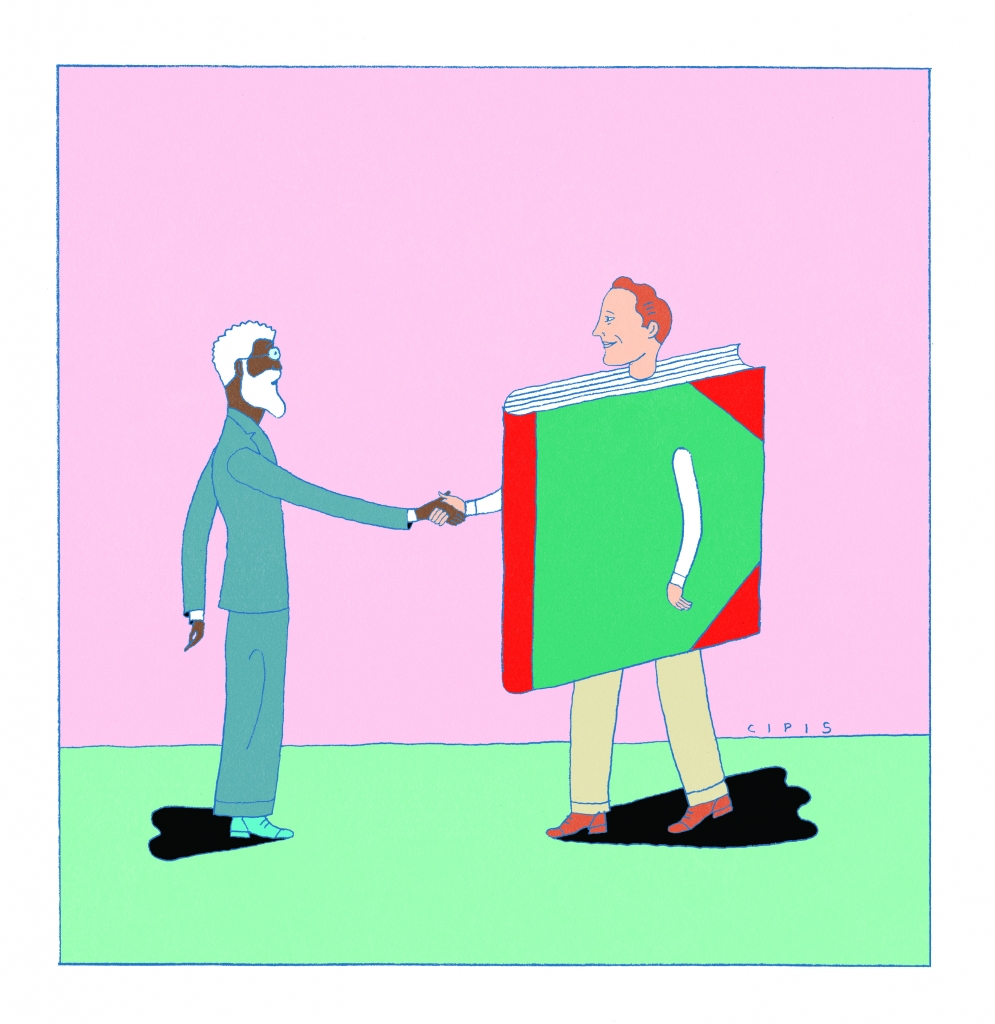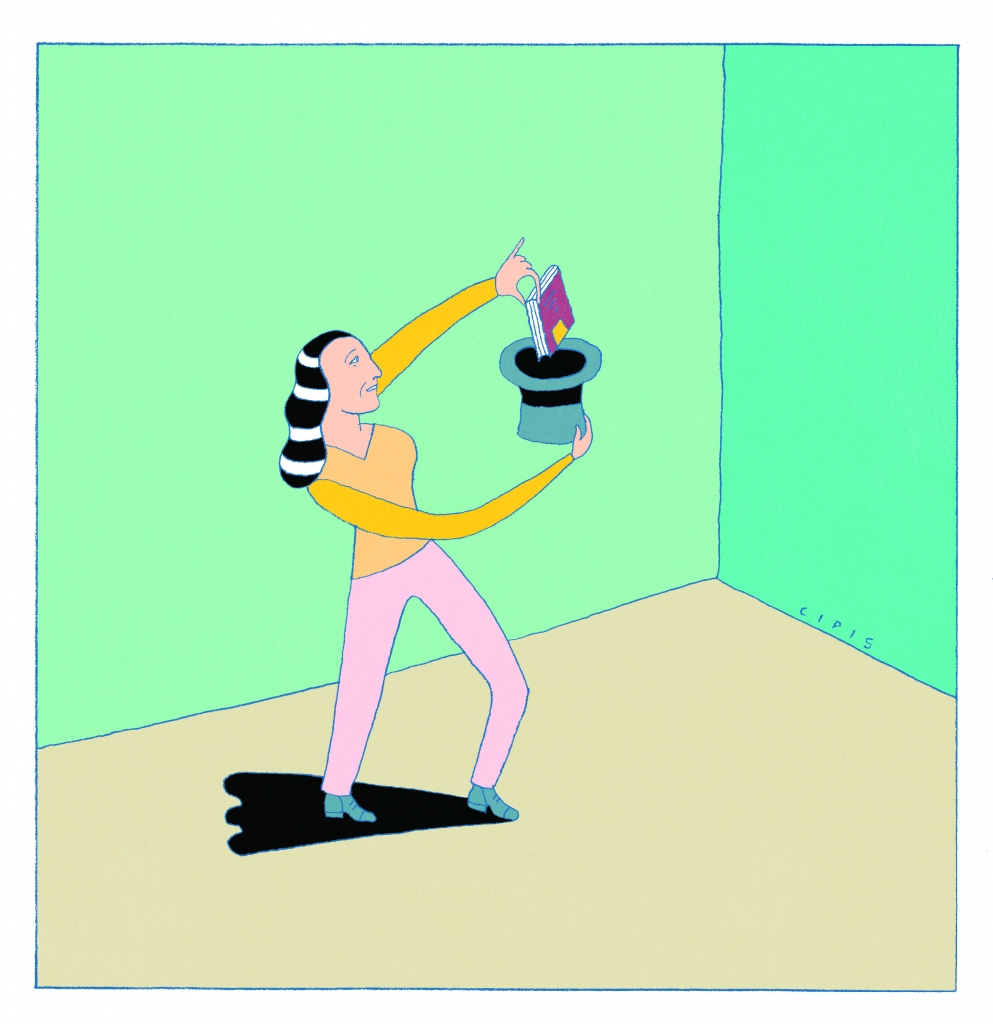A arte do encontro 18/09/2017 - 05:00
A editora de alguns dos maiores nomes da literatura brasileira relembra sua trajetória e comenta as mudanças que a atividade sofreu ao longo dos últimos 30 anos
Maria Amélia Mello
Ilustrações: Marcelo Cipis
Numa simples visita a uma livraria, em qualquer capital brasileira, com suas mesas repletas de volumes, um curioso não poderá deixar de pensar: “Quem escolhe tantos livros?”. Uma pessoa, ainda mais crítica, haverá de se perguntar: “E quem vai ler tudo isso?”. Impressionada com a quantidade de títulos, temas, autores, línguas e estoque, há de ficar zonza com tamanha diversidade. Está tudo ali, ao alcance das mãos, assim como está tudo aqui em casa, ao mero toque da tecla enter. Apesar da crise, é o espelho de nosso mercado editorial — que, virando as costas aos vaticínios, pulsa.
Vivemos em uma era da informação em excesso e somos fascinados e fulminados por uma avalanche de dados, fatos, notícias, versões, previsões, depoimentos. Tanto faz o canal, a mídia ou o suporte. A informação vai entrando por todos os polos e poros, deixando um rastro de incertezas e — por que não? — de exaustão. É como se uma torneira descontrolada jorrasse 24 horas e o barulho da água fizesse coro ao ponteiro do relógio, que já nem escutamos mais marcar. Em que prestar atenção? Para que lado olhar e absorver o que vai chegando, mesmo sem a gente pedir? O resultado é uma agonia silenciosa que, mal abrimos os olhos pela manhã, lutamos para decifrar, entender, driblar, consumir, deletar. Tudo vai ficando mais complexo, difuso e novos players chegam para ampliar e derreter verdades cristalizadas.
O editor de livros é uma dessas figuras que se debatem na corrente líquida da informação e, dela, extraem a matéria-prima para seu ofício. E, claro, tenta sobreviver mantendo o nariz na superfície do papel. Ou tela. É de sua sala — lugar perigoso para se observar o mundo, alguém já comentou — que o profissional dos livros busca sacar de sua cartola um coelho, um elefante, com êxito, um monstro sagrado.
Não deve ser por outro motivo que o editor é sempre comparado a um jogador, com suas apostas imprevisíveis, fichas de alto valor ou ninharia, rolando entre os dedos e o olhar fixo passeando pelas dezenas do pano verde. A sorte — toc, toc, toc — é elemento que não se deve desprezar nestas ocasiões, mas — atenção! — o conhecimento, a dedicação de horas a fio, o suor que nem sempre pinga ao final de uma jornada de investigação e leitura, é companheiro bem-vindo. Em resumo: o que se pode recolher e crivar após uma rotina cansativa de trabalho.
É a velha história do vulcão: sabemos que ele está lá, adormecido, em algum resto de brasa e destempero, mas enigmático no calendário para dar as caras e rugir em chamas, vivo. Com afinco, vamos desbastar uma pilha de originais à procura da semente de um Rosa, se possível, um Guimarães!
É o sonho de todo editor, cuja alegria é revelar um autor, um livro, mesmo que não seja “ainda” um best-seller ou a incógnita de se tornar, no futuro, um clássico, de identificar uma história bem contada para atrair leitores, críticos, mídia. Um autor, enfim, com nome estampado na capa, amparado pela segurança da logomarca editorial. O editor, quase invisível, já não se engana: este é o destino de quem nasceu para brilhar. Mas, dele, o escritor, espera parceria em todos os minutos, duelo afiado e coração em suspenso. Uma relação baseada na confiança e cumplicidade. Tem sido assim ao longo dos tempos e mesmo com a roda girando mais rápido, mais rápido e em inúmeras direções, o destino, de uma ponta a outra, está selado. São parceiros, os dois, na arte sutil da convivência.
É voz geral que esta profissão — editor de livros — carrega uma maleta cheia de surpresas e está sempre a postos a transformar água em vinho. Diz-se mesmo — ouço muito isso — que o cotidiano se resume a mais glamour que batente. O que não deixa de ser uma contradição. Num país de escassos leitores, pensar que alguém possa imaginar as delícias de ser editor, sem incluir à nossa atividade uma parcela de alto risco, é mesmo uma curiosidade. Esta conversa fiada de “festa permanente” pode ser exemplificada na música de Caymmi: a verdade é que ninguém sabe o esforço que dá para fazer um abará, ninguém presenciou as horas em que o compositor baiano ficou ali, deitado na rede, não fazendo “nada”, violão em punho, em busca de palavras e acordes para encaixar e ressaltar o sabor do acepipe.
No livro ainda acontece assim. Há um mercado que vive de palavras e da criação de seus autores, ou seja, do imponderável. E no comando dessa bandinha está o editor. Aquela figura de bastidor que, na maioria das vezes, só aparece na imprensa em situações festivas, deixando a sensação falsa na fantasia do leitor: editor deve levar boa vida, taça de proseco em brinde. Só que ninguém flagrou o seu silêncio e as anotações, as dúvidas durante a leitura. Nem as pausas, as discussões, nem sempre amáveis, na caça obsessiva por um novo talento.
Não há testemunha dos bastidores, após o original circular por diversas etapas — do copy, do revisor, do preparador de texto —, o editor aguardará o rebento nascer. Vai, por fim, folheá-lo, cheirá-lo, correndo os olhos pelas páginas para, então, libertá-lo para passar no teste das livrarias. Uma colheita pronta para ser consumida, após meses de idas e vindas, de plantio sob o sol ou a chuva da criação coletiva. Editar tem seu tempo de maturação, cronômetro próprio e programação por cumprir. É o início de uma carreira, a trajetória do livro, com seu planejamento de marketing, divulgação, distribuição e vendas.
Mas, se as palavras são o ganha-pão de um e de outro, autor e editor, o segundo passou a se acostumar com uma inquietação, um alarme: os números. Guarda-se o tão comentado glamour na gaveta, trazendo, para a realidade do escritório, a máquina de calcular. Atualmente, o mundo editorial contabiliza resultados pouco animadores.
Não sei se estes dados são os mais recentes, podem ter alterado, andando para lá e para cá. Mas sei que não mudaram tanto assim na essência. Segundo pesquisa do Instituto Pró-Livro, 75% dos brasileiros jamais pisaram numa biblioteca, sendo que 71% dispõem de acesso fácil a uma biblioteca pública. O uso frequente do espaço cultural gratuito caiu de 11% em 2007 para 7% em 2011. O desempenho da indústria do livro não deixa tranquilidade, atividades culturais são logo cortadas do orçamento, ainda mais com o desemprego recorde atingindo perto de 13 milhões de brasileiros. A taxa de desocupação no país chegou a atingir a maior série histórica do IBGE, iniciada em 2012, visível em todos os setores do consumo. O Brasil ainda respira.
No entanto, se a conta ainda não fechou como se gostaria — edições físicas ou digitais —, o editor continuou peneirando suas apostas. E, ao lado dele, o escritor produzindo. As grandes feiras internacionais continuaram atraindo os editores dos quatro cantos do planeta, as consultas aos scouts (espécie de caçadores que farejam tendências e talentos), os agentes literários não desanimaram e, de uma forma ou outra, mandaram sinais de vitalidade, aqui e no exterior. Tudo veio a se somar ao minguado banquete das letras, com suas ofertas rarefeitas e mais baixas, o real fraquejando das pernas e sucumbindo ao valor do dólar, moeda corrente nas negociações, em particular nos disputados balcões de negócio, seja em Frankfurt ou Londres.
A tecnologia veio estimular a autopublicação. O que, em última análise, não é tão novidade. Autores, hoje aplaudidos, quebraram seus porquinhos de louça e sacaram de suas economias para financiar suas primeiras edições: Oswald de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, Ferreira Gullar, para citar alguns. Não sem antes amargar alguma conotação negativa no ato de bancar seus projetos. Pagar do próprio bolso implicava, então, expor o patinho feio, aquele que sobrou e ninguém quis. Agora já não é bem assim. Com os infinitos avanços tecnológicos e da indústria gráfica, podemos rodar 50 exemplares ou menos. É o que chamamos de print on demand. Novas alternativas se colocam no horizonte de um (jovem) autor: correr atrás e ter seus textos, suas poesias comercializados, por exemplo, na Amazon, que ancorou para embaralhar as cartas.
Gullar costumava contar que A luta corporal, de 1954, por ele editado e distribuído — um antigo entrave na cadeia editorial —, e que fez a cabeça de toda uma geração de escritores, só estava disponível na prateleira de “Artes marciais”. O livro, hoje, é considerado um marco na história da literatura brasileira, e o poeta não precisou desferir um só golpe mortal para manter acesa sua importância. Outros casos engraçados confirmam a precariedade daqueles tempos. Ao solicitar, de Antonio Callado, o romance Bar Don Juan, de 1971, o leitor era encaminhado para a seção de “Bebidas e afins”. E o que dizer do clássico Raízes do Brasil, de 1936, do professor Sérgio Buarque? O volume merecia destaque na área de “Botânica”. Ainda bem que isso mudou e que os livreiros estão antenados e afinados, ativos formadores de opinião nos pontos de venda. As livrarias também reformularam seus conceitos — templos de consumo e diversão, salões generosos, boa música ambiente e um cheiro forte de café —, exigindo dos vendedores atuação significativa. Nem vamos mencionar as vendas online, as compras efetuadas na ponta dos dedos. Fato é que todo mundo entendeu que quem fica parado é alvo fácil.
Também é preciso registrar que, se as editoras se modernizaram, o parque gráfico não ficou devendo, ao contrário. Tudo isso estimulou, por exemplo, a produção de uma literatura infantojuvenil de qualidade, com suas belas ilustrações, precisão técnica e reconhecimento de nossos autores aqui e no exterior. E prêmios, muitos prêmios, incluindo o prestigioso Hans Christian Andersen e o Alma.
Mas imagine comigo: publicar, naquela época, mil exemplares, acompanhando o acanhamento de nosso mercado, era uma temeridade. Como distribuir tantos volumes? Não por outro motivo o escritor Márcio de Souza, que foi editor por alguns anos, cunhou uma brincadeira: “É mais fácil se livrar de um cadáver que de mil exemplares”. Já não é bem assim, é verdade, com os incontáveis blogs, páginas, sites, posts e uma brigada de autores que trabalham e atuam, atraindo seguidores nas redes sociais e nelas circulando ideias, projetos, livros e produtos. Não se fica mais dormindo no sereno.
“É um jeito novo, modo de editar”, parodiando a ginga da canção. E, por falar nelas, há quem afirme que a poesia migrou das páginas impressas para as pautas musicais. Faz, até, algum sentido, com o talento de Caetano, Gil, Chico, Milton,Torquato Neto, Leminski, Waly e Cacaso, aquele que, certa vez, disse “Dentro de mim mora um anjo”. Poetas de todos os matizes — que, por sinal, nem se consideram poetas, mas músicos — eram os mais “lidos”. Não vale mencionar Vinicius, com sua lira sempre apontada para leitores e ouvintes.
Escritores, poetas, ensaístas, críticos, biógrafos, jornalistas, historiadores, letristas, uma turma criativa que liquidificou Larousse e Azulão, processou Pessoa e João Cabral, levando a uma geração inteira a cantar acompanhando as letras na contracapa do vinil. Uma via expressa de mão dupla. E me diga lá: quem faturou o Prêmio Nobel de Literatura de 2016? Um menestrel dos nossos dias, um compositor de baladas, sempre atento aos andamentos mundiais, que trocou seu nome de batismo — Bob Zimmerman por Bob Dylan, fazendo reverência com o chapéu da contestação ao grande poeta galês, Dylan Thomas (editei sua obra completa, em tradução competente de Ivan Junqueira). The answer my friend/is blowing in the wind. E o anúncio da Academia Sueca logo dividiu as opiniões. Foi! Não foi!, eternizou em versos, o genuinamente musical, Manuel Bandeira, na lista de meus poetas de cabeceira.
Esses acontecimentos em minhas retinas tão fatigadas, lembrando Drummond, nos faz refletir, certamente. Será que a literatura está perdendo sua relevância entre as artes? De certa maneira, podemos avaliar que os escritores já não são protagonistas num cenário tão visual, açodado pela informação rápida, mastigável e deletada, um culto esquisito ao efêmero. A força das imagens vai estendendo seus limites. A pressão diária por tudo que está nas redes e nas muitas formas de divulgação nos indica que, em algum momento, a literatura — como sabemos até agora, pelo menos — poderá ser “marginalizada”? Apesar da cultura do descarte e do passageiro, de uma geração que tem dificuldades em conectar o passado ao futuro, vamos edificando uma nova cidade das letras, com seus gêneros dissolvendo as barreiras. Vejam os festivais literários, as festas, as bienais, as feiras de livros, programas de TV. É tanta solicitação, que um escritor bem-humorado saiu-se com a blague: “Se eu for aceitar todos os convites que recebo, deixo de ser escritor por pura falta de tempo e concentração”. Mas tem um lado esperançoso em tudo isso — o leitor quer chegar mais perto de seu autor preferido, saber de seus planos, ouvir de sua própria voz a leitura de seus textos mais recentes, guardar para sempre uma dedicatória no exemplar.
Cursos para formação de profissionais se espalham de Norte a Sul, oficinas para aspirantes a escritores se multiplicam, prêmios incentivam, pequenas editoras teimam em publicar, num ato corajoso. Tudo é muito promissor e sublinha o interesse pelas duas profissões, tão entrelaçadas. Assim como os lançamentos de livros sobre livros, sobre editores e suas trajetórias, ontem e hoje, só faz crescer. Ainda que “samba não se aprenda no colégio”, o estudo e o convívio só têm a acrescentar. É o início de um longo caminho que, repito, não pode prescindir da sorte. E do aprendizado.
Mas o que se sabe mesmo, sem a sombra sobrevoando os pensamentos, é que “o único lugar em que a palavra sucesso vem antes do trabalho é no dicionário”. Isso mesmo, a surrada máxima: 99% de transpiração e 1% de inspiração! É esse desafio que tira o escritor da inércia, logo ao levantar, e faz vibrar a vocação de nossos editores, sempre atentos na preservação da memória, alguns, como eu, e outros, na renovação necessária. O que não é pouco.
Num país com tantos problemas sociais, econômicos, políticos e, mais ainda, com a triste estatística de milhões de analfabetos, é duro computar tanta desigualdade, que nos faz baixar os olhos de vergonha. “Salvar o Brasil” não é o papel de uma casa editorial — uma empresa comercial, um negócio que vem lutando para manter as portas abertas e as contas no azul —, mas é seu dever pontuar o campo cultural com promessas. É delas que vive um editor: das apostas, dos riscos, da conquista de novos e assíduos leitores. Da preservação da memória.
Um trevo de quatro folhas não se encontra todos os dias, o que faz o jogo ainda mais sedutor e competitivo.
Fotos do arquivo pessoal de Maria Amélia Mello: com Campos de Carvalho e Ferreira Gullar.
O dono da editora era o responsável pela seleção e edição dos projetos, numa identificação clara com suas posições políticas e visão de mundo. Não eram momentos fáceis, a classe artística peitava a censura, insubordinava-se. O cenário começou a mudar em meados dos anos 80. Pode-se dizer que esta rotina veio com os jornalistas deixando para trás as redações e assumindo posições de destaque nas editoras. Eles trouxeram, ainda, algumas características tão comuns ao desempenho do repórter: agilidade, senso de oportunidade, networking, uma agenda de contatos. E prazos. São fatos que, acredito, fizeram bem ao mercado editorial, o início da profissionalização, do amadurecimento. As décadas seguintes comprovaram os benefícios desse intercâmbio. Atualmente, temos uma indústria vigorosa e combatente que, longe de desanimar face aos imensos obstáculos, segue firme.
Em 1985, recebi um convite para trabalhar na José Olympio, casa tradicional onde fiquei por 30 anos, até dezembro de 2014. Se meu interesse natural era a memória e sua preservação, participar da história daquela casa só fez intensificar minha vontade de reconstruir aquele patrimônio nacional. Neste sentido, minha vocação começou a aflorar e acabei por tomar gosto.
Foi assim que passei a cuidar dos grandes clássicos nacionais, em primeiro lugar. E, já sob a gestão do Grupo Record, que comprara a José Olympio no final de 2001, tomei para mim a tarefa de refazer um catálogo histórico. Tive a alegria de atrair e conquistar os principais escritores: Rachel de Queiroz, Ariano Suassuna, José Cândido de Carvalho, Aníbal Machado, Marques Rebelo, Antonio Callado, Mário Palmério, Augusto Meyer, Raul Bopp, Cassiano Ricardo, José Américo de Almeida, Francisco de Assis Barbosa, Bernardo Élis, Campos de Carvalho, entre muitos outros. E de ser a editora de José Lins do Rego e Ferreira Gullar. Tudo deu tão certo que, em 2006, recebi o prêmio “Faz Diferença”, do jornal O Globo: “(...) a editora mostrou que era possível renovar uma marca de qualidade sem desprezar a tradição, a memória (...) através de iniciativas que fizeram do passado uma das grandes novidades”.
Com a experiência adquirida, fui me especializando em reeditar, em reapresentar as obras mais emblemáticas de nossa literatura para as novas gerações. É o que faço ainda hoje na Autêntica. Recuperar escritores esquecidos, como Maura Lopes Cançado, ou lançar as crônicas inéditas, em livro, do incomparável Rubem Braga. Este garimpo foi se tornando uma maneira de editar, de “revelar” nomes que ficaram esquecidos nos sebos e nas estantes das bibliotecas. O que posso mais dizer? Um privilégio. Não só pela oportunidade única de editar a nata da nata, mas de conviver na intimidade com estas personalidades.
Para que se possa ter uma noção: mandava de volta às livrarias, em edições caprichadas, com novo projeto gráfico, textos complementares, prefácios e estudos críticos de obras como Poema sujo, O Quinze, Memorial de Maria Moura, Menino de engenho, Fogo morto, A pedra do reino, Quarup, A bagaceira, A morte da porta-estandarte, Vila dos confins, A lua vem da Ásia, O melhor de Stanislaw Ponte Preta, Cobra Norato, O tronco, Martim Cererê e muitas outras. Fomos criando um fundo de catálogo, reativando o selo emblemático “José Olympio”, tão especial e identificado com seu criador.
Tenho a honra de ter sido amiga de Rachel de Queiroz, de Ferreira Gullar, de Ariano Suassuna, de Campos de Carvalho, de Raul Bopp. Com eles convivi, compartilhei bons momentos da vida, da arte e do trabalho. Dividimos ideias, sonhamos projetos. Aprendi muito. Da possibilidade rara de aproximar vida e obra, de me dedicar integralmente ao projeto que sempre me atraíra: trabalhar com a memória. Sem falar que conheci de perto dois grandes ícones da edição nacional: Ênio Silveira e José Olympio. É de dar orgulho, convenhamos.
Por isso, sou uma editora que busca na nossa história literária, no tecido de nossa tradição, o que de melhor se publicou. Que sai em campo para redescobrir as pedras preciosas, que se empenha para trazê-las de volta à cena, com todo o frescor que os clássicos inspiram. Deve ser por isso que eles brilham e não envelhecem. Passaram pela sabatina das livrarias, do tempo, dos modismos, da opinião dos críticos e, acima de tudo, ainda falam e dialogam muito com leitores contemporâneos.
Maria Amélia Mello é editora de livros. Atuou durante 30 anos na José Olympio, onde editou obras de Rachel de Queiroz, Campos de Carvalho, Ariano Suassuna e Ferreira Gullar, entre muitos outros. Atualmente trabalha na Autêntica.