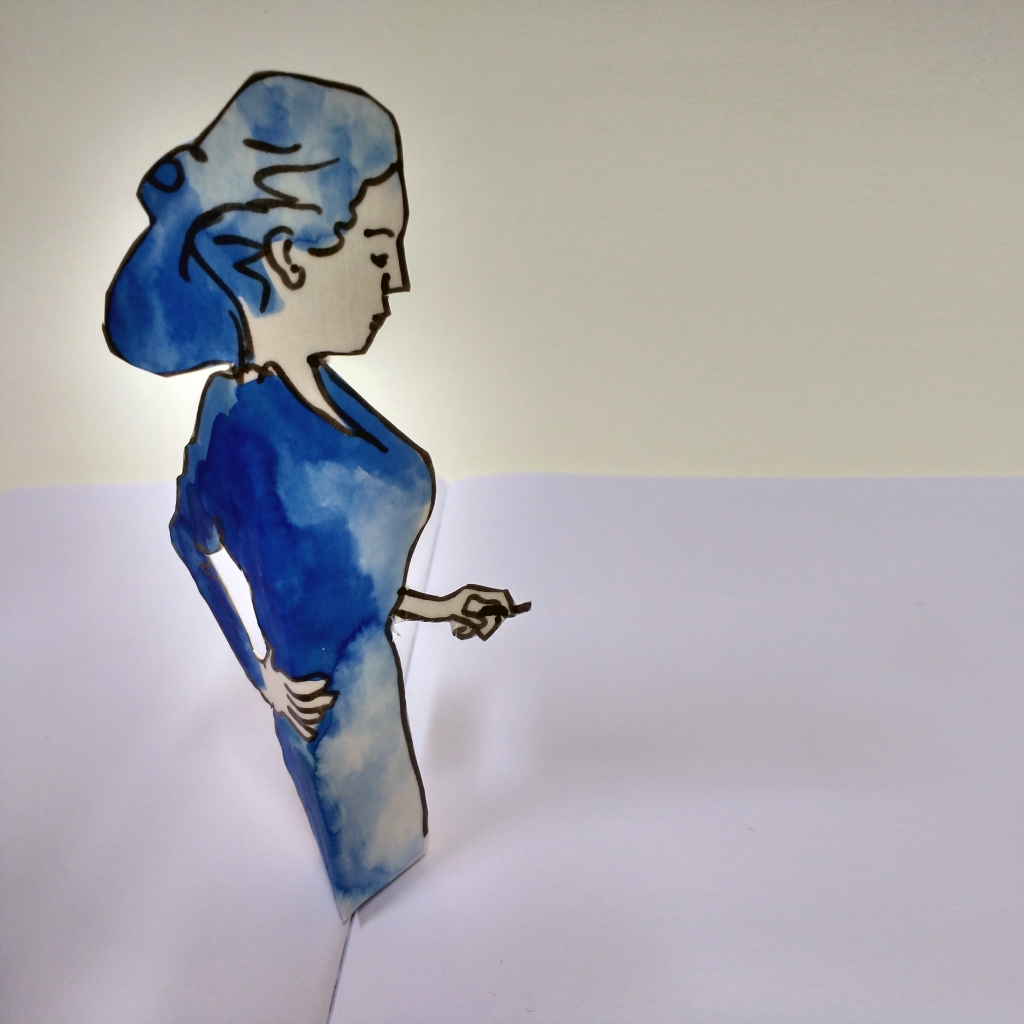Um Cyro antigo 18/09/2017 - 08:00
Publicado há 80 anos, O amanuense Belmiro imediatamente colocou Cyro dos Anjos entre os “grandes” da literatura brasileira. Mas o romance ainda tem força para impressionar o leitor de hoje?
Luís Augusto Fischer
Contemporâneos avaliam mal as coisas de seu próprio tempo, o senhor e eu sabemos disso há séculos; o horizonte sendo o mesmo, fato e relato resultam acanhados ou magnificados um em relação ao outro, distorcidos de algum modo, mal-avaliados sempre.
Se isso é assim no plano dos comentários e estudos, o que poderemos dizer do plano da narrativa de ficção? Um conto ou um romance que se disponham a incorporar as tensões do presente sofrem essa dificuldade em grau superior — imagine aí uma narrativa publicada agora, meados de 2017, que ponha em cena um personagem envolvido no golpe midiático-parlamentar que derrubou o ultraconfuso governo Dilma, um ano atrás, e avalie que condições teria ele de entender o que se passava ali, no calor da hora, num presente frenético como o que temos vivido, para mal de nossos muitos pecados.
Não é por acaso que na tradição clássica se fala no mandamento épico do distanciamento histórico: um Homero que se preze precisa estar afastado do tumulto, com anos de distância, para poder avaliar em conjunto o fenômeno, de modo a perceber os tamanhos relativos de pessoas e fatos.
Mas — o senhor poderá lembrar — o romance não precisa sempre ter a ver com isso. Muitas vezes ele molha os pés na mesma água em que se banham os heróis reais. E em não poucas oportunidades o fato de o romance ousar falar de seu presente tumultuado resultou em boa coisa, justamente porque, tendo qualidade estrutural, bons personagens, trama de fôlego, linguagem acertada, ele ajuda a fixar aquele presente para todos os futuros potenciais: dali a uma, duas, 10, 20 gerações, ali está o registro de como foi percebido o mundo naquele horizonte.
Se o prezado leitor não chegou a preencher esse esquema abstrato aí das linhas acima com algum título, convido-o a considerar O amanuense Belmiro. Cyro dos Anjos o publicou em 1937, como o primeiro de modestos três romances, a totalidade de sua obra ficcional (tem mais dois volumes de memória, um de poesia e outro de ensaio: fim das contas). Revisto algumas vezes ao largo de vários reedições, permanece básico e inafastável que o romance carrega duas marcas de adesão ao presente: uma, o fato de repassar eventos conexos à chamada Intentona Comunista, episódio de novembro de 1935 envolvido numa forte e ampla campanha de oposição a Vargas, naquele momento se preparando para dar o golpe do Estado Novo; outra, a forma narrativa, espécie de diário, que o narrador, Belmiro Borba, desfia entre o Natal de 1934 e março de 1936.
Pensando em tese, é perfeitamente plausível um diário, do lado de cá da ficção, quer dizer, na vida dita real, ser ao mesmo tempo fiel ao presente e incapaz de dar notícia das coisas que no futuro serão vistas como relevantes. Um diário, no fim das contas, só presta contas ao autor, que vai registrando, ao sabor dos dias e ao clima do momento, eventos ligados à sua sensibilidade, para leitura hipotética dele mesmo, autor, em algum ponto do futuro.
Ou não?
Pode ser que não. O autor de um diário real pode bem desejar que suas notas estritamente pessoais sejam flagradas por outrem, por um bisbilhoteiro, por uma testemunha. Exemplo notório, em nosso tempo: Fernando Henrique Cardoso está publicando seus diários da presidência. Não li, tenho zero interesse agora, entre outros motivos porque seu autor, experimentado acadêmico, sabia que estava ali posando para a eternidade. É certíssimo que ao ditar suas atividades a cada dia, para um gravador de onde saíram para as páginas do livro, com mediação de filtros que nem posso imaginar, FHC estivesse o tempo todo pensando no leitor, cá no futuro e depois. Não entregou nada comprometedor, nada do submundo que precisou (escolheu) frequentar.
Para lembrar outro caso, que readquiriu força em nossos dias, consideremos Quarto de despejo, de Carolina Maria de Jesus, publicado em 1960, sempre com o mesmo subtítulo, Diário de uma favelada. Está lá para quem quiser ler o depoimento cru, matizado por sonhos de ascensão social e vazado em linguagem ríspida, de uma pobre brasileira, uma entre os milhões de mulheres e homens a quem nosso país nunca reconheceu humanidade plena.
Era diário, desabafo verdadeiro, acompanhando os movimentos erráticos da vida numa favela paulistana nos anos 1950, até que foi editado em livro por um jornalista com as melhores intenções, Audálio Dantas, que foi leitor daquilo que, até ali, não passava de mera conversa no espelho, mas que então passou a ter milhões de leitores, em várias línguas e gerações. Carolina queria conversar com eles todos? Era com eles que conversava imaginariamente, ao escrever?
E há o caso de diários ficcionais — e está mais do que na hora de entrar no tema deste ensaio, o livro de Cyro dos Anjos. O amanuense Belmiro se estrutura como um fio de anotações ao longo dos dias, sem regularidade total, mas nada que fira o decoro de um diário. São 94 entradas, para um percurso que terá tido uns 400 dias, média de uma a cada meia semana, digamos.
O autor hesita em como considerar o texto. No cap. 4, diz: “aqui estou calmo a escrever estas linhas, em que vai toda a história de mais um Natal que passa. É plano antigo o de organizar apontamentos para umas memórias que não sei se publicarei algum dia”. E explica, a seguir: “Sim, vago leitor, sinto-me grávido, ao cabo, não de nove meses, mas de trinta e oito anos”.
Essa enviesada apresentação, ao lado dos dados objetivos, evoca no leitor brasileiro algumas lembranças. Pois não é que há uma impressionante coleção de narrativas ficcionais em primeira pessoa a simular o texto de diário, de memórias, de depoimento direto?
Confira comigo no replay: Memórias de um sargento de milícias, que não é memória mas assim se chama; Memórias póstumas de Brás Cubas; O Ateneu; Dom Casmurro; Recordações do escrivão Isaías Caminha; Memórias sentimentais de João Miramar; Graciliano Ramos tem lá duas memórias não-ficcionais, mas publicou um depoimento em primeira pessoa no qual faz o arrivista Paulo Honório contar sua trajetória, em São Bernardo; e depois temos aquele enigmático e magnífico Grande sertão: veredas, assim como parte substantiva das narrativas ficcionais de Clarice Lispector. E Raduan Nassar, e os que vieram nas duas últimas gerações.
É pouco?
Não: é muito, e é, sem favor, a melhor fatia do romance brasileiro de todos os tempos!
A história de Belmiro, por esse lado, está em companhia auspiciosa. Também ele, por provável intuição de seu autor, figura entre os significativos memorialistas dessa linhagem, cada um convocando a força do testemunho, em primeira pessoa, para contar alguma história relevante. Se não fosse assim, a história de Brás Cubas e a de Bento Santiago, por exemplo, simplesmente não aconteceriam, porque não havia como as coisas se alinharem na voz de um narrador de terceira pessoa, com o distanciamento que ela supõe e requer.
A conversa teórica é complexa, mas pode ser sumarizada assim: na história do romance moderno, desde o século XVIII, a narrativa em terceira pessoa não é a forma inicial do romance, em qualquer língua: pelo contrário, a primeira é a pessoa adequada para contar o que é preciso contar, seja no Robinson Crusoe ou na Moll Flanders, seja nos romances epistolares, seja no Werther.
Hipótese: como forma nova, a inaugurar toda uma ética de relacionamento entre o leitor, agora urbano, e o mundo circundante, idem, o romance requereu a força do depoimento, do testemunho, para se impor. Com o passar das gerações, a voz narrativa caminhou para uma posição diversa, em terceira pessoa, cada vez mais impessoal, como se lê na trajetória do século XIX francês, de Balzac a Zola, passando por Stendhal e Flaubert.
Essa voz soberana, panorâmica, capaz de avaliações de maior serenidade espiritual e profundidade de campo, depende dessa história anterior, quer dizer, depende da ultrapassagem da necessidade de um testemunho pessoal em direção a uma visão distanciada, calcada em valores compartilhados e caucionados socialmente. Depende da existência de opinião pública, de imprensa, de instituições confiáveis, de consensos básicos da vida burguesa. Só nesse cenário é que o narrador de terceira pessoa floresce.
Isso na Europa, porque cá na América... Bem, para não estender demais o parêntese, eis aí a impressionante linhagem das memórias no romance brasileiro. Não parece ter havido, no Brasil, desde sempre até talvez ontem mesmo, com Rubem Fonseca talvez, ou na geração anterior, em genial intuição de Erico Verissimo, as condições básicas desse consenso que dá fôlego à narrativa de terceira pessoa.
Pouco tutano
Quando Cyro publica seu romance, é imediatamente tido como um dos grandes. Não falta quem o compare ao Machado de Assis maduro — Belmiro seria um novo Aires, cético, travado, capaz de observações agudas, acima de tudo um contemporizador.
Um dos gostos da prosa de Cyro deriva desse parentesco, especialmente num momento em que Belmiro vai ao Rio de Janeiro, a capital dos sonhos de todo provinciano — como aquele íntimo amigo do autor chamado Carlos Drummond de Andrade, que lá já vivia. Belmiro passeia pela cidade, evitando as coisas mais modernas para, de propósito, encontrar o Rio antigo — e de fato reencontra na paisagem carioca velhos conhecidos como Sofia e Rubião, Capitu e Escobar, até mesmo aquele Dom Casmurro passando amuado no bonde.
Certo. Mas a força de comparação claudica porque em O amanuense Belmiro não temos — nós, os leitores de Machado depois da grande virada interpretativa dos anos 1970, com Helen Caldwell, Roberto Schwarz, John Gledson — nada daquele tutano histórico profundo, que faz a superfície do negaceio ser apenas isso mesmo, uma simples etapa inicial da leitura, em direção aos abismos não apenas da suposta traição de Capitu, mas mais ainda aos do mando patriarcal disfarçado em bonomia e erudição de Bentinho.
Belmiro representa algo assim, comparável?
Oriundo de família fazendeira, suas lembranças se cingem porém ao mundo da pequena cidade de onde veio, não ao mundo rural, como aliás muito precisamente observa seu mais atual crítico, entre os de primeiro time, Luís Bueno, no imperdível ensaio que compõe o grande estudo Uma história do romance de 30 (SP: Edusp, 2006). Aquela Vila Caraíbas de sua origem retorna à lembrança mais do que o mundo fazendeiro, onde pontificavam os Borbas que Belmiro reconhece como ao mesmo tempo dignos e inalcançáveis.
O correr da vida se dá na jovem Belo Horizonte do tempo, onde o autor de fato vivia e onde circulam suas personagens, assumidamente calcados em gente real, como aliás o autor reconhece em cartas ao amigo Drummond, em Cyro e Drummond: correspondência de Cyro dos Anjos e Carlos Drummond de Andrade (SP: Globo, 2012). É naquele ambiente que ocorre o episódio de 35, quando um dos escassos amigos de Belmiro é preso, por envolvimento político no caso, enquanto outro vive sua vida de professor universitário intranscendente e irrelevante, enquanto traça sucessivas moçoilas.
De qual seiva histórica se alimenta, então, o memorialista/diarista, que no presente vive como um irrelevante amanuense (burocrata estável, mas sem importância), num círculo de amigos disperso, sem perspectiva de sair do lugar, nem afetiva, nem intelectual, nem politicamente? Há pouco tutano aqui. Seu cotidiano é o oscilar entre os ditos amigos, as constrições da repartição, um fugidio mas significativo delírio de amor impossível e suas duas irmãs velhas, ponte para seu passado — mas que ponte!
“Pobres manas. Emília é apenas uma esquisita, mas Francisquinha, perturbada de nascença, vai de mal a pior. (...). Quando o Borba morreu (a velha Maia partiu bem antes) e a fazenda foi à praça, recebi-as como herança”. Saiba o leitor que “o Borba” é pai do narrador, e “a velha Maia” vem a ser sua mãe... Eis o limite dos laços de afeto, que na cidade moderna e grande, embora provinciana, se dissolvem em nada.
Na releitura feita agora, o romance me pareceu muito menos interessante do que uns 30 anos atrás. Mudei eu? Certo que sim. Mas mudou também o livro, pressionado agora por outras forças. Chama a atenção que um leitor costumeiramente econômico em elogios, tanto quando certeiro em seus diagnósticos, como é o caso de Antonio Candido, tenha atribuído ao romance de Belmiro um valor superior, excelso mesmo.
Em certa altura (o texto é de 1945, do livro Brigada ligeira), Candido perde a mão: “Falou-se muito em Machado de Assis a propósito de Cyro dos Anjos, insistindo-se sobre o que há de semelhante no estilo e no humorismo de ambos. O que não se falou, porém, foi da diferença radical que existe entre eles: enquanto Machado de Assis tinha uma visão que se poderia chamar dramática, no sentido próprio, da vida, Cyro dos Anjos possui, além dessa, e dando-lhe um cunho muito especial, um maravilhoso sentido poético das coisas e dos homens”.
Exagero de contemporâneo e de semiconterrâneo (Candido se criou em Minas)? Pode ser. O certo é que para o crítico a história de Belmiro “leva a pensar no destino do intelectual na sociedade”. Como? Difícil entender, mais ainda justificar, vendo as coisas desde nosso presente — não porque o intelectual tenha posição política mais nítida (embora haja toda uma profissionalização da tarefa intelectual hoje, impossível para a geração de Cyro, que no entanto, como Erico, Vianna Moog e outros, teve cargos diplomáticos por boas relações políticas), mas certamente porque Belmiro, com sua obsessiva imobilidade, que é “a forma negativa da conciliação”, como diz Roberto Schwarz em outro grande ensaio sobre o livro (em O pai de família e outros estudos, Rio: Paz & Terra, 1978), e sua resignada escolha pelas hesitações, os meios-tons, a sombra da vida, porque Belmiro, repito, não comove o leitor atual.
Candido chega a dizer que fez a releitura “pela quinta ou sexta vez”, pelo “deleitoso consolo” proporcionado pelo romance, e talvez aqui haja uma proveitosa ponta de novelo para encerrar o passeio do presente ensaio. Sem ter força realista no sentido do painel histórico, sem dispor daquela tensão narrativa nascida de enredo consistente e/ou de personagens envolventes, e igualmente sem trazer à cena uma trama realmente potente, por mais subterrânea que fosse, O amanuense Belmiro tem de fato uma prosa interessante, que vai mesclando as coisas de modo inteligente, aqui uma evocação, ali um comentário, adiante uma frase de efeito, adiante um poema moderníssimo (de Drummond) citado com a intimidade que os escritores tinham, mais além um trecho de Montaigne (citado em francês antigo!).
Belmiro é de fato esse intelectual em crise que Candido viu; por outro lado, poderia figurar entre aqueles “pobres-diabos” que José Paulo Paes, em ensaio clássico (edição mais recente em Armazém literário, SP: Cia. das Letras, 2008), flagrou em dois personagens de romances contemporâneos justíssimos de Cyro — o Naziazeno de Os ratos (1935) e o Luís da Silva de Angústia (1936).
A escolha da dicção de Belmiro, de todo modo, parece ter sido claramente deliberada. Naquela correspondência, Drummond lá pelas tantas exorta o amigo a levar adiante o projeto de romance, em carta de 4 de agosto de 36: “É da maior necessidade que você o conclua e publique, contribuindo para que se retifique o conceito atual do romance entre nós. A mim não me satisfaz nem a transcrição imediata e anticrítica de aspectos de uma vida regional, como fazem os rapazes do Norte, nem essa literatura ‘restaurada em Cristo’ com que nos aporrinham os pequeninos gênios marca Lúcio Cardoso”.
Ao enviar o texto finalizado (mas ainda não impresso) ao amigo, Cyro encaminha uma carta que não esquece de demarcar contra o quê está escrevendo. Especula com Drummond sobre quem será o leitor da editora José Olympio, e espera ter a sorte de ser Prudêncio de Morais Neto, e não um certo escritor baiano: “Tenho medo de cair nas garras do nortista Jorge Amado ou de outro qualquer troca-tintas”. Não custa lembrar que o adjetivo se aplicava a maus pintores, categoria em que os dois mineiros coincidiam em localizar Amado.
Tramada sobre matéria tão frágil quanto a desse Belmiro que encantou bons leitores, mas agora nos deixa quase indiferentes, a escrita elegante e alusiva não será suficiente para manter viva a leitura de sua história. Belmiro, como o amanuense, envelheceu mal.
Luís Augusto Fischer é professor de literatura na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e autor de, entre outros livros, Machado e Borges: e outros ensaios sobre Machado de Assis e Literatura Brasileira — modos de usar.