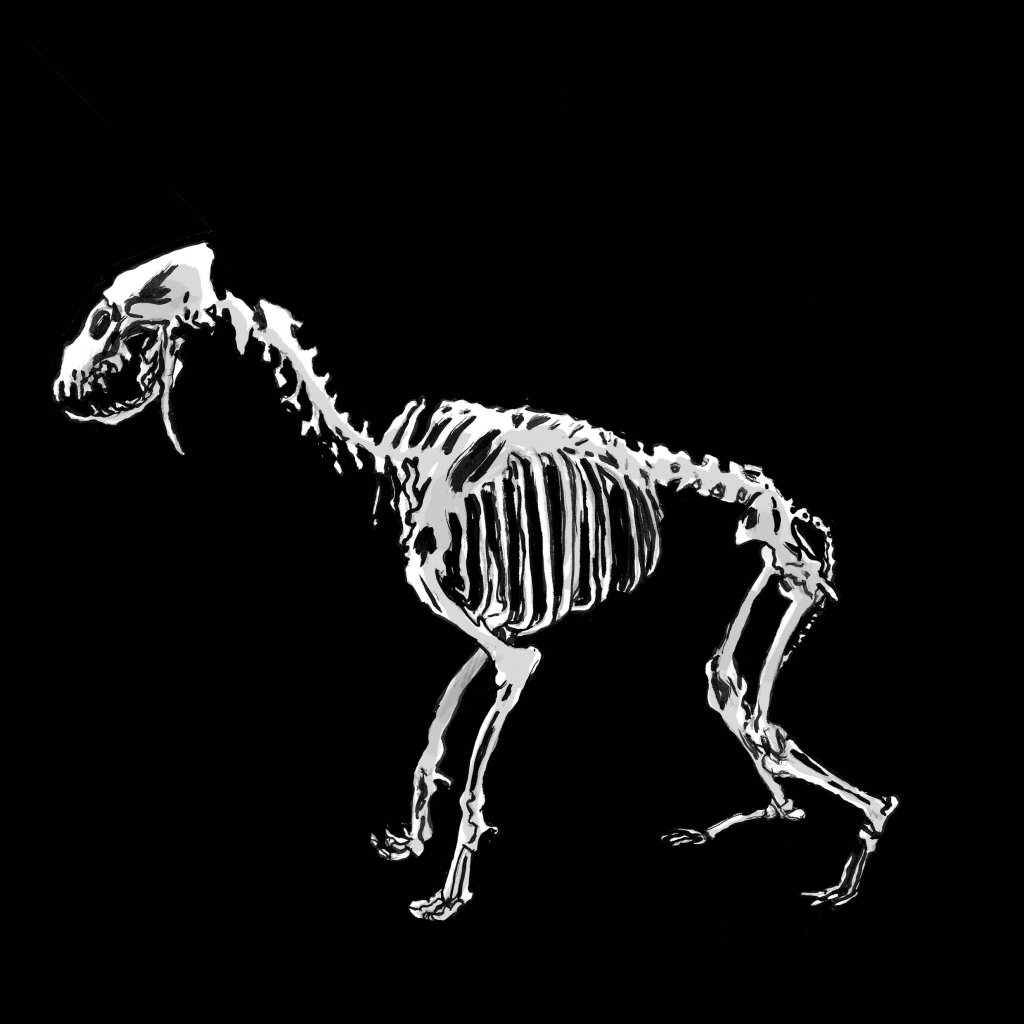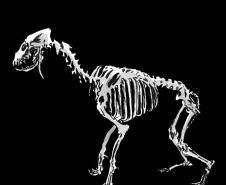Piada em debate 18/09/2017 - 12:00
Um dos elementos centrais da cultura contemporânea, o humor levanta discussões sobre seus caminhos e limites. Ou seja: está finalmente sendo levado a sério
Fernando Ceylão
O humor é o novo rock. E não é de agora. Há tempos. E isso não é uma citação de letra do Renato Russo. É mesmo uma localização temporal. Até porque um líder de banda de rock, mesmo com ares messiânicos, não pesa mais tanto no imaginário e na formação da juventude. O adolescente, hoje, não quer mais ganhar uma guitarra e aprender três acordes para harmonizar com sua vontade de expressão.
Ele quer acoplar uma câmera ao monitor e ser o novo Whindersson Nunes, sensação do YouTube no Brasil. A motivação essencial do movimento punk, base de grande parte do rock nacional oitentista, continua. Porém, o “faça você mesmo” migrou para o audiovisual, e a energia vocal dessa geração recebe o nome de vlog, essa espécie de filho mais rebelde da stand up comedy.
No final do documentário Hearts of darkness, espécie de making of de Apocalypse now, realizado por Eleanor, mulher de Francis Ford Coppola, o diretor fala para a (gigantesca, caríssima e inacessível) câmera: “O cinema só será uma espécie de arte quando uma dona de casa puder fazer o seu próprio filme”. Chegamos à essa era. E as donas de casa são os milhares de jovens que satirizam suas vidas diante de câmeras de baixo custo e alta resolução.
A tecnologia permitiu que se concretizassem as profecias não só de Coppola, mas também de Andy Warhol e, claro, George Orwell. Hoje, somos todos documentaristas de nós mesmos; fotógrafos, articulistas, personagens de reality shows e humoristas. E no centro da celebração narcísica que se tornou o mundo (e, sobretudo, a internet) o humor brada mais alto em meio à catarse de opiniões e posicionamentos.
O humor é aquele sujeito que resolveu se levantar no meio da reunião e aparecer mais que os outros. E agora ele está em discussão. Quais são os seus limites e caminhos? Ocupar a ponta da mesa e assumir a liderança, sair da sala e bater a porta ou sentar-se novamente e deixar outra arte assumir a voz de uma geração?
Muitos humoristas reclamam da censura do politicamente correto, mas, acredite: isso não é censura. É apenas um sinal de que, finalmente, o humor está sendo levado a sério (sem contradições ou trocadilhos) e tomando dimensões mais densas. E isso é bom. Ou melhor: o que vai resultar disso é bom.
Chico Anysio dizia que só existem dois tipos de humor: o engraçado e o sem graça. Claro que era uma frase de efeito. Prima de “o sujeito que é casado há 20 anos com dona Maria não entende de casamento, entende de dona Maria. Quem entende de casamento sou eu, que fui casado oito vezes”. Frases de efeito. Mas, com pedido de perdão àquele que muitos chamam de mestre, acho a definição “preguiçosa”. Existem vários tipos de humor.
O humor não é, necessariamente, para fazer rir. Às vezes, é só uma visão de mundo. Hitchcock tem humor. Noel Rosa idem.
Ironia no lugar da crítica
O estudioso alemão André Jolles escreveu em um ensaio, na virada do século XIX, que não existe época ou lugar em que o chiste não seja encontrado — seja na existência e na consciência, na vida e na literatura. Por coincidência, justamente naquele momento o chiste estava começando a ganhar mais espaço na vida brasileira.
Tanto a campanha abolicionista quanto a republicana ganharam força a partir das charges (uma das formas mais essenciais do humor) publicadas na imprensa. Mas o humor, ainda muito voltado para a elite cultural do país, não era compreendido por todos. Apenas uma pequena parcela estava apta a entender a linguagem invertida da ironia.
A sociedade brasileira da Belle Époque não era intima da linguagem caótica do deboche, preferindo outros gêneros e deixando o humor confinado ao underground. A saída era extravasar no vaudeville, estilo de teatro
consumido basicamente por plateias masculinas.
Na Semana de Arte Moderna de 1922, o humor começou a ganhar mais força. A ironia tomou o lugar da crítica. Os poetas quebraram padrões, apropriando-se do sarcasmo, modificando a ideia de civilidade europeia que se impunha no Brasil e trazendo leveza para a linguagem poética.
Vale abrir um parênteses para apontar a grande semelhança existente entre a poesia e o humor. A linha que separa os gêneros talvez seja apenas a da escolha pessoal do artista que produz a obra. Pois o ponto de partida é muito parecido: ambos procuram destacar o óbvio ainda não percebido, buscam entregar para o público a sensação de conforto causado pela identificação. Tanto o humor quando a poesia operam na compreensão do que não foi totalmente absorvido pelo público, do que era apenas uma sensação e passa a ser uma visão concreta.
Na era Vargas, a leveza humorista da Semana de Arte Moderna acabou sendo levada para o rádio. A Rádio Nacional, primeira emissora estatal do Brasil, foi pioneira no segmento. Surgiram programas de auditório como o Balança mas não cai, que tocava em questões sociais com quadros como “Primo rico, primo pobre”. Ali começou a construção do tipo mais enraizado de humor brasileiro, com quadros, personagens fixos e bordões.
Por mais que, de tempos em tempos, surjam esporádicas tentativas de modernizar ou revolucionar a comédia feita no Brasil, essas tentativas voltam à raiz. O grupo Casseta & Planeta, por exemplo, deu uma volta revolucionária e acabou desembocando em tipos como “Massaranduba” e “Coisinha de Jesus”, mais próximos do gosto popular. Mesmo programas mais cáusticos, como Hermes e Renato, utilizam bordões e personagens fixos como o “Joselito”.
A jornada do humor ao star system, iniciada no rádio, chegou às telas com as chanchadas, que marcaram um dos períodos mais produtivos do cinema brasileiro. Capitaneadas por artistas do rádio, como Ivon Curi, e grandes estrelas do porte de Carmen Miranda, Dercy Gonçalves, Oscarito e Grande Otelo, esses filmes faziam uso de uma linguagem simples, às vezes simplória, para abordar questões cotidianas.
Por mais possante que fosse, a chanchada não resistiu ao surgimento do Cinema Novo e, sobretudo, à chegada da televisão no Brasil. Logo o veículo roubou diretores chanchadeiros (como Carlos Manga) e ocultou os astros que não migraram para ele. Ainda sem o espaço que viria a ter na tevê, o humor escoou para o underground novamente. Dessa vez, para produções impressas.
Durante a ditadura, o humor sobreviveu no papel. Principalmente no jornal O Pasquim, em que se destacaram nomes como Ziraldo, Millôr Fernandes e Paulo Francis. Décadas depois, O Planeta Diário, filho do Pasquim, deu voz a quem tinha necessidade de expressão e falta de espaço. Ao se juntar com a revista Casseta Popular, formando o grupo Casseta & Planeta, fez uma pequena revolução. Essa geração explodiria nacionalmente ao chegar à televisão, via TV Pirata.
No final da década de 1990, começa a surgir a comédia stand up no Brasil. O show solo, ou one man show, é tradição por aqui desde que José Vasconcellos inaugurou o estilo, ainda nos anos 1950. Jô Soares, Chico Anysio, Agildo Ribeiro, Sérgio Rabello e Ary Toledo vieram depois e aprimoraram o formato — marcado, na época, pela contação de “causos” e anedotas e por números musicais. Os artistas contemporâneos, no entanto, inspiram-se nos dogmas norte-americanos da stand up comedy e colocam seu foco no humor de observação.
Após ceder comediantes para programas de tevê como o CQC, o humor de stand up virou febre entre os jovens brasileiros. E foi nesse momento que o YouTube deu voz a toda uma geração que quer ser o Danilo Gentili, tal qual as gerações anteriores queriam ser o Renato Russo.
Há limites?
Com o YouTube, há uma volta às características essenciais do humor brasileiro underground: caos, desordem, quebras de padrão e, sobretudo, independência. Enquanto isso, a comédia stand up começa a enfraquecer nos palcos, em um circuito de shows cada vez menor. Surge então a figura do vlogger, ou youtuber: o sujeito que fala para a câmera (quase sempre com uma linguagem estética extremamente amadora) de forma despojada, divertida, contundente... Enfim, de forma humorística.
O YouTube caminha rapidamente para ser tão mainstream quanto a televisão aberta, sempre preocupada com anunciantes e uma “linguagem para toda a família”. Mas, por ora, a liberdade ainda dá o tom dos vídeos na internet. Uma liberdade que trouxe de volta uma questão quase surrada, porém ainda sem conclusão: o humor tem limites?
Não. Nem deve ter. Porém, o que é humor tem. Existe a piada agressiva e existe a agressão. O comediante norte-americano Chris Rock tem uma bela e sucinta posição sobre o tema: “Não faço piada sobre o que as pessoas são, mas sim sobre o que as pessoas fazem”. A natureza de cada sujeito não é criticável. Os atos são.
No filme Quem vai ficar com Mary?, de 1998, há um excelente exemplo dessa tese. Em certo momento, um personagem cadeirante deixa cair um objeto no chão e não aceita que ajudem a pegá-lo. Ele tenta, tenta, tenta... Chegando a um contorcionismo cômico que aponta o ridículo da recusa de ser ajudado. Temas como deficiências e preconceitos sempre abrem um território arriscadíssimo para o humor. Mas, aqui, o que está no centro do comentário humorístico não é o fato de o sujeito ser cadeirante. Não se trata de bullying. O que está em foco é como o sujeito lida com o fato de outra pessoa oferecer ajuda e ele preferir mostrar que não precisa dela. O foco é o comportamento humano, e não a inexorável e imutável condição de usuário de cadeira de rodas.
Apontar uma raça é bullying. Mais que isso, é crime. Mas apontar a forma como o sujeito se relaciona com as circunstâncias de ser de determinada raça pode ser material para o humor. Há uma facilidade, quando se trata desse assunto, em repetir que “Nos Estados Unidos, negro fala de negro, judeu de judeu, etc.”. Os grandes humoristas, no entanto, jamais riem da compreensão essencial de pertencer a determinada raça. As piadas nunca são “O negro é”, mas sempre “O negro faz”.
Quando cavaleiros desfilavam vitoriosos no retorno de uma cruzada, o Império convocava sátiros, com função similar a dos bobos da corte, para marchar ao lado deles e gritar observações que humanizavam o heroísmo. Isso servia para que o então homenageado cavaleiro tivesse um mínimo de compreensão e revisão da realidade. Talvez seja essa uma boa definição do que é humor: a arte que evita que os fatos sejam absolutos. Ditadores proíbem o humor. E não é por outra razão.
Se, um dia, o tirano ditador cismar que todos os carros devem andar em marcha a ré, haverá o humorista pra apontar o risível da decisão. Sabemos que nada é pra sempre. Nenhuma regra, nenhuma decisão, nenhum sentimento. Quando esquecemos, há o humor para nos lembrar disso. Pertencer a uma raça, gênero ou nacionalidade são realidades absolutas, imutáveis. Logo, não deveriam ser objeto para piadas. Atitudes, posturas e opiniões, por sua vez, podem e devem mudar a todo novo pensamento; sendo foco contínuo para a anedota.
Os piadistas costumam condenar o “politicamente correto” como o vilão que impede a heroica piada de seguir seu rumo. Negar a possibilidade de existência do “politicamente correto” coloca o humor no lugar de quem ele deveria estar criticando: do absolutista. Afirmar que a existência do “politicamente correto” pode impedir o humorismo de seguir em frente, é proibir a democracia e o pensamento.
Se tudo que está no âmbito humano tem um limite, por que o humor não haveria de ter o seu? Não permitir que alguém tente teorizar algum tipo de limite para a comédia é dar ao gênero poderes de um ditador tirano. O humor pode tudo? Em nome da piada, tudo vale? Em outras e curtas palavras: se eu posso te sacanear, você pode se defender. Justo.
Fernando Ceylão é ator, diretor e roteirista. Escreveu e dirigiu diversas peças teatrais (como Namoradinha do Brasil, Você está aqui, Desesperados) e programas de televisão para o Canal Brasil (PDV, Gentalha, Amorais). No cinema, atuou no longa O homem do futuro (de Cláudio Torres) e roteirizou Sorria, você está sendo filmado (de Daniel Filho). É autor dos livros Cabeça de gordo e Melhor que o filme.