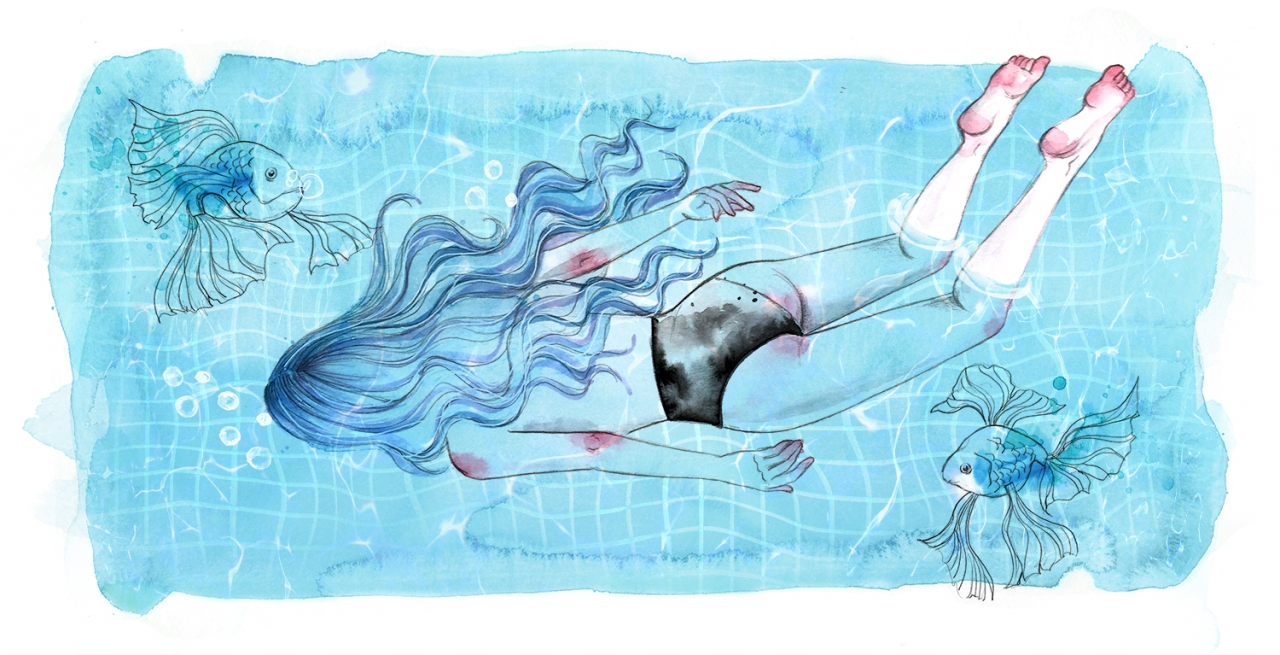Enquanto o resultado não vem 06/07/2018 - 15:00
Giovana Madalosso
Ilustrações: Camila Gray
Durante uma semana convivi com a possibilidade de ter um tumor no cérebro. Embora fosse apenas uma possibilidade, um tumor é um tumor, um cérebro é um cérebro e uma possibilidade é um monstro sanfonado na cabeça de uma pessoa pródiga a fantasias, tanto boas quanto ruins (a moeda unilateral não existe). Por sorte, o tumor não se confirmou. De qualquer forma, durante dias convivi com esse fantasma e acabei percebendo algumas coisas.
É maravilhoso tocar a ponta do nariz com o dedo. O primeiro exame que um neurologista faz para analisar a hipótese de tumor é um pequeno apanhado de testes práticos que verificam se todas as áreas do cérebro estão funcionando, se nenhuma delas está sendo comprimida e danificada por um corpo cancerígeno. Não estamos falando de tocar “O Bife” no piano, mas de coisas simples como tocar a ponta do nariz com o dedo. Simples? Foi só a médica cravar os olhos no meu indicador que percebi a complexidade do gesto, o GPS mental que trabalha para atingir, em meio a tantos outros destinos — ombros, queixo, bochechas, boca — esse pequeno entreposto de pele e cartilagem em meio ao vasto universo. Depois de uma longa viagem de um segundo, meu dedo atingiu seu destino. Agora por favor, Giovana, ande em linha reta. Siga a ponta desse lápis com os olhos. Seu esfíncter está funcionando? Mando a pergunta para ele, que me responde com um amigável aperto. Fico aliviada, penso em me oferecer para dar uma pirueta, mas minha cabeça segue com a dor atípica, meu ouvido segue zumbindo, e sou encaminhada para uma ressonância.
Que otimismo lindo. Comprou onde? Devo esperar uma semana pelo resultado. A dor e o zumbido aumentam. O Dr. Google vaticina: são sintomas de câncer. As pessoas a minha volta dizem que preciso ter otimismo, óbvio que não é nada grave, e eu me interesso por esse artefato exótico, de nome tão sonoro: otimismo, pergunto onde posso arranjar um, mas logo percebo que as pessoas vêm tecendo o seu há anos, que eu não devo ter feito o mesmo porque não devo ter habilidade para tal, e me conformo com as minhas mãos vazias.
Uma suspeita de doença grave também pode ser uma pesquisa de satisfação com a vida. Na lacuna do otimismo, entram perguntas. O que eu faria se tivesse poucos meses de vida? Largaria meu trabalho, aprenderia a surfar, me separaria do meu marido para embarcar numa vida de perversão? Com alívio, descubro que eu faria exatamente o que faço todos os dias, com as mesmas pessoas e do mesmo jeito, o que me faz pensar que venho fazendo escolhas certas e que deveríamos nos perguntar com frequência o que faríamos se tivéssemos apenas seis meses de vida.
Às vezes um novo par de sapatos é mais interessante do que uma viagem de volta ao mundo. E ainda trotando na possibilidade hipotética da morte iminente, penso em indulgências, no que eu faria com o meu dinheiro, pois, como dizem por aí, nada se leva dessa vida. E então lembro de dois filmes. Em um deles um doente terminal resolve dar uma volta ao mundo, despedir-se da vida viajando e, de repente, isso me parece absurdo, eu tendo uma conversa pueril com algum desconhecido num café em Havana quando a alma em queda não quer soltar-se, mas prender-se, grudar como parasita no amor vertido pelas relações cotidianas. O outro filme me parece mais lúcido. A doente terminal resolve presentear-se com um par de sapatos vermelhos, ousadia nunca antes cometida, para então sentar-se com eles no quintal de casa e ouvir seus discos preferidos batendo as solas novas na grama com os netos correndo ao redor.
Estamos todos vivos, na mesma hora e no mesmo lugar. Pela primeira vez me dou conta desse fato estupefante: neste exato momento, no planeta Terra, todos nós estamos vivendo juntos o mesmo instante, a mesma magia de não saber o que acontecerá no próximo segundo. Só isso não seria suficiente para olharmos para os outros com mais simpatia?
Não somos treinados para ser demitidos dessa estranha empresa chamada vida. Vi em algum lugar uma médica dizendo que os ateus lidam melhor com a morte, pois os não-ateus ficam até o último minuto de suas vidas negociando sua permanência com alguma instância superior. Mesmo assim, invejo os crentes. Talvez a ida constante ao guichê transcendental seja um pouco desgastante, mas pelo menos eles têm com quem falar.
Literatura também pode ser religião. E para onde corro quando não encontro Jesus? Para a minha estante, para o sujeito que para mim é um deus, Roberto Bolaño, e então me acalmo e me emociono com seus ensaios sobre doença escritos quando ele estava perto de falecer por insuficiência renal, e com ele descubro duas coisas curiosas: 1. doentes terminais têm vontade de fazer sexo. 2. é possível ver a vida com um certo humor até o limite dela.
É complicado pensar em uma música para enterro pois tudo soa exageradamente vivo. Ainda no delírio da morte hipotética, ouço rádio e penso em possíveis músicas, e percebo que sempre cantamos o amor, nunca a morte. Não há letra que se encaixe num ataúde e toda melodia soa patética perante o silêncio estrondoso da partida.
Uma mijada num banheiro imundo pode ser uma glória. Uma semana depois, pego o resultado do exame. Nada grave, apenas uma nevralgia occipital. É meio-dia, sol a pino no laboratório em frente à Marginal Pinheiros. Com o envelope na mão, caminho até o posto de gasolina ao lado. Entro na loja de conveniência, pego uma pequena garrafa de espumante para comemorar. A bebida é doce, vagabunda, mas viro. Depois, vou caminhando até o banheiro do posto. Percebo que, embora já esteja meio bêbada, consigo andar em linha reta. Também percebo que meu dedo dirige-se com precisão até o botão da calça, que meu esfíncter não solta nada que não seja requisitado, que meus olhos seguem a folha de papel higiênico, que minhas narinas decodificam o cheiro de mijos diversos no ar. Sim, eu estou saudável. E, como Zeno, o personagem hipocondríaco do Italo Svevo, provavelmente nunca sofrerei de doença grave, pois minha ansiedade se antecipará ao desenvolvimento de qualquer uma delas. Louca, digo para mim mesma, me olhando no espelho quebrado do banheiro. Mas pelo menos uma louca apaixonada pela vida.
Giovana Madalosso é escritora, jornalista, roteirista e redatora publicitária. É autora de Tudo pode ser roubado (romance) e A teta racional (contos).