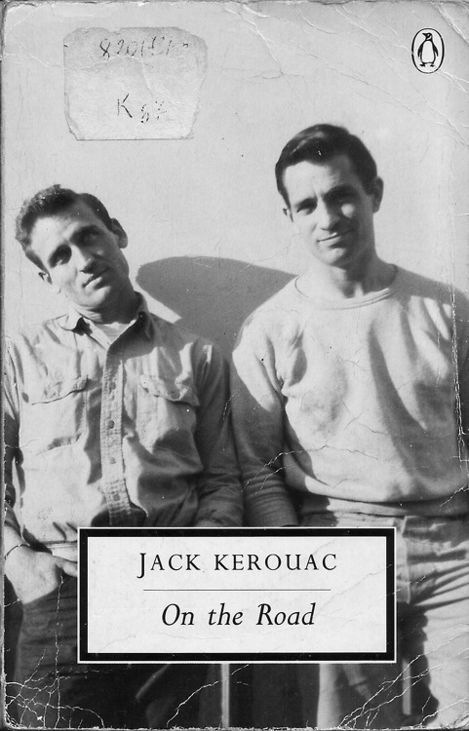Making Of
Com quase 60 anos, On the road segue acelerado
Eduardo Bueno escreve sobre o percurso editorial e literário da obra máxima da contracultura americana, ainda presente no imaginário de novas gerações de leitores
Como na velha piada do brasileiro perdido em Nova York, Jack Kerouac estava parado na esquina da Walk com a Don´t Walk. Era meia-noite do dia 4 de setembro de 1957. Sob a luz baça de um poste, no cruzamento da Broadway com a Rua 66, o jovem escritor, então com 25 anos, folheava avidamente as páginas do The New York Times. Sua busca não se prolongou muito: estampada nas páginas do mais prestigiado jornal norte-americano, estava a resenha do livro que ele acabara de lançar. “On the road é o segundo romance de Jack Kerouac, e sua publicação constitui um evento histórico, na medida em que o surgimento de uma genuína obra de arte concorre para desvendar o espírito de uma época”, dizia o artigo assinado por Gilbert Millstein.
Mais de meio século depois, On the road se mantém no posto ao qual foi alçado: ainda é o romance de uma geração. A questão é que, passados quase 60 anos, tal geração — a beat generation — multiplicou-se em muitas. Influenciados pelo movimento e pelo livro, artistas das mais diversas áreas (cineastas, poetas, escritores, artistas plásticos) seguem, eles próprios, expandindo sua influência e, por consequência, o alcance do livro.
Exatos 30 dias após a publicação de On the road, em 4 de outubro de 1957, num sinal claro de que se iniciavam novos e mais velozes tempos, a União Soviética lançou o satélite Sputnik (“companheiro de viagem”, em russo) — catapultando a Guerra Fria para o espaço sideral. Um repórter americano, de gestos largos e ideias estreitas, decidiu apelidar os beats de “beatniks” — pois, com barbas e cabelos longos, posições contestadoras e comportamento lascivo, Kerouac e sua turma (da qual faziam parte o poeta Allen Ginsberg e o escritor William Burroughs) lhe pareceram tão hostis e desafiadores quanto os comunistas. Meses mais tarde, quando o Exército americano lançou atabalhoadamente seu satélite — e ele explodiu antes de sair da atmosfera —, os beats desfrutaram sua vingança e apelidaram o bólido de “Kaputnick”.
Os beats, portanto, nunca foram “beatniks” — a não ser para aqueles que jamais souberam quem eles de fato eram, de onde vinham e para onde estavam indo. O próprio termo “beat” já era empregado há mais de uma década: desde 1945, Herbert Hunkle, um drogado homossexual que fazia ponto na Times Square e era amigo de Kerouac, usava a palavra para definir um “estado de complexa exaustão”. Inspirado pela expressão — e percebendo que ela encerrava o radical de “beatitude” —, Kerouac serviu-se dela para batizar o movimento em 1948. On the road, o livro que mais exemplarmente definiria aquele grupo e seus propósitos, também já havia sido escrito um bom tempo antes de sua publicação: aditivado por doses colossais de benzedrina, suando uma camiseta atrás da outra enquanto digitava 12 mil palavras por dia, Jack redigira On the road entre 9 e 27 de abril de 1951, num rolo de papel para telex. Acontece que, pelos seis anos seguintes, o original foi vetado por editora após editora.
Os seis anos que se passaram entre a obra original e seu lançamento — durante os quais Kerouac cortou e reescreveu vários trechos do livro — foram bem mais lentos e tortuosos do que os seis anos que se seguiram. Com efeito, entre 1951 e 1957, os Estados Unidos e o mundo se modificaram em escala muito mais comedida do que entre 1957 e 1963. On the Road certamente foi um dos responsáveis pela aceleração da vida, das mentalidades e do comportamento da “juventude”. E, no entanto, desiludido com
os caminhos e descaminhos de sua vida, Kerouac parecia mesmo estar metafórica e melancolicamente atolado na esquina da Walk com a Don´t Walk no instante em que, sob a luz do poste, lia a resenha de Millstein — sacudindo a cabeça “como se não conseguisse compreender porque não estava tão feliz quanto deveria”.
Caminhar (“walk”) Kerouac já havia caminhado, e muito. Ficar parado (“don´t walk”) também — tanto nas meditações budistas quanto na experiência como guarda-florestal, isolado do mundo no topo de uma montanha, como nas vezes em que, chafurdando em fases de pouca inspiração, se desesperava pelo fato de seus livros serem vetados por uma editora após a outra. E a possibilidade de percorrer um eventual caminho do meio dissolveu-se com a fama instantânea. Afinal, conforme as palavras de sua então namorada, Joyce Johnson, “após ler a resenha, Jack foi dormir no anonimato pela última vez: quando o telefone nos despertou na manhã seguinte, ele era famoso”. As coisas realmente nunca mais foram iguais para ele — e, de certo modo, nem para a literatura norte-americana, embora seja forçoso admitir que as mudanças mais profundas provocadas pelo livro não tenham sido literárias, mas comportamentais.
Quatro milhões e 300 mil americanos nasceram em 1957 — o auge do chamado baby boom. Mas o aumento da natalidade havia se iniciado em 1950. Em 1967, quando explodiu o Verão do Amor, milhões de jovens cabeludos, com a cabeça cheia de flores, percorriam as estradas dos EUA (e de vários países do Ocidente) impulsionados pela “prosa espontânea” e pelo fôlego narrativo de On the road.
As contradições, conflitos e dores de parto do clássico de Kerouac foram logo esquecidos e o livro iniciou uma trajetória ascendente que, quase 60 anos depois, o mantém vendendo uma média de cem mil exemplares por ano só nos EUA. O cinquentenário da publicação, em 2007, foi ruidosamente celebrado, com eventos, debates e congressos — além do lançamento de uma edição especial em capa dura. Mas a grande novidade foi a publicação do “original scroll” — o manuscrito do rolo original —, enfim lançado em forma da livro pela Viking Press, em agosto de 2006, e cuja tradução e publicação desembarcaram no Brasil em 2008.
O Brasil, aliás — onde On the road foi lançado só em 1984 —, estreitou de vez seus laços com a obra de Kerouac, pois a tão aguardada adaptação cinematográfica do livro finalmente saiu do papel direto para a tela, graças ao esforço e ao talento do diretor Walter Salles. O cineasta brasileiro, deste modo, tornou-se o último de uma estirpe que já havia agrupado Marlon Brando, Gus Van Sant e Francis Ford Coppola (a quem pertencem os diretos para o cinema) e outros mais, que, em um momento ou outro, pensaram em adaptar para o cinema as aventuras estradeiras de Sal Paradise e Dean Moriarty, e não conseguiram. O filme de Salles é coeso, digno e íntegro. E bem bom, portanto.
Para Kerouac, enterrado em sua amada Lowell natal, nada disso importa, é claro. Barrigudo, borracho, reacionário e amargo, odiando cada hippie e assistindo programas de auditório na TV, aboletado no sofá da casa da mãe, na Flórida, ele morreu em 1969 — o último ano da década que foi definitivamente marcada pela “contracultura” nascida sob o espectro de seu livro. Desde então, o mundo segue seu rumo e, passados mais de meio século do lançamento da “bíblia hippie”, parece continuar numa encruzilhada: não sabe se acelera rumo a um novo e mais libertário milênio ou se segue atolado em um retrocesso medievalista, que propõe guerras religiosas e estimula um suposto “confronto entre civilizações”.
A resposta talvez possa ser encontrada em um dos diálogos de On the Road.
— Vamos, homem, vamos logo — diz o personagem Dean Moriarty.
— Para onde estamos indo, cara? – pergunta o narrador Sal Paradise.
— Não sei, mas chegaremos lá!
Eduardo Bueno é escritor, jornalista, editor e tradutor. Traduziu 22 livros, entre eles On the road / Pé na Estrada, originalmente lançado pela Editora Brasiliense, em fevereiro de 1984, e republicado, com tradução revista, pela L&PM, em abril de 2004. Vive em Porto Alegre (RS).