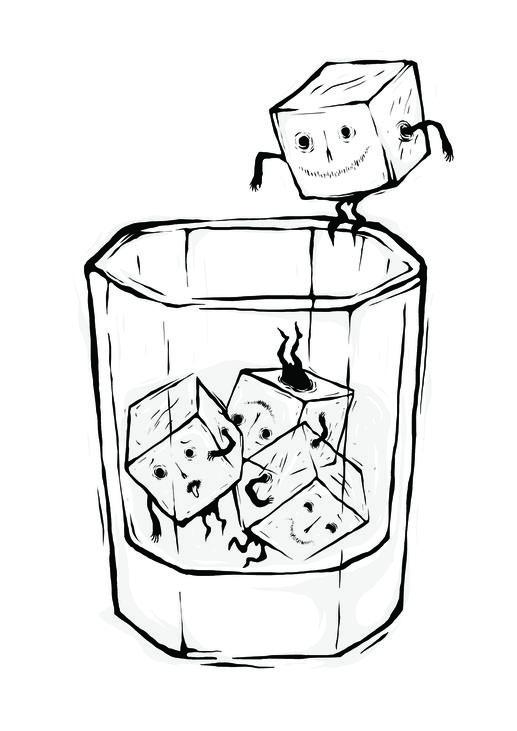Especial Capa: Crônica
Como não escrever crônicas
Matthew Shirts
Diferente da maioria dos cronistas, eu me lembro da primeira que escrevi. Foi em San Francisco, num apartamento do hotel Hilton, próximo ao centro da cidade, no nono andar. Corria o ano de 1994.
Comecei no fim da tarde. Fechei a cortina para me proteger da luz. A entrega estava marcada para o início da tarde do dia seguinte via fax. Sairia publicada no caderno especial da Copa do Mundo do diário O Estado de S.Paulo. Era muita responsa.
Escrevi, escrevi e escrevi mais um pouco. Joguei tudo fora. Escrevi mais e imprimi. Joguei fora. Comecei de novo. Tomei um gole de uísque. Escrevi mais. Joguei fora. Andei pelo quarto. Pedi um hambúrguer. Veio um sanduíche de responsa. Com fritas e uma garrafinha bonitinha de ketchup Heinz. Guardei a garrafa na mala para não me esquecer de levá-la para meus filhos em São Paulo.
Os hambúrgueres comidos em quartos de hotel nos Estados Unidos estão entre os melhores, diga-se de passagem. É um gênero específico do qual só americano entende. Os gringos são especialistas em culinária feita para ser consumida fora da mesa. Fui mastigando com gosto, pensando com força na crônica. Ainda não estava boa. Mas ficaria. Teria que ficar.
Comi os picles e deixei metade das fritas no prato e levei os restos para o corredor do nosso andar. Não alcançaria a concentração necessária com o prato sujo e aquela tampa de metal no quarto. Fui buscar gelo no oitavo andar com o baldinho de plástico fornecido pelo hotel. Voltei. Não esqueci a chave do quarto, graças a Deus (já me acontecera antes). Coloquei o gelo em um copo novo, joguei o uísque por cima, e tomei mais uns bons goles para me inspirar.
Escrevi mais. O primeiro parágrafo estava bom, mas joguei fora o resto, de novo. Comecei a sentir o estômago. Era nervosismo misturado com picles. Será que conseguiria terminar uma crônica que prestasse a tempo? A rigor teria a noite toda. Mas o uísque já batera. Cometi mais algumas linhas sem norte e me entreguei ao desespero.
Comecei a passar mal. Resolvi ir até o banheiro enfiar o dedo na garganta. Seria violento, mas era o jeito. Fiquei de joelhos abraçado na privada. Os resultados eram pífios. Levantei-me e fui até a pia lavar a mão. Voltei a enfiar a mão na boca e aconteceu. Veio um bom pedaço do hambúrguer, misturado com fritas e o cheiro inconfundível de uísque misturado com vômito. Ao menos caíra quase tudo dentro da privada. Dei uma limpada na louça sanitária e, depois, apertei a descarga. Lavei a boca e a mão de novo e voltei para o computador na mesa.
Sentia-me melhor. Consegui escrever mais um parágrafo. Agora vai, pensei. Depois outro. Escrevi mais dois ou três. Estava próximo ao fim. Melhor dormir, resolvi. Estava acabando. Acordaria cedo, bem cedo, e terminaria o texto com a cabeça no lugar. Liguei para a telefonista e pedi uma chamada de despertar para às 5h30.
O pior nessa história toda é que não me faltava assunto. Minha tarefa era escrever sobre a primeira Copa do Mundo a ser realizado logo mais nos Estados Unidos. Sou americano de nascença. Fui criado na Califórnia e fiz meus estudos universitários na região de San Francisco. Especializei-me na história da cultura brasileira, com interesse especial pelo futebol e pelo carnaval e de como se cruzaram ao longo do século XX com a literatura do país. Escrevera e publicara ensaios a esse respeito, em inglês e português, em livros, revistas e até mesmo no próprio Estadão, por vezes comparando a tradição esportiva brasileira com a americana.
Não me faltava assunto, uma das queixas mais frequentes entre cronistas. Não precisei buscar inspiração no próprio umbigo. Mas nunca antes escrevera uma “crônica”. Sabia do que se tratava. Lera muitas crônicas na vida. Era fã do Nelson Rodrigues, entre outros. Mas eu não tinha nenhuma experiência própria no assunto.
Estava ali a convite do diretor de redação do jornal, Aluísio Maranhão, que acatara a sugestão do Maria Prata, este sim, cronista de mão cheia, de legítima origem mineira e tudo. Graças ao meu conhecimento das tradições esportivas do Brasil e dos Estados Unidos, Prata achou que eu deveria ser incluído na equipe de cronistas do Estadão daquela Copa. Entre os colegas de equipe estavam alguns dos mestres do gênero no Brasil, como Luis Fernando Verissimo e João Ubaldo Ribeiro. O outro motivo, mais forte, ainda, é que falo inglês e meu amigo Mario Prata, não. Queria para ele um guia e tradutor. Fomos com o cartunista Paulo Caruso. Passamos nós três um mês glorioso na Califórnia. Mas aí já é outra história.
Provara eu meu valor de escritor em longos ensaios sobre cultura popular no Estadão, onde discuti desde o significado da morte do Ayrton Senna até o valor simbólico do vasilhame retornável de cerveja.
Mas nunca fizera, até aquele dia, nenhuma crônica, como vinha dizendo. Não é que o gênero seja exclusividade dos brasileiros. São eles mestres no assunto, mas não são os únicos. Como descobri ali no quarto do Hilton, é mais difícil do que parece.
No dia seguinte terminei a primeira crônica logo pela manhã, imprimi (1994) e empurrei o texto para debaixo da porta do quarto do colega Mario Prata, ali no nono andar mesmo, para avaliação e eventual aprovação.
Às 10h já havia tomado café e banho quando bateram na porta. Era o Prata. Disse ele sem muito entusiasmo que a crônica estava boa, mas tinha a metade do tamanho mínimo, faltava eu assinar o meu nome, “o nome do autor, né?”, e “beisebol”, frisou o escritor, se escreve com dois “e”s.
E foi-se embora tomar o seu café. Consegui evitar o pânico. Respondi bem à subida da pressão e consegui terminá-la a tempo. Emplacou. E deu certo. As minhas crônicas da Copa fizeram algum sucesso. Fui convidado pelo jornal a ficar. Escreveria crônicas regularmente para O Estado de S. Paulo ao longo dos próximos 17 anos. (99 delas estão reunidas no livro O jeitinho americano, da Editora Realejo).
É exagero afirmar que a crônica tenha sido inventado no Brasil. A esse respeito gosto de citar o escritor e estudioso Humberto Werneck. Foi ele quem resumiu a questão de forma definitiva. Diz o Werneck que, tal como o futebol, a crônica não foi inventado no Brasil, mas aqui se aclimatou bem.
Matthew Shirts é redator-chefe da revista National Geographic Brasil e cronista da revista Veja São Paulo. Vive em São Paulo (SP).
Ilustração: Marciel Conrado