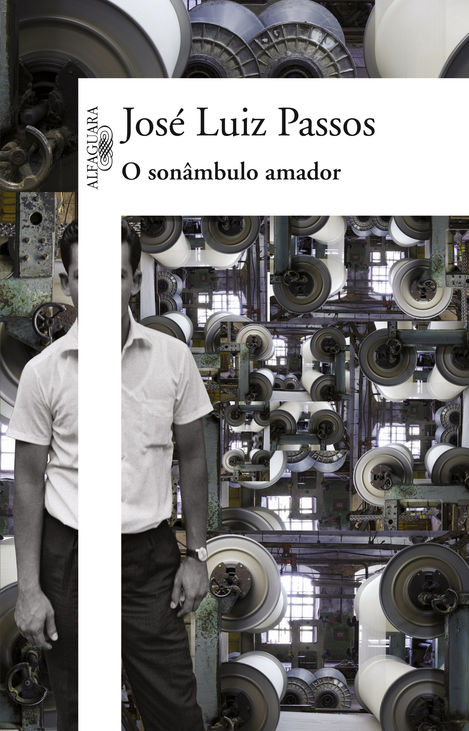Entrevista | José Luiz Passos
"Só publico metade do que escrevo"
Grande vencedor do Prêmio Portugal Telecom 2013 com O sonâmbulo amador, o pernambucano José Luiz Passos investe em uma linguagem apurada e poética para narrar a decadência de seus personagens.
Guilherme Magalhães
Distante do Brasil há quase 20 anos, o pernambucano radicado nos Estados Unidos José Luiz Passos nunca esteve tão presente na vida literária brasileira quanto em 2013. Seu segundo romance, O sonâmbulo amador (2012), venceu o Prêmio Portugal Telecom no final do ano passado e recebeu críticas entusiasmadas. Ainda assim, causou espanto ao levar para Los Angeles, onde mora, um dos principais prêmios literários do Brasil.
Com uma narrativa onírica, O sonâmbulo amador conta a história de Jurandir, operário da indústria têxtil do interior de Pernambuco que é internado em uma clínica psiquiátrica e passa a relatar seus traumas e experiências em cadernos. O cenário é a década de 1960, momento de complexas mudanças de pensamento e comportamento. “Queria contar a história de alguém que testemunha, porém não entende, o espírito de um período de grande transformação nas relações afetivas e políticas”, explica Passos. “Contando a história de um homem prestes a se aposentar no final dos anos 1960, pude explorar a sensibilidade de alguém que pertence, sem se dar conta, a um período de antes da liberação sexual e na iminência do endurecimento da repressão política.”
Desde 1995 residindo fora do Brasil, o pernambucano volta regularmente ao país para participar de eventos literários, oficinas e cursos de pós-graduação — em julho de 2013 foi convidado da 11ª Festa Literária Internacional de Paraty. Além de ficcionista, Passos também escreveu os livros de ensaios Ruínas de linhas puras (1998), sobre o personagem Macunaíma, de Mário de Andrade, e Machado de Assis, o romance com pessoas (2007), que discute a influência de Shakespeare no realismo brasileiro. Este, inclusive, será reeditado em 2014 pela editora Alfaguara com novo título, Romance com pessoas: A imaginação em Machado de Assis. O livro foi ampliado e integra a nova coleção de ensaios literários da editora, inaugurada com O encantador, de Lila Azam Zanganeh, traduzido pelo próprio Passos.
Nesta entrevista, concedida por e-mail, o autor comenta o processo de escrita de O sonâmbulo amador, as técnicas narrativas usadas em seu primeiro romance, Nosso grão mais fino, publicado em 2009, e fala sobre seu trabalho como professor de literatura brasileira da Universidade da Califórnia, em Los Angeles.
Em que medida os diários de seu pai, encontrados num antigo baú, contribuíram para a narrativa de O sonâmbulo amador? Antes desse encontro, você já tinha em mente como seria o romance, e os diários complementaram suas ideias? Ou a partir deles você começou a pensar o romance “do zero”?
Mais ou mesmo quatro anos após a morte do meu pai, decidi abrir uma caixa de metal que ele havia deixado trancada. Lá dentro encontrei várias pastas de arquivo, com folhas datilografadas. Elas continham o registro dos sonhos e da rotina de internação dele numa clínica de auxílio psiquiátrico, fora do Brasil, no início da década de 1960. Eu já havia concluído Nosso grão mais fino e estava buscando editor, enquanto já trabalhava em outro romance. A história que tinha em mente era a de um funcionário que, prestes a se aposentar, mais ou menos muda de lado e faz uma revisão bem a contragosto da vida que havia vivido até ali, dos valores que defendeu e das amizades que cultivou. O arquivo de meu pai me deu uma ideia para organizar a estrutura dessa vida: em cadernos, lançando mão de sonhos como um gatilho para se buscar um novo entendimento de memórias, eventos e figuras do passado. Mas a vida do narrador Jurandir não coincide com a de meu pai; suas biografias são bem diferentes.
Você iniciou O sonâmbulo em 2007, mas o publicou somente em 2012. Nesse meio tempo, seu primeiro romance, Nosso grão mais fino, foi lançado (2009). De que forma isso impactou a escrita do segundo livro?
Como manda a regra, o segundo romance saiu de uma costela do primeiro. Escrevi Nosso grão mais fino entre 1999 e 2006. No final dele, Vicente Campelo, narrador, químico, amante de Ana Corama, adota uma perspectiva mais distanciada e, da sua velhice, rememora os anos de juventude numa usina. Ora, a narrativa se quebrou; o tom de Vicente havia mudado muito em relação àquele que caracterizava a maioria do romance, marcado pelo arroubo da imagem, pela intensidade na adjetivação, pelo lirismo franco e de tom mais alto, com traços eróticos. Guardei a porção final do primeiro romance na esperança de escrever a história de outro desencanto. Daí saiu o segundo romance. A relação entre ambos também passa pelo pano de fundo da decadência agroindustrial: canavieira, no primeiro, e têxtil, no segundo. Mas o principal, a meu ver, são as relações entre os envolvidos. E aqui — nas histórias que Vicente e Jurandir contam — eles diferem muito.
A primeira versão d’O sonâmbulo tinha 510 páginas, depois reduzidas para as 320 entregues à editora. O livro hoje tem 270. O que foi retirado nesse processo de edição e qual a importância desse corte na narrativa final?
Escrevo sempre compactando e condensando o material o máximo possível. Em média, só publico metade do que escrevo. Com o primeiro romance também foi assim. Ficaram de fora de O sonâmbulo amador dezenas de sonhos, personagens que não possuíam papel decisivo para a vida de Jurandir, vários relatórios formais, que ele escrevia para o seu médico, dr. Ênio, além de descrições mais detalhadas do cenário. Isso tudo foi cortado para que o foco permanecesse nos dois ou três traumas principais, nas memórias relevantes, nos motivos recorrentes no plano dos sonhos e em alguns poucos personagens próximos ao narrador. Quero crer que, embora o romance chegue quase a 300 páginas, ele tenha certa concisão de estilo característica da mentalidade de Jurandir: um burocrata menor, minucioso e de costumes conservadores. O efeito que busquei deveria vir, em grande medida, dessa combinação entre apreço pela regra e tentação de quebrá-la — ainda que metódica e suavemente.
O enfermeiro Ramires, personagem d’O sonâmbulo, adiciona certo elemento político ao romance, que se passa durante a ditadura militar. Era uma preocupação sua não deixar de falar sobre essa questão?
Mal ou bem, o Ramires representa para Jurandir uma abertura para se pensar os grandes temas da sua vida a partir de uma utopia coletiva. Na clínica, Jurandir desenvolve novas amizades, e se aproxima de madame Góes e do Ramires; ambos representam atitudes mais ou menos opostas frente às nossas frustrações mais comuns. Suas fórmulas são as do adagiário popular, não raro de extração religiosa, e do interesse na demanda política propriamente formal. Jurandir não se deixa convencer por nenhuma das duas perspectivas, mas aprende, digamos, empaticamente a reconsiderar um dos seus principais tópicos: o da dignidade do trabalho ameaçada pela mistura com as esferas da amizade e da família. Em todo caso, não foi minha intenção escrever um romance sobre a ditadura militar. Mas o pano de fundo me serviu para ressaltar o fato de que Jurandir se debate, interior e exteriormente, com a questão da liberdade.
Em alguns momentos de Nosso grão, você testa uma narrativa cujos pontos de vista, durante os diálogos entre Ana Corama e Vicente, se alternam entre cada um dos dois personagens. Qual a razão para essa escolha?
Nosso grão mais fino é um romance mais difícil, mais poético que O sonâmbulo amador. Tentei desenvolver para o primeiro uma estrutura que me permitisse narrar em duas vozes os mesmos eventos, a partir de diferentes pontos no tempo e no espaço. Adotei a estrutura de uma sonata, na qual um instrumento lança um tema, que é, por sua vez, tomado e desenvolvido em outra direção pelo segundo instrumento. Nos capítulos ímpares Vicente conta sua história a um irmão, Zelino. Nos pares, Vicente e Ana Corama conversam ora juntos ora separados, imaginando-se em encontros nos quais repetem seus temas e voltam a feitos e pessoas do passado. Nosso grão foi escrito sob a influência de Osman Lins e William Faulkner; traço, aliás, apontado — sem que eu tivesse esclarecido a questão — nas resenhas de Ricardo Lísias e Alfredo Monte. É um romance que pede um leitor mais atento e disposto a aceitar o registro elevado dos diálogos entre os dois narradores. No entanto, ele conta uma história relativamente simples. Ana e Vicente sentem pena um do outro, e se consolam reinventando eventos e tabus, que funcionam potencializando o desejo que há entre ambos.
Seus dois romances são ambientados em décadas passadas. O primeiro, por volta dos anos 1940, e transitando por períodos ainda anteriores. O segundo, nos anos 1960. O que lhe atrai nesse distanciamento do tempo da narrativa?
Gosto de trabalhar com uma noção bastante fluida do tempo. E me atrai escrever sobre pessoas, situações e épocas que não sejam próximas a mim. Nessa imaginação da distância está ao mesmo tempo o desafio a ser superado e a promessa de certo entendimento de diferenças radicais, contidas nas barreiras de gênero, geração, ambiente etc. Decidi a época de cada um dos meus romances depois de já ter trabalhado bastante o enredo. Apenas depois busquei uma localização exata no tempo. No caso de O sonâmbulo amador, queria contar a história de alguém que testemunha, porém não entende, o espírito de um período de grande transformação nas relações afetivas e políticas. Contando a história de um homem prestes a se aposentar no final dos anos 1960 pude explorar a sensibilidade de alguém que pertence, sem se dar conta, a um período de antes da liberação sexual e na iminência do endurecimento da repressão política. É nesse intervalo que habita o sonâmbulo Jurandir, sonhando seus momentos de estouro.
No ato da escrita, ser um professor de teoria literária ajuda ou atrapalha?
Quando não atrapalha, até que ajuda. Atrapalha nos instantes em que conceitos, sistemas, clubes de pensamento dominam o que para mim é o mais importante: a sensação de que aquele mundo imaginado independe de meus próprios valores e preferências. É claro que meus livros são frutos de valores e preferências pessoais. Porém, em nenhum momento — espero — a visão de Jurandir sobre a sua região, por exemplo, se confunde com a de Gilberto Freyre; ou sua pugna com a questão da liberdade se parece à de Zizek. Se fosse assim, eu consideraria meu romance fracassado; não me agradam livros nos quais a mão do autor comparece a cada parágrafo, promovendo ideais que são, no limite, exclusivamente do próprio autor, não dos personagens nem do narrador. Quando uma obra se deixa dominar por uma teoria específica, isso acontece com mais frequência. Mas há também os que gostam de ver isso acontecer, e sabem fazer isso muito bem. Não tenho nada contra isso; até admiro. Apenas não é o tipo de literatura que busco escrever. Resta dizer, também, que não sou professor de teoria; ensino literatura brasileira. Passo a maior parte do tempo estudando nossa história literária e ensinando obras de literatura, não de teoria. E mais do que atrapalhar, essas leituras me ajudam bastante.
Pensando no estudo e difusão de nossa literatura no exterior, o escritor brasileiro tem a árdua tarefa de ser o porta-voz de uma cultura muito pouco conhecida de fato lá fora. Como isso interfere, se é que interfere de alguma forma, na sua ficção?
A difusão da nossa literatura nos Estados Unidos é mínima. Com pouquíssimas exceções, ela está restrita à bolha acadêmica. E as exceções mais notáveis até hoje são Paulo Coelho e Jorge Amado. Apenas no segundo caso há um esforço, da parte do escritor, em entender e representar a cultura brasileira: Jorge Amado quis e soube fazer isso muito bem. Quanto a mim: escrevo fora do Brasil, mas publico minha ficção no Brasil. Ela participa das mesmas demandas e dos mesmos horizontes que aquela publicada pelos meus colegas residentes aí. Acho que como professor de Letras sou mais cobrado a representar minha cultura do que como escritor. Talvez essa minha distância, que serve de filtro com relação à vida contemporânea no Brasil, funcione como motor de meu interesse em retratar experiências no plano da memória. E a despeito da quebra com a tradição, tento nos meus romances encontrar pontos de contato com escritores brasileiros que admiro. Mas não saberia dizer se esse é propriamente um sintoma de porta-voz da cultura ou de professor de Letras... Imagino que não. Porém, cabe a outros acusarem isso.