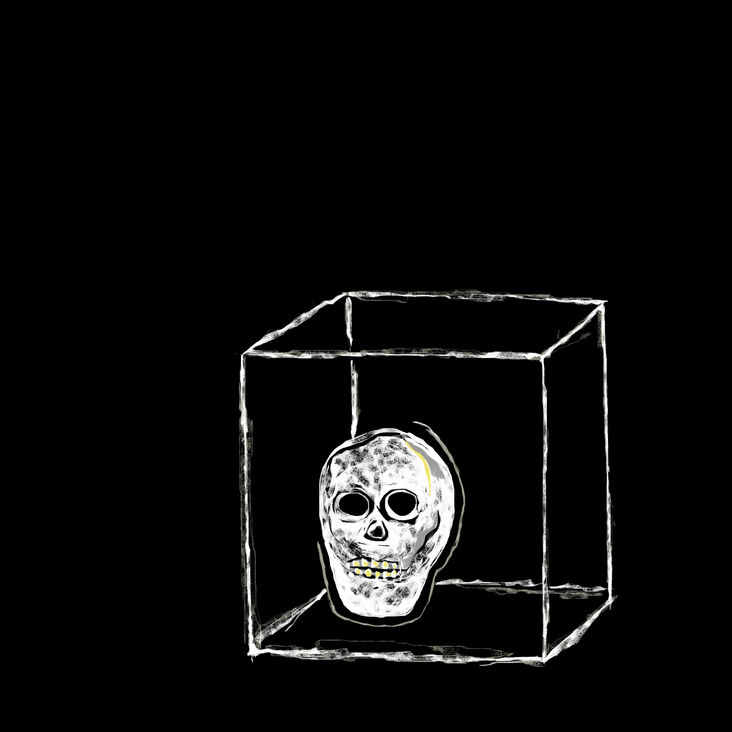Conto | Lisa Alves
O último pensamento de Virginia Woolf
Ilustração: FP Rodrigues
Eram duas da manhã quando morri. A última paisagem discernida foi a lâmpada do quarto piscando. O último pensamento:
Amanhã ligo para o eletricista.
Fui descoberta em estado de decomposição: a natureza já estava preparada para me embalar e digerir. Éramos a casca e seus decompositores em uma autêntica antimetamorfose.
Trinta anos habitando um apartamento amarelo e nebuloso. Presunção e loucura, sussurraria Kandinsky. Eu fantasiava minha morte — imaginava uma carreata percorrendo a cidade com o meu caixão; imaginava canções e lágrimas de pessoas que não existiam mais e depois projetava minha alma saindo da carcaça para vigiar o luto de quem um dia me amou.
Compreendam: os mortos precisam ser ninados; os mortos têm fome de homenagens; os mortos também bebem o próprio defunto em um processo inexplicável de autofagia espiritual.
A morte é diária — são células, cabelos e convicções que como uma parede tombam e se levantam de tempos em tempos. Mas não fomos educados para compreender a finitude: celebramos os que chegam e os que se vão não ganham festa de despedida.
A velhice nos tatua memórias — é um registro de experiências que se não contadas tornam-se arquivos em quarentena à espera de um apagão. À medida que a idade avança as pessoas começam a desaparecer — é assim que funciona. Nossos corpos não são mais hábeis a acompanhar qualquer ritmo apressado e nos vemos presos por uma série de situações que antes não existiam — até então, não éramos velhos.
Envelhecer é uma das maiores galhofas do tempo e quanto mais ele brinca mais poderoso fica e nos faz admitir que apenas ele é capaz de nos curar da presunção. O tempo é um ditoso colírio para a nossa vaidade.
Cinco anos antes da minha morte eu já não caminhava direito — aos poucos me tornei uma inválida medrosa e amarela — um girassol murcho convivendo harmoniosamente com o lodo. Não conseguia criar um final mais digno para a minha história.
Contam que Virginia Woolf recheou os bolsos de pedras e seguiu o caminho profundo das águas no Rio Ouse até parar de respirar. Alfonsina Storni se vestiu de mar para se libertar da terra e nunca mais regressou. Quanto desespero ou carência de sentido elas carregavam? O que as induziu a desejar o fim? Virginia se matou aos cinquenta e nove e Alfonsina aos quarenta e seis — o que prova que o tempo não cura estranhamentos.
Envelhecer também não é nada romântico e com o tempo tudo o que você faz é projetar a própria morte. A ideia de morrer no fundo de alguma coisa me atraía — se tivesse sorte serviria de alimento para os peixes. Contudo eu temia ser resgatada. E se eu tivesse que conviver com as sequelas?
Não há suicídio sereno — antes da tentativa sempre pensamos “e se isso acontecer e se aquilo...”. Na infância presenciei um — na verdade eu não assisti à cena, fiquei atrás do portão enquanto a mulher do vizinho gritava desesperadamente:
O desgraçado se matou!
Ninguém em casa havia mencionado absolutamente nada a respeito de pessoas que se matavam. Eu só conhecia histórias de pessoas que matavam outras pessoas. Nenhuma relacionada aos suicidas. Eu tinha cinco anos e lembro de Tia Conceição cobrir meus olhos. Foi a primeira vez que escutei a palavra suicídio e ela surgiu com o mesmo impacto de quando assisti, mais tarde, a um personagem de um filme se alimentando dos próprios miolos sob efeito de sedativos.
O suicídio do meu vizinho não foi sereno. Fiquei duas semanas sem conseguir dormir. Teria sido menos traumático encarar o corpo dele suspenso do que alimentar anos e anos um quadro falso e multifacetado. Desde o fato passei a notar que nem todo mundo se matava por amor. No mundo real as pessoas geralmente se matavam por desespero, por entrarem em falência ou por não se suportarem mais. Meu vizinho havia se amarrado na fiação elétrica — o homem pendurado na fiação não me despertara nenhum sentimento de pena, longe disso; era um dos poucos daquela cidade que poderia se vangloriar de ter alcançado algum objetivo em vida. Minha mãe repetia diariamente uma história sobre maldições; sobre naquele chão não brotar sonhos; sobre eu sair daquele lugar e tão somente voltar com os pés no chão.
Não volte coberta de fantasias!
Eu nunca mais voltei.
Contam que Sylvia Plath vedou completamente o quarto de seus filhos com panos molhados, deixou leite e pão para não morrerem de fome e depois enfiou a cabeça no interior do forno com o gás ligado. Hemingway depois de sair de uma clínica de tratamento para alcoólatras estourou a própria cabeça com uma espingarda calibre 12. Deleuze, sem poder trabalhar, atirou-se pela janela do seu apartamento em Paris. Ana Cristina Cesar, aos trinta e um anos de idade, também optou pelo ar. Foi do sétimo andar de um apartamento em Copacabana que ela se livrou da guerra contra a depressão:
“Quando eu morrer / Anjos meus, / Fazei-me desaparecer, sumir, evaporar / Desta terra louca”.
Minha morte foi natural — tão natural que os vermes não tiveram nenhum trabalho. Não precisaram nem romper a madeira do caixão. Fui degustada na minha própria cama — só enterraram os restos. Se eu tivesse coragem teria optado pelo mar, pelo ar, pelo gás e pela bala, contudo, o universo teve outros planos — planos de oxidação. Meu enterro foi modesto e breve: um vizinho, duas sobrinhas e o advogado da família.
Morrer não é nada romântico; morrer não produz redenção; morrer não pare fantasmas; morrer não é passagem para céu e inferno — morrer é um apagão infinito e sem definição.
Morri e meu último pensamento nem foi grandioso: Amanhã ligo para o eletricista. Poderia ter partido com a lembrança do meu primeiro mergulho em Bonito ou do carnaval nos morros de Santa Teresa onde experimentei pela primeira vez o lábio de uma mulher. Mas não — fui uma mulher comum; de ofício comum; de velhice comum e as velhas comuns morrem pensando se a padaria vai abrir no domingo ou afirmando pela décima vez que precisam ligar para o eletricista. Maldito eletricista!
Já imaginaram o último pensamento de Virginia Woolf?
LISA ALVES (Araxá, 1981) é autora do livro de poemas Arame Farpado (2018). Faz parte do conselho editorial da revista virtual Mallarmargens, é coeditora do portal cultural espanhol Liberoamerica e resenha livros para a revista portuguesa Incomunidade. Tem versos e contos publicados em 12 antologias lançadas no Brasil, Argentina, Chile e Espanha.