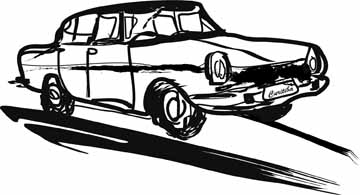Conto | Guido Viaro
Taigué
Não sei. É difícil ordenar as camadas de tempo. Vejo meu avô pintando com um rolo e pincéis o velho automóvel Esplanada 67. Hoje, 30 anos depois, o alaranjado perdeu seu brilho mas ainda está aqui, enxergo na lataria os movimentos irregulares de uma mão que já não existe. Nunca descobri porque numa manhã de domingo ele decidiu cobrir o branco perolado original com essa cor, pintando metal como se fosse parede. Mas talvez seja por essa razão misteriosa que nunca quisemos vender o carro. Uma vez por semana ligo o motor e dou uma volta no quarteirão. Depois volta para a garagem, que também é casa e loja de materiais elétricos. Trinta anos atrás, esse lugar rodeado pelo baixo comércio, pela igreja mais popular da cidade e por um terminal de ônibus que leva trabalhadores da região metropolitana até o centro da cidade, encantava um menino de oito anos que a cada dia descobria detalhes e olhares que coincidiam com seu florescimento, a tampa de uma lata de graxa tinha o tamanho de um homem com câncer na garganta pedindo piedade para a Virgem de Guadalupe. Meus olhos eram como as bocas de lobo em dias de chuva grossa, engoliam o que podiam e depois se lambuzavam com as sobras. A esse material, ainda hoje incessantemente captado, misturam-se o instante em que vivo e as respectivas recordações do que foi percebido.
São seis horas e vinte e oito minutos, faltam cento e vinte segundos para o fechamento da loja, mas não vivo a sequência numérica do relógio, o conflito entre essas duas realidades talvez explique essa dor constante que todos sentem e que parece ser mais democrática que o branco dos olhos. Ao meu lado está esse estranho, treze anos, gordo, óculos de fundo de garrafa, corpo e alma entregues ao videogame. Baixo a porta de ferro e ele permanece do lado de dentro. Como em um afresco encoberto por tinta nova, descubro uma imagem, eu mesmo, vestindo máscara cirúrgica, olhos naufragando, mostrando um bebê para a câmera. Câmera? Esse registro precisa de tecnologia, ou apenas flutua entre o céu da memória e os mares da consciência? Não sei, agora outra camada, abraço uma mulher, a minha, unimos afluentes de lágrimas ao recebermos o diagnóstico do autismo de nosso filho. As ondas levantam o casco do navio, serei ele ou o mar, ou um pouco de tudo, ou ainda o nada inteiro? Dessa vez trago sorrisos que mesmo encobertos por um dia cinzento descobrem maneiras de mostrar o rosto, no cartório informo aos atendentes o nome que escolhi para meu filho: Taigué. Desconfianças, cochichos, até que consigo sair dali com o papel assinado. Não há explicações para a origem do nome, não é a união de dois prefixos nem tem origem étnica. Talvez a cada duas gerações minha família decida pintar um carro de alaranjado, ele é meu Esplanada 67.
O cotidiano acontece dentro desse túnel de excentricidades. Fios, tomadas, disjuntores, notas de vinte, cartões de débito. Apesar de acontecerem coisas diferentes todos os dias, sinto-os, os dias, como milhares de pintinhos amarelos em uma estufa, todos pedindo prioridade com seus piados infantis. Quando criança passei longos períodos trancado no quintal de casa, enquanto meus amigos passeavam com suas bicicletas, por isso criei calos no espírito e a repetição não me afeta tanto. Conheci gente que se matou porque não aguentava mais a falta de novidades. Todos os finais de tarde abro a gaveta da registradora, conto o dinheiro depois somo com o que foi vendido em cartão e chego a uns cento e vinte reais, às vezes cento e oito, às vezes cento e quarenta. Não sinto alegria com números maiores, no começo sentia, depois fui percebendo que a loja é como um paciente de hospital, enquanto não morre, apresenta sempre a mesma tonalidade amarelada de pele e aqueles olhos que pedem piedade sem oferecer nada em troca.
Quando ele vai ao banheiro, o paciente, que é como me sinto agora,portanto sou ele e ele não existe mais, por enquanto, eu descarrego meus intestinos dentro da privada, percebo que meu fluxo de fezes, ou pelo menos o espírito delas, deve entrar pelos canos e encontrar outra pessoa de cu aberto que acabou de evacuar, a alma de minhas fezes invadirá seu intestino e subirá até o cérebro, e essa talvez seja uma das maneiras secretas que ajudam a explicar porque com tanta animosidade no mundo, com o homem encarando todo e qualquer homem como um rival, as guerras e a violência urbana são relativamente pequenas se comparadas com o ódio que o ser humano é capaz de produzir e pôr em prática. Eu recebo através de meu cu, os fluidos de uma pessoa com visão de mundo, crenças,esperanças e sonhos completamente diferentes dos meus. Essa mistura pacifica-nos, tornando-nos mais tolerantes. Os países com maiores taxas de violência são aqueles com menor quantidade de latrinas ligadas em rede.
Faço Taigué evacuar durante pelo menos duas horas por dia, tranco-o, e ele só sai dali com a privada cheia. Fiz com que compreendesse que os fluídos de outros homens vão ajudá-lo na vida, aprenderá a falar melhor, poderá tomar decisões. Taigué sabe que essa invenção é minha e que não pode contar isso para nenhuma professora, professora que me ensinou a olhar para o céu, esvaziar a alma na Via Láctea, eu, treze anos, respiração arfante enquanto desabava sobre mim o peso da noite escura, nas minhas transparências temia ser flagrado pela testemunha eterna, almejava recompensas cravadas de culpas, depois, aos oito anos, quando descobri que as coisas acabam e que pessoas são coisas, e agora, lubrificando a porta pantográfica da loja e sonhando com a concha esvaziada de meus antigos sonhos, derramados sobre uma praia sem ondas.
Um filho retardado, miserável falha da natureza, consequência, seria mais honesto dizer, fruto das podridões somadas, trens sem maquinista viajando em sentidos opostos, a sede pela mistura rubra de ferro com ossos, somando dores para poder chorar com mais olhos. Taigué, o derradeiro inocente, condenado a ser ele mesmo, locomotiva que enferruja no pátio de manobras, olhos esvaziados acusando, pedindo perdões, prontos para rebeber meus afagos e cuspes, rachando-me, para que nunca mais seja o que fui, nem o que sonhei ser.
Agora, o início da vida adulta, viajar pelo mundo, a surpresa saudável das manhãs, o creme de rosas espalhado pelas auréolas de seios, atravessando a dentadas o bife mal passado com cerveja preta, a eternidade cósmica das amizades, a tristeza sem fundo dos primeiros enterrados, o pavio aceso das surpresas, prometendo manchar de cores as tardes cinzentas, plantando na terra das esperanças a semente de Taigué.
Dentro da alegria dos seis anos conheci o amor de um pai de olhos tristes, que sem dizer nada escondia em uma das mãos uma bala azedinha e me fazia escolher, eu sempre ganhava, mesmo se encostasse na mão errada. Ali nasceu o desejo de levar aquela tristeza adiante, quando fiz catorze percebi que ela também pesava dentro dos olhos de meu avô, e que essa corrente deveria se estender na direção do passado remoto e do futuro incerto, eu era apenas mais um nó de aço, e minha missão genética seria gerar um bebê, que abandonando o ventre, espalharia desilusão através de seus olhos condenados.
Vi na televisão as imagens do telescópio Hubble, galáxias parecidas com pérolas coloridas desfilam suas eternidades em uma trama que antes de ser matemática é harmonia. A reportagem falava da grandeza das distâncias, para mim incompreensíveis, havia camadas de galáxias mais próximas e claras, quanto mais escuras maior a distância, esses pontos negros estavam nos limites de um universo que pode ser eterno. O tempo é um detalhe sem importância quando não há pontos de referência para atestar sua passagem, nas estrelas distantes o tempo vai resultar na explosão de uma supernova, quanto mais perto de nós maior é seu peso, ele nos sopra no rosto,desenha a lentidão de nossos passos e o ritmo sereno dos ciprestes de cemitério.
Depois de ver a reportagem tive um insight, não é apenas a corrente familiar que me une com antepassados e com os que nem nasceram. Tudo o que existe precisa unir-se com estruturas maiores, das abelhas aos suspiros de amor, do orvalho à memória do mundo, nesse entrelaçamento cósmico, repleto de cinzas civilizatórias, encontrarei meu filho e a sombra de sua sabedoria, e terei orgulho do que hoje me envergonha.
Às vezes, tenho medo que alguém perceba, mais eu saio do ar, fico três horas olhando para um ponto fixo, uma parede, uma lata de lixo, durante esse período nenhuma ideia atravessa minha cabeça, sou um corpo e mais nada. Nesses dias nada de futuro, distante, a tecnologia não quer nos ajudar. Sou eu que tenho de descobrir uma maneira de amá-lo, de expulsá-lo. O Esplanada 67. Podia propor um passeio, longe, uns duzentos quilômetros, fingir que o pneu furou, pedir para que ele descesse, abandoná-lo, eu não teria remorsos, mas o que diria à mãe, e à polícia, o mundo é todo filmado, e se ele por conta própria reaparecesse, o que lhe diria? Você é um deficiente, se eu ficar com você terei de te dedicar todas minhas energias. E é justamente o que não quero. Não vejo sentido em sacrificar uma vida saudável em função de outra que não tem a menor perspectiva de melhora. Ele então, me olharia com aqueles olhos mergulhados no amor e no retardo, e aceitaria minha desculpa darwinista. Talvez a única fuga possível seja um tiro no peito, no meu.
Ele completa trinta e quatro anos, é um velho repleto de vibrantes oportunidades para novas doenças, tem o coração de um homem de oitenta e os pulmões de um menino de seis, o sorriso é o mesmo da infância, mas a pele ganhou vincos e perdeu cores, e sobre o rosto, como se fosse a projeção de si mesmo, parece haver narizes e bocas, que desencontram-se de suas matrizes e constroem um rosto paralelo, que confunde as certezas de quem enxerga e só voltam a coincidir quando encontram os pesados óculos afundados em olheiras escuras. Esse rosto paralelo, sinto, prevejo, ou desejo, do qual nunca consigo enxergar os olhos, é a vontade que a morte tem de engolir meu filho. Deseja tão ardentemente que projeta em uma nuvem seca réstias de suas vontades. E ela, a morte, é tão virulenta, que talvez não tenha paciência de esperar mais vinte e um anos para lamber o prato de comida abandonado.
Eu, um homem de sessenta anos, me olho no espelho e encontro-me, trinta e oito anos de idade, ansiedade espalhada por toda figura, desilusão perfurando músculos ainda vigorosos, e sobre eles mantos coloridos por uma esperança que busca, até agora em vão, construir um verso onde a rima, repleta de sonoridade e sentido, aconteça com Taigué.
Guido Viaro é escritor e cineasta, autor de mais de dez livros, entre eles O livro do medo, No zoológico de Berlim e Confissões da condessa Beatriz de Dia. Vive em Curitiba (PR).
São seis horas e vinte e oito minutos, faltam cento e vinte segundos para o fechamento da loja, mas não vivo a sequência numérica do relógio, o conflito entre essas duas realidades talvez explique essa dor constante que todos sentem e que parece ser mais democrática que o branco dos olhos. Ao meu lado está esse estranho, treze anos, gordo, óculos de fundo de garrafa, corpo e alma entregues ao videogame. Baixo a porta de ferro e ele permanece do lado de dentro. Como em um afresco encoberto por tinta nova, descubro uma imagem, eu mesmo, vestindo máscara cirúrgica, olhos naufragando, mostrando um bebê para a câmera. Câmera? Esse registro precisa de tecnologia, ou apenas flutua entre o céu da memória e os mares da consciência? Não sei, agora outra camada, abraço uma mulher, a minha, unimos afluentes de lágrimas ao recebermos o diagnóstico do autismo de nosso filho. As ondas levantam o casco do navio, serei ele ou o mar, ou um pouco de tudo, ou ainda o nada inteiro? Dessa vez trago sorrisos que mesmo encobertos por um dia cinzento descobrem maneiras de mostrar o rosto, no cartório informo aos atendentes o nome que escolhi para meu filho: Taigué. Desconfianças, cochichos, até que consigo sair dali com o papel assinado. Não há explicações para a origem do nome, não é a união de dois prefixos nem tem origem étnica. Talvez a cada duas gerações minha família decida pintar um carro de alaranjado, ele é meu Esplanada 67.
O cotidiano acontece dentro desse túnel de excentricidades. Fios, tomadas, disjuntores, notas de vinte, cartões de débito. Apesar de acontecerem coisas diferentes todos os dias, sinto-os, os dias, como milhares de pintinhos amarelos em uma estufa, todos pedindo prioridade com seus piados infantis. Quando criança passei longos períodos trancado no quintal de casa, enquanto meus amigos passeavam com suas bicicletas, por isso criei calos no espírito e a repetição não me afeta tanto. Conheci gente que se matou porque não aguentava mais a falta de novidades. Todos os finais de tarde abro a gaveta da registradora, conto o dinheiro depois somo com o que foi vendido em cartão e chego a uns cento e vinte reais, às vezes cento e oito, às vezes cento e quarenta. Não sinto alegria com números maiores, no começo sentia, depois fui percebendo que a loja é como um paciente de hospital, enquanto não morre, apresenta sempre a mesma tonalidade amarelada de pele e aqueles olhos que pedem piedade sem oferecer nada em troca.
Quando ele vai ao banheiro, o paciente, que é como me sinto agora,portanto sou ele e ele não existe mais, por enquanto, eu descarrego meus intestinos dentro da privada, percebo que meu fluxo de fezes, ou pelo menos o espírito delas, deve entrar pelos canos e encontrar outra pessoa de cu aberto que acabou de evacuar, a alma de minhas fezes invadirá seu intestino e subirá até o cérebro, e essa talvez seja uma das maneiras secretas que ajudam a explicar porque com tanta animosidade no mundo, com o homem encarando todo e qualquer homem como um rival, as guerras e a violência urbana são relativamente pequenas se comparadas com o ódio que o ser humano é capaz de produzir e pôr em prática. Eu recebo através de meu cu, os fluidos de uma pessoa com visão de mundo, crenças,esperanças e sonhos completamente diferentes dos meus. Essa mistura pacifica-nos, tornando-nos mais tolerantes. Os países com maiores taxas de violência são aqueles com menor quantidade de latrinas ligadas em rede.
Faço Taigué evacuar durante pelo menos duas horas por dia, tranco-o, e ele só sai dali com a privada cheia. Fiz com que compreendesse que os fluídos de outros homens vão ajudá-lo na vida, aprenderá a falar melhor, poderá tomar decisões. Taigué sabe que essa invenção é minha e que não pode contar isso para nenhuma professora, professora que me ensinou a olhar para o céu, esvaziar a alma na Via Láctea, eu, treze anos, respiração arfante enquanto desabava sobre mim o peso da noite escura, nas minhas transparências temia ser flagrado pela testemunha eterna, almejava recompensas cravadas de culpas, depois, aos oito anos, quando descobri que as coisas acabam e que pessoas são coisas, e agora, lubrificando a porta pantográfica da loja e sonhando com a concha esvaziada de meus antigos sonhos, derramados sobre uma praia sem ondas.
Um filho retardado, miserável falha da natureza, consequência, seria mais honesto dizer, fruto das podridões somadas, trens sem maquinista viajando em sentidos opostos, a sede pela mistura rubra de ferro com ossos, somando dores para poder chorar com mais olhos. Taigué, o derradeiro inocente, condenado a ser ele mesmo, locomotiva que enferruja no pátio de manobras, olhos esvaziados acusando, pedindo perdões, prontos para rebeber meus afagos e cuspes, rachando-me, para que nunca mais seja o que fui, nem o que sonhei ser.
Agora, o início da vida adulta, viajar pelo mundo, a surpresa saudável das manhãs, o creme de rosas espalhado pelas auréolas de seios, atravessando a dentadas o bife mal passado com cerveja preta, a eternidade cósmica das amizades, a tristeza sem fundo dos primeiros enterrados, o pavio aceso das surpresas, prometendo manchar de cores as tardes cinzentas, plantando na terra das esperanças a semente de Taigué.
Dentro da alegria dos seis anos conheci o amor de um pai de olhos tristes, que sem dizer nada escondia em uma das mãos uma bala azedinha e me fazia escolher, eu sempre ganhava, mesmo se encostasse na mão errada. Ali nasceu o desejo de levar aquela tristeza adiante, quando fiz catorze percebi que ela também pesava dentro dos olhos de meu avô, e que essa corrente deveria se estender na direção do passado remoto e do futuro incerto, eu era apenas mais um nó de aço, e minha missão genética seria gerar um bebê, que abandonando o ventre, espalharia desilusão através de seus olhos condenados.
Vi na televisão as imagens do telescópio Hubble, galáxias parecidas com pérolas coloridas desfilam suas eternidades em uma trama que antes de ser matemática é harmonia. A reportagem falava da grandeza das distâncias, para mim incompreensíveis, havia camadas de galáxias mais próximas e claras, quanto mais escuras maior a distância, esses pontos negros estavam nos limites de um universo que pode ser eterno. O tempo é um detalhe sem importância quando não há pontos de referência para atestar sua passagem, nas estrelas distantes o tempo vai resultar na explosão de uma supernova, quanto mais perto de nós maior é seu peso, ele nos sopra no rosto,desenha a lentidão de nossos passos e o ritmo sereno dos ciprestes de cemitério.
Depois de ver a reportagem tive um insight, não é apenas a corrente familiar que me une com antepassados e com os que nem nasceram. Tudo o que existe precisa unir-se com estruturas maiores, das abelhas aos suspiros de amor, do orvalho à memória do mundo, nesse entrelaçamento cósmico, repleto de cinzas civilizatórias, encontrarei meu filho e a sombra de sua sabedoria, e terei orgulho do que hoje me envergonha.
Às vezes, tenho medo que alguém perceba, mais eu saio do ar, fico três horas olhando para um ponto fixo, uma parede, uma lata de lixo, durante esse período nenhuma ideia atravessa minha cabeça, sou um corpo e mais nada. Nesses dias nada de futuro, distante, a tecnologia não quer nos ajudar. Sou eu que tenho de descobrir uma maneira de amá-lo, de expulsá-lo. O Esplanada 67. Podia propor um passeio, longe, uns duzentos quilômetros, fingir que o pneu furou, pedir para que ele descesse, abandoná-lo, eu não teria remorsos, mas o que diria à mãe, e à polícia, o mundo é todo filmado, e se ele por conta própria reaparecesse, o que lhe diria? Você é um deficiente, se eu ficar com você terei de te dedicar todas minhas energias. E é justamente o que não quero. Não vejo sentido em sacrificar uma vida saudável em função de outra que não tem a menor perspectiva de melhora. Ele então, me olharia com aqueles olhos mergulhados no amor e no retardo, e aceitaria minha desculpa darwinista. Talvez a única fuga possível seja um tiro no peito, no meu.
Ele completa trinta e quatro anos, é um velho repleto de vibrantes oportunidades para novas doenças, tem o coração de um homem de oitenta e os pulmões de um menino de seis, o sorriso é o mesmo da infância, mas a pele ganhou vincos e perdeu cores, e sobre o rosto, como se fosse a projeção de si mesmo, parece haver narizes e bocas, que desencontram-se de suas matrizes e constroem um rosto paralelo, que confunde as certezas de quem enxerga e só voltam a coincidir quando encontram os pesados óculos afundados em olheiras escuras. Esse rosto paralelo, sinto, prevejo, ou desejo, do qual nunca consigo enxergar os olhos, é a vontade que a morte tem de engolir meu filho. Deseja tão ardentemente que projeta em uma nuvem seca réstias de suas vontades. E ela, a morte, é tão virulenta, que talvez não tenha paciência de esperar mais vinte e um anos para lamber o prato de comida abandonado.
Eu, um homem de sessenta anos, me olho no espelho e encontro-me, trinta e oito anos de idade, ansiedade espalhada por toda figura, desilusão perfurando músculos ainda vigorosos, e sobre eles mantos coloridos por uma esperança que busca, até agora em vão, construir um verso onde a rima, repleta de sonoridade e sentido, aconteça com Taigué.
Guido Viaro é escritor e cineasta, autor de mais de dez livros, entre eles O livro do medo, No zoológico de Berlim e Confissões da condessa Beatriz de Dia. Vive em Curitiba (PR).