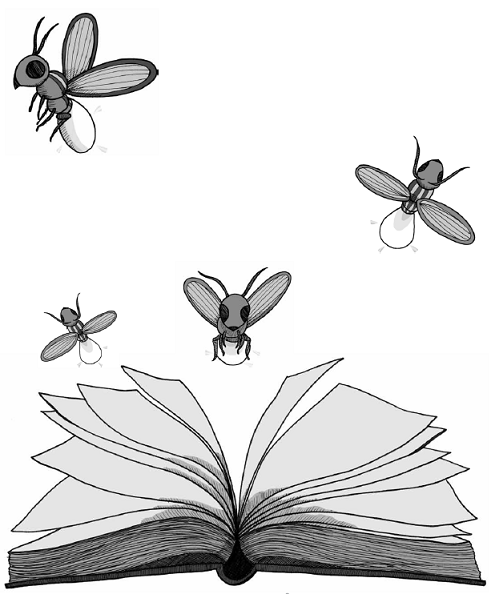Conto | Deonísio da Silva
O dia em que um menino descobriu que o mundo era feito de palavras
Em nome daquele Deus em que vocês, leitores, e eu, autor, acreditamos, que é mais paciente com os maus do que com os néscios, porque estes o ofendem reiteradamente e sempre com mais gravidade, por serem incapazes de admirar a obra do Criador, e que só pioram porque com o passar da idade vão perdendo as poucas qualidades que têm, uma vez que a idade não melhora nada, como reconheceu um dia Simone de Beauvoir, que, casada com quem era, só podia achar isso mesmo.
Tenho dificuldade de entender os ateus e os bobos. Eles não veem centelha divina alguma em figuras como Michelângelo, Beethoven, Fernando Pessoa, Machado de Assis ou num quadro de artista que diz mais do que podemos expressar.
Sei que é difícil definir certas coisas, é complicado designar tudo o que vemos, ouvimos e o que porventura brota no calor da hora, sem que saibamos como denominar. Mas, ao mesmo tempo, sei que algumas religiões têm centenas de palavras para identificar a Deus. Os árabes têm 499 nomes diferentes para esta divindade que adoramos, e seus primos, os judeus, têm apenas uma meia dúzia: Emmanuel, Adonai, Jeová, Eloim etc.
Meu nome é este pelo qual vocês me conhecem. Também não tenho um nome apenas, ainda que alguns deles sejam caracterizados como apelidos. Quem é o verdadeiro ser que se oculta sob um nome? No meu caso, depende, pois é certo que sempre procuro ser o ser pelo qual me identificam. E assim meu nome fica sendo como o do Outro — que Deus me perdoe — Legião!
Dizem que eu nasci em Siderópolis, designada por palavra composta de étimos latino e grego, ainda que tenha sido fundada por italianos desanimados com a terra natal, que para cá emigraram.
E por que eu não posso atestar que nasci em Siderópolis? Simples. Porque eu não sei se estava lá...Claro que pessoas de confiança me contaram que eu estava, como minha mãe e me pai, mas para isso é preciso ter fé.
Por exemplo: meu pai não estava em casa. Ao chegar do trabalho, eu já tinha nascido. O testemunho de minha mãe é mais confiável. De todo modo, sempre lembro o que disse o filósofo Bertrand Russel, que, viajando num trem que atravessava um grande campo, onde ovelhas pastavam, respondeu a um rapaz que chamou a atenção do cientista para ele admirar também o quanto aquelas ovelhas eram lanhudas: “Pelo menos do lado de cá”. O homem só acreditava no que podia comprovar, ao contrário de mim, que acredito em tantas coisas, até mesmo que minha mãe não se enganou ao dizer que eu nasci em Siderópolis. E, mais do que isso, que nasci dela! É que, podem rir de mim, acredito também em dicionários!
Vejam, leitores, pensem comigo sobre este fato transcendental. Você é chamado das misteriosas brumas do não-ser para o ser, sem que jamais entenda quais os desígnios secretos que levaram uma força desconhecida a que chamamos Deus a te puxar lá daquelas profundezas. E por que em 1948? E por que em Siderópolis? E por que aqueles pais, com aqueles irmãos, aqueles vizinhos, aquelas companhias, aquelas dificuldades etc.? Ninguém sabe!
Bem, depois que nasci, já crescidinho, me deram por mudo. Pois eu demorava a falar. Passou-se mais um tempo, porém, e eu desandei a falar com uma desenvoltura impressionante. Ganhei logo o apelido de maritaca. Meu pai, operário qualificado e muito querido pelos engenheiros da Companhia Siderúrgica Nacional, por sua enorme criatividade, conversava de igual para igual com eles, sem demonstrar submissão e fazendo questão de proclamar o quanto os admirava.
Compareci a alguns destes encontros. Eles jogavam sinuca. Meu pai ficava sentado no bar, apenas observando desanimado, sem entender o encanto que poderia ter aquele jogo. Ele não tinha admiração por jogo nenhum.
Com o tempo, participando das conversas de meu pai com os engenheiros, e também com os seus colegas de trabalho, passei a dominar outro tipo de jogo: o jogo das palavras. Tornei-me menino habilidoso na arte de entreter os adultos com respostas inesperadas, que entretanto eu as dava sem sequer imaginar que fossem inesperadas. Dava as respostas que me vinham à mente, sem indecisão alguma.
Eu falava de formigas, de abelhas, de pulgas, de insetos, de cachorros, de gatos, de bois, de passarinhos, de porcos, do meu tio, das minhas tias, enfim destas outras vidas que nos rodeiam desde a mais tenra idade.
Os engenheiros falavam de grandes cidades, mas eu só conhecia Siderópolis. Na verdade, conhecia melhor a localidade de Rio Fiorita, em cujas margens brincava com outros de minha idade.
Aos quatro anos, um dos engenheiros, que era bagdali, isto é, nascido em Bagdá, disse de mim: “Este menino, se tivesse nascido na minha terra, seria califa, vizir, paxá, não seria poleá.” “Mas por quê?”, perguntou meu pai. E meu avô italiano, que tinha lido Dante Alighieri no original e era desbocado em tudo, ao contrário de meu pai, sempre delicado no modo de falar, perguntou: “Mas que fez o menino para merecer tamanho desprezo de vocês?”.
O engenheiro de ascendência árabe ficou perplexo: “O senhor acha que califa, vizir, paxá e poleá são maus destinos? Poleá, sim, mas os outros três, não”. “Acho”, disse meu avô. “E por quê?” “Porque eu não sei o que são”. “O que são?” “É. O que significam?”. Foi quando tocou a campainha para voltarem ao serviço.
À noite, e eu tinha quatro anos, meu pai e meu avô foram à casa do padre para perguntar o que era califa, vizir, paxá e poleá. E me levaram junto com eles. Eu já era conhecido por lidar bem com as palavras, inclusive com aquelas que tinha às vezes aprendido na véspera do dia em que perguntavam. Vovó falou: “memória prodigiosa”. Eu não sabia o que era prodigiosa. Memória, eu sabia. Era recordação, mais ou menos. Prodigiosa, aprendi, vinha de prodígio. Prodígio era o que fazia um malabarista: jogava cinco pedaços de pau para cima e não deixava nenhum deles cair no chão, e por fim pegava todos com as duas mãos e ia começar aquele jogo em outro lugar, para outras pessoas.
O padre era gordo, parrudo e vermelho. Estava tomando um copo de vinho e olhava guloso para a empregada da casa canônica. Quer dizer, meu pai achou que não, mas meu avô era muito sem-vergonha e disse que sim. Eu ainda não podia achar nada daquilo.
“Também não sei, vamos procurar no dicionário”, disse o padre. Enquanto se dirigia à estante, foi explicando. “Este dicionário, o primeiro do Brasil, foi obra de um padre, o padre Rafael Bluteau. Ele era tão puro de coração e tão bondoso que se recusou a registrar a palavra caga-lume. Preferiu pirilampo, tocha de fogo, como as partes usadas do grego para compor a nova palavra deixam claro que seja o significado. Mas o editor não aceitou, por ser palavra de uso muito raro. E queria manter cagalume, nesta época escrito sem hífen. Onde já se viu dar um nome obsceno a uma criaturinha de Deus que brilha na escuridão, piscando, piscando, piscando? Cagalume, onde já se viu? Mas enfim o padre Bluteau era esperto e escreveu vaga-lume, e o editor aceitou. E o povo logo trocou cagalume por vagalume, quase sem querer, pois eram parecidas, e dali por diante todo mundo achou que se alguém falasse cagalume é porque tinha se enganado. E a palavra cujo significado vocês queriam, qual é, mesmo?”. “Califa”, disse meu avô, a primeira que não sabemos é “califa”. “Ah, sim, vamos ver como está escrita aqui no dicionário. Porque deve ser com y e ph.”
Ilustrações Bianca Franco
Pigarreou um pouco, deu uma tragada, agora vimos que o cigarro de palha estava quase apagado na mão dele, e disse: “Está aqui: calypha. Escrita como eu disse. É uma autoridade religiosa e temporal. O mandão dos muçulmanos, tal como o Papa é para nós. E quais são as outras?”. “Vizir, poleá e paxá”, disse meu pai.
O padre explicou que tinha de consultar de trás pra frente. “Não sei se vocês sabem, nos dicionários primeiro vamos procurar paxá, depois poleá e por fim vizir. É a ordem natural das coisas, também chamada de ordem alfabética, a mais justa que se conhece”.
“Vamos, então, a paxá, depois a poleá e por fim a vizir”, disse o padre. “Vejamos aqui”, e ele começou a folhear adiante: “Paxá é quem tem em excesso aquilo que tanta falta faz a nós, celibatários: mulheres. Paxá é quem tem muitas e tem um alto cargo no império otomano para poder sustentá-las, que uma mulher só já dá muitas despesas, imagine muitas!”.
Tirou os óculos e olhou para meu pai e para meu avô, uma vez que ele achava que eu não estava ouvindo nada: “Poleá não é do árabe, é do malaio, e quer dizer plebeu, vagabundo, estes significados pejorativos, afinal não se vai querer que os lexicógrafos falem bem da plebe, né?. Qual é a última?”. “Vizir”, disse meu pai. “Ah, sim, já notaram que estas duas, paxá e poleá, eu tirei das minhas anotações, pois o padre Raphael Bluteau não os acolheu em seu dicionário.”
O padre não parava de coçar o rosto e a cabeça, continuou bisbilhotando o dicionário e disse por fim: “Vizir quer dizer governador entre os árabes; algo como o nosso Irineu Bornhausen”.
Era abril de 1953. Não sei quando eu nasci exatamente, mas neste dia eu nasci para as letras, ao descobrir que todas as palavras que eu desconhecia estavam sepultadas num livro grosso, que era como uma pessoa mais velha, muito mais velha do que meu avô, a quem a gente recorria em busca do que não sabia.
E silenciosamente o dicionário revelava o que procurávamos, tirando de cada jazigo daquele imenso cemitério a palavra que deveria viver de novo, nem que fosse por breves momentos. Eram pequenas ressurreições e brilhava em cada uma delas a centelha divina, pois quem, a não ser uma mente superior e generosa, poderia ter o projeto de guardar deste modo o saber para quando dele a gente precisasse?
Deonísio da Silva é escritor e doutor em Letras pela Universidade de São Paulo (USP). Autor de 34 livros, em vários gêneros, como romance, conto e ensaio. Seus trabalhos mais recentes são o romance Lotte & Zweig e o livro de etimologia De onde vêm as palavras. Deonísio vive no Rio de Janeiro (RJ).